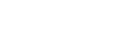O que poderia dar aos trabalhadores mais coragem e fé em sua própria força que uma paralisação do trabalho em massa, que eles mesmos decidiram? O que poderia dar mais coragem para os eternos escravos das fábricas e oficinas do que a reunião de suas próprias tropas? (LUXEMBURGO, 1894).
Por Renato Assad
O 1° de maio, único feriado internacional dos trabalhadores e das trabalhadoras, marca, em menor e maior grau ao longo do curso da história, a luta da classe trabalhadora contra a burguesia mundial e a dominação de classe, uma expressão anual de determinadas exigências dos trabalhadores. Nas palavras de Rosa Luxemburgo, em uma época em que as jornadas de trabalho atingiam 18 horas diárias em alguns países e diante do prólogo do que viria a se formar como capitalismo monopolista financeiro (imperialismo), seria uma “feliz ideia de usar a celebração de um feriado proletário como um meio para alcançar a jornada de trabalho de oito horas diárias” (LUXEMBURGO, 1894).
Em 1891, em seu Congresso em Bruxelas, a II Internacional Socialista aprovou que essa data marcaria anualmente a luta internacional dos trabalhadores pela jornada de 8 horas. O dia em questão não foi escolhido de maneira aleatória, muito pelo contrário: a data marca um dos mais importantes eventos da história do movimento operário, quando cerca de 340.000 operários estadunidenses decretaram uma poderosa greve geral, no ano de 1886, que seria brutalmente reprimida pelas forças repressoras do Estado – “o guardião da desigualdade” (TROTSKY, 1936) – a mando dos capitalistas.
As principais lideranças desse movimento e da histórica greve iniciada no 1º de maio de 1886, que ficaram conhecidas como os mártires de Chicago, foram condenadas à prisão perpétua ou à morte como castigo pela mobilização independente dos trabalhadores. Esse fato serve como expressão pedagógica do caráter de classe do Estado como produto direto de um antagonismo inconciliável das classes: “ao mesmo tempo em que assume a forma ‘democrática’ para a classe dominante, para a classe dominada o conteúdo é da ditadura de classe” (GONÇALVES, 2017, p. 268) e, também, do enquadramento exclusivamente reacionário que as classes dominantes assumiam ao final do século XIX, fechando um período de reformas (um período kautskiano)[1] e abrindo o de crises, guerras e revoluções. Como produto dessa potente mobilização que fez ferver o movimento operário em todo o planeta por melhores condições de trabalho, a burguesia internacional foi obrigada a reconhecer e conceder a reivindicação pelo limite de 8 horas diárias e 48 horas semanais de trabalho na primeira Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 1919 – uma vitória categórica das massas trabalhadoras exploradas.
De lá para cá, o 1° de maio foi celebrado, cooptado, censurado e reprimido diante das diferentes etapas históricas do capitalismo e da luta de classes. No Brasil, a primeira celebração ocorreu em 1917 e serviu como alavanca para a poderosa e vitoriosa greve geral de operários, comerciantes e trabalhadores rurais que, paralisando praticamente toda a produção da cidade de São Paulo, com uma adesão de cerca de 50 mil operários (10% da população paulistana na época), conseguiram conquistar melhores condições de trabalho, como o fim da exploração da mão de obra infantil, a redução da jornada de trabalho, o aumento salarial etc.[2]
Mas o que vimos no Brasil no último Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, em 2023, foi qualquer coisa menos a reivindicação da tradição do movimento operário. Reunindo no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, representantes do governo Lula-Alckmin, da esquerda da ordem, centrais sindicais burocráticas e pelegas (o sindicalismo amarelo, de posição conciliatória) e partidos burgueses, a burocracia transformou essa data tão importante e necessária à nossa classe em um ato de celebração da normalização do regime político burguês e, portanto, da garantia da exploração e opressão aos trabalhadores, subordinando-a aos interesses dos exploradores.
A presença no palco e o patrocínio do evento por parte de um setor do empresariado nacional é o que mais nos chamou a atenção e deu origem a esta reflexão sobre o 1° de maio: os representantes do iFood, empresa que é hoje uma das maiores responsáveis pela precarização em massa do trabalho no país. E ali, lado a lado com o presidente Lula e o ministro do trabalho Marinho, com as direções sindicais e lideranças partidárias da burguesia e da esquerda da ordem, como PSOL, PDT, PCdoB e Rede, estavam os representantes dessa empresa símbolo das novas formas de exploração voraz do trabalho no Brasil.
Em outro ponto da cidade, na Praça da Sé, lugar que tem imensa tradição de luta operária em São Paulo, foi realizado o tradicional ato do Primeiro de Maio classista. Um ato em menor número de pessoas, mas que manteve de pé a tradição e o princípio inegociável da independência de classe, princípio tão caro ao movimento dos trabalhadores e trabalhadoras constituído a partir da experiência histórica da organização e mobilização da classe trabalhadora. Um ato em que não estavam presentes representantes de nenhum setor patronal, muito menos das plataformas digitais, mas, sim, representantes dos trabalhadores fabris, de funcionários públicos, estudantes, sem-terras e sem-tetos. Em particular, de representantes da base dos entregadores por aplicativo – parte fundamental da nova classe trabalhadora que faz as suas primeiras experiências na luta contra os patrões exploradores das plataformas digitais e que vai, através dessa experiência, formando e forjando a sua consciência e identidade de classe.
Nesse mesmo dia, como manobra típica de governos de natureza conciliatória, que expressam uma dose menor do veneno capitalista em relação à extrema-direita, Lula e seu ministro do trabalho, Luiz Marinho, decretaram a criação de um grupo de trabalho (GT) para a construção de uma proposta de regulamentação do trabalho de entregas por aplicativos no país. A composição desse GT é uma tremenda ferramenta didática para expor a própria natureza liberal-social do atual governo: uma tripartite de 45 cadeiras para o governo, centrais sindicais e empresas de aplicativos (iFood, Uber, 99, Loggi, Rappi etc.) e nenhum representante direto dos entregadores por plataforma.
“Querem conciliar os interesses de empresas de APPs, como o iFood, com os das centrais sindicais e do governo. Dando para nós, entregadores, algumas migalhas”, disse em entrevista para o Brasil de Fato nosso companheiro Altemício Nascimento, fundador do coletivo Entregadores Unidos pela Base[3]. Nascimento esclarece de fato o que estaria por trás desse grupo de trabalho, os seus limites e sua verdadeira intenção. Mais ainda, de que se trata de uma manobra excludente para elaborar um texto que não atenda às reivindicações e necessidades básicas da categoria e que possui nenhuma ou muito pouca legitimidade nas bases dos entregadores, uma vez que a categoria não foi verdadeiramente consultada e, por isso, não deliberou qualquer posicionamento favorável à metodologia e composição desse grupo de trabalho. Ao contrário: setores da base se mostraram amplamente desconfiados com a manobra.
Como forma de reafirmar a declaração dada por Nascimento, trazemos um breve relato sobre uma das reuniões do GT que logramos acompanhar como ouvintes depois de muita pressão para nossa entrada, em São Paulo, no dia 3 de julho de 2023. A reunião em questão, dirigida pelo atual secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho, Gilberto Carvalho, foi marcada por um andamento burocrático a passos lentíssimos sem que houvesse uma efetiva intencionalidade de avanços objetivos diante da temática de segurança do trabalho discutida naquela ocasião. Escutamos com atenção e muito desgosto afirmações inverídicas e extremamente cínicas por parte da representação patronal, legitimadas pela garantia de composição desses setores no GT pelo governo. Um representante da AMOBITEC, sem nenhuma vergonha na cara, afirmou que “não há nenhuma relação do aumento dos acidentes envolvendo motociclistas por conta da implementação do trabalho de entregas por aplicativos”, quando estudos comprovam justamente o contrário.
Afirmaram, também, que irão cumprir com “a regulamentação que acharem melhor” em relação aos interesses das empresas de plataforma que atuam no país, fato que demonstra a permissibilidade para a exposição de narrativas mentirosas e debochadas e uma sobreposição dos interesses patronais aos dos entregadores ao não haver nenhum tipo de resposta ou posição contundente da mesa diretora. Ao contrário: a mesa assistia a essas intervenções com pacífica naturalidade e, ao final do encontro, Gilberto Carvalho disse que “queremos [o governo] que as empresas ganhem e cresçam”. Imaginemos, agora, se a base dos entregadores assistisse a isso ou pudesse receber com precisão as posições apresentadas nesse teatro que chamam de Grupo de Trabalho. Arrisco dizer que os/as trabalhadores/as não se limitariam às vaias.
Um ano se passou desde o último primeiro de maio, da formação do Grupo de Trabalho proposto pelo governo de Lula e Alckmin e de lá pra cá não se obteve qualquer avanço que apontasse a um horizonte promissor às necessidades e reivindicações dos entregadores por plataforma. Pelo contrário. O GT se desfez e, assim, o cenário ideal pensado pelo governo, de natureza conciliatória, que garantisse os interesses da patronal com alguma concessão mínima à categoria se limitou ao imaginário do poder público e da burocracia sindical em um desejo de normalizar o regime burguês e sua exploração do trabalho. Em outras palavras, o grupo de trabalho enquanto instância deixou de existir, nenhuma proposição textual foi sequer apresentada e, com isso, as empresas de aplicativo seguem gozando de uma inédita e irrestrita liberdade – após a garantia de direitos básicos aos trabalhadores no século XX – para espoliar e explorar a força de trabalho dos entregadores, garantindo uma lucratividade talvez também em patamares inéditos. Como exemplo, a empresa Rappi passou a cobrar, em forma de dívida, uma taxa semanal ao entregador de R$12,00 apenas para que possam logar no aplicativo. Isso é, tornou-se necessário não só a assunção de capital constante (de trabalho morto), outrora adiantado pelo empresariado, para se dar ao “luxo” de vender a sua própria força de trabalho, mas agora impõem um adiantamento de mais valor que escancara um aumento qualitativo e quantitativo da exploração do trabalhador ao imputar que ele salde sua dívida semanal de R$12,00 com essa empresa antes de somar para si os baixíssimos valores pagos pelas corridas.
Como se não fosse suficiente, e por isso digo que o que houve nesse período de um ano foi algo oposto às demandas básicas dos entregadores – uma regressão, algo que pensávamos ser impossível de piorar -: o governo federal, além de anunciar, com o fim do GT, um diálogo agora exclusivo com o iFood, apresentou um Projeto de Lei que, se aprovado nas instâncias legislativas, institucionalizará a “uberização do trabalho”, uma exploração desenfreada, remetente ao século XIX, do trabalho para os trabalhadores de transporte por aplicativo. Tal medida, inequivocamente, abrirá um precedente inédito e perigosíssimo para todos aqueles que sobrevivem a partir da venda de sua força de trabalho.
Lula, presidente e fundador do Partido dos Trabalhadores – que contradição trágica! – assinou esse projeto no dia 4 de março deste ano de 2024. A assinatura foi acompanhada de um discurso que exaltava a criação de uma “nova forma da relação de trabalho”, dos agora chamados de “autônomos com direitos”. Uma celebração cretina de um processo de aniquilamento daquilo que resta dos direitos trabalhistas e da rede de proteção aos explorados. Como disse o professor de direito do trabalho da USP, Jorge Souto Maior, em uma das atividades sobre esse nefasto PL, a escravização, de fato, nunca nos abandonou.
Vejamos alguns detalhes desse Projeto de Lei que expressam aquilo que afirma Ricardo Antunes sobre a combinação entre a digitalização do trabalho com essa “nova” e sem precedente legislação “trabalhista”, que na prática legisla cada vez mais a favor do empresariado:
(…) Estão favorecendo o crescimento do desemprego e do subemprego, a hipersegmentação do mercado de trabalho; o aumento do trabalho temporário (nas mais variadas e extremas formas, do trabalho intermitente e descontínuo ao “retorno” do salário por peça, agora ao modo digital; a ampliação da cota de trabalho freelance e das colaborações para as prestações laborais, que no setor específico do crowd work constitui a principal forma de retorno ao trabalho; o fim do contrato de trabalho e a desintegração do tradicional status de trabalhador assalariado, permanente; o enfraquecimento da diferença entre trabalho assalariado e trabalho [de fato] autônomo; o rebaixamento dos salários (quase sempre a primeira causa do prolongamento forçado da jornada de trabalho); a erosão do salário-social, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, sistematicamente contornados (by-passati) na economia digital (tout court). (ANTUNES, 2023, p.45)
O PL apresentado cria uma suposta nova categoria de trabalho, como dito acima, e, com isso, formaliza institucionalmente o não reconhecimento de qualquer tipo de vínculo entre os motoristas com as empresas de aplicativo. Quer dizer, assume cinicamente em aliança com os interesses da patronal que não há qualquer condição de assalariamento do trabalho e, portanto, isenta numa canetada só que as empresas arquem com a garantia de direitos mínimos aos motoristas. Serão permitidas jornadas de trabalho de até 12h diárias – e aqui não se faz necessário apresentar o retrocesso que isso significa, mas chamar a atenção, mais uma vez, para as graves consequências na vida de milhares de trabalhadores de transporte por aplicativo, com a perspectiva da generalização de 12h de trabalho às outras e inúmeras categorias laborais que passem pelo processo de plataformização.
Outro elemento importante refere-se à contribuição obrigatória de 7,5% ao Instituto Nacional de Seguro Social por parte dos motoristas. À primeira vista pode parecer uma medida progressiva, mas não é. Isso porque o Projeto de Lei não garante nenhum aumento, tabelamento ou indexação dos valores pagos pelas viagens à inflação. Portanto, a permissibilidade para que as empresas arbitrem os valores pagos aos motoristas se mantém, podendo aumentar ou diminuir esses valores sem qualquer critério que não seja a própria manutenção e ampliação da taxa de lucro. Assim, tal contribuição ao INSS reduzirá o valor real do salário dos motoristas e servirá, inevitavelmente, como engrenagem para fortalecer o discurso ultraliberal do empreendedorismo e um possível giro à direita da subjetividade da categoria.
Por último, o projeto esconde em sua redação algo extremamente grave, aquilo que vão chamar de “horas efetivamente trabalhadas”. Vejamos, o texto diz que o motorista receberá R$32,09 por hora “efetivamente trabalhada” e um salário mínimo, atualmente de R$1.412,00, se garantidas 44 horas “efetivamente trabalhadas” na semana. Pois bem, do que se trata, então, esse termo de “horas efetivamente trabalhadas”? Da própria reformulação, negação daquilo que é considerado trabalho ou não para as empresas e, agora, também para o governo federal. Trata-se de uma manobra semântica que esconde aquilo que está por detrás do texto: que apenas se é considerado tempo de trabalho e, portanto, pago, o momento em que o/a motorista está com passageiros em deslocamento. Assim, todo e qualquer período fora de deslocamento do trabalhador com passageiros é desconsiderado como tempo de trabalho. Ou seja, a garantia desses valores mínimos aos motoristas nada mais é do que um sofisma, algo fictício, que não muda em nada o valor real pago pelas empresas, uma proposta inferior – isso mesmo -, inferior ao que hoje já é pago pelas corridas aos trabalhadores dessa categoria porque, para a garantia desse piso, o trabalhador teria que conseguir atingir 8 horas por dia em viagem, em trajetos com passageiros. Trata-se de uma oferta abaixo daquilo que já existe, uma garantia de um valor que o próprio trabalhador supera se autoexplorando hoje, uma manobra que serve para confundir e dissimular a real natureza desse absurdo Projeto de Lei que não tem piso mínimo algum na prática.
Assim, a desconfiança expressa anteriormente parte, inevitavelmente, de uma experiência concreta dos entregadores, categoria composta por uma grande parcela do substrato social mais marginalizado e empobrecido, com as direções sindicais burocráticas e com os governos e suas políticas públicas. Ambas são compreendidas, de maneira intuitiva, como esferas impermeáveis às demandas reais da categoria. O Estado e o sindicalismo burocrático são interpretados como uma espécie de parasitas a serviço de um interesse próprio – um corpo que vive do aparelho produzido pela luta –, fazendo com que, muitas vezes, conclusões antissindicais apareçam, levando, então, a generalizações equivocadas por parte da categoria, em que o sindicato é visto como o problema (independentemente de sua composição, direção e natureza política de classe), afastando-os, temporariamente, da constituição de uma identidade coletiva de trabalhador que se sobreponha ao imaginário de uma suposta autonomia do trabalho.
Entretanto, de maneira dialética, tal concepção e sensibilidade abrem espaço para a construção de uma crítica classista às traições dos governos e das burocracias sindicais e aos limites impostos pela conciliação de classes, que ressalte a necessidade histórica de se resgatar as lições políticas e metodológicas da tradição do movimento operário para fazer prevalecer os interesses da categoria. Abre-se uma possibilidade histórica de se instituir, de maneira coletiva, a conclusão subjetiva de que é necessário construir organizações sindicais de base e políticas à altura da luta de classes em nosso tempo.
O debate da regulamentação é, contudo, produto direto do acúmulo de lutas dos entregadores no país que, há alguns anos, diante da pandemia, com seus fluxos e refluxos, expressam sua indignação e revolta com a precarização do trabalho e todo o seu poderio para impulsionar a luta, não só da categoria, mas de outros setores da classe trabalhadora. Portanto, o atual governo teve que ceder e inserir em sua pauta a questão da regulamentação do trabalho de categorias lutadoras, que gozam de ampla solidariedade social, muito pelo que fizeram na época do isolamento social, sobretudo os entregadores, e que vai construindo no Brasil e no mundo as suas ferramentas de organização e mobilização para sua autodeterminação. No que pese a manipulação do já dissolvido e nada progressivo GT e suas relações espúrias com o iFood, o governo e suas centrais sindicais, num delírio de origem conciliatória, de tentativa de normalização do regime burguês, apresentam o Projeto de Lei descrito anteriormente como algo inovador e positivo – um exemplo para o mundo de defesa de um novo proletariado -, mas que, na prática, leva a cabo justamente o contrário: a naturalização sob a forma de lei de uma exploração impensável até anos atrás.
Mas isso não significa que o governo e sua base, assim como as empresas de plataforma, não terão que enfrentar uma categoria que avança – considerando as dificuldades organizativas diante de um trabalho atomizado e diluído sob o espaço geográfico – e que encabeça, em âmbito internacional, como parte de uma nova classe trabalhadora mundial, a luta contra as novas formas de exploração do trabalho, no que pesem as contradições subjetivas.
Reivindicamos, sob a prática cotidiana a partir de plenárias virtuais, vídeos e panfletagens, como primeira tarefa a necessidade de se desmascarar e derrubar o Projeto de Lei da “uberização”, da criação de uma nova categoria de trabalho chamada de “autônomos com direitos”, cortando pela raiz toda e qualquer expectativa de uma melhoria significativa, com conquistas de direitos laborais a partir desse mecanismo, em que todos aqueles que fomentam ilusões incorrem na desmoralização e frustração da categoria – um precedente perigoso que pode contribuir posteriormente para conclusões de que qualquer legislação laboral e formas de representação sindical levam a traições e derrotas, o que, evidentemente, enfrenta a contraposição da autêntica organização e mobilização pela base, que tem crescido cada vez mais no seio da categoria.
Diante da intensificação da acumulação flexível com o surgimento da Indústria 4.0, o trabalho alienado, como única atividade capaz de criar novos valores de troca, e subordinado ao controle da produção de mercadorias e reprodução ampliada do capital, vem sofrendo significativas mudanças no que diz respeito à sua subordinação à organização e ao controle e, portanto, à exploração da mão de obra internacional. Isto é, o uso pela classe dominante internacional das novas tecnologias de informação (TICs) que sustentam a nova economia de plataforma – o capitalismo de plataforma – está submetendo, atualmente, os trabalhadores e as trabalhadoras a uma exploração do trabalho similar à do século XIX, época em que a luta por normas de proteção se estabelecia no movimento operário internacional como consequência direta das contradições capital-trabalho do modelo de produção capitalista.
Há, portanto, uma relação indissociável e camuflada inerente ao modelo capitalista de produção, à sua necessidade de reprodução ampliada, com o endurecimento da exploração do trabalho pela retirada dos direitos trabalhistas conquistados pela luta independente do proletariado, em nome de uma suposta “modernização”, que evidencia a falácia da neutralidade (no que diz respeito aos interesses de classe) das tecnologias de plataforma e que ressaltam a necessidade de maior extração de mais-valia e apropriação de trabalho alheio para conter a queda tendencial da taxa de lucro diante de uma crise estrutural do capital. Constitui-se, então, uma obviedade: faz-se impossível conciliar os interesses das empresas-plataformas com os dos motoristas e entregadores– algo que o atual governo insiste em fazer parecer crível.
Concordamos plenamente com a afirmação de Antunes e Filgueiras (2020, p. 75), na qual dizem:
Com o advento das novas TIC e seu uso pelas empresas na gestão e controle do trabalho, podemos provocativamente dizer que nunca foi tão fácil, do ponto de vista técnico, efetivar o direito do trabalho. As novas tecnologias (particularmente a internet e os dispositivos móveis) tornaram muito mais rápido, preciso e incontroverso identificar os trabalhos realizados, seus tempos e movimentos, suas durações, pagamentos e demais ocorrências, assim como impor às empresas o cumprimento de normas.
Logo, projetos como o PL da “uberização” e, portanto, da inexistência de normas que obriguem as empresas de plataforma a garantirem direitos básicos àqueles aos quais elas chamam de “colaboradores” – escondendo a relação de assalariamento (exploração e subordinação) –, não se tratam de uma falha jurídica ou muito menos técnica. Expõem, na verdade, uma ofensiva técnico-político-ideológica por parte do empresariado e seus representantes no poder público em nível internacional que, sob o controle dessas novas tecnologias e com o Estado como garantidor de seus interesses, criam espaços tangentes às legislações trabalhistas que resultam em um desenquadramento do trabalho por plataforma da relação de assalariamento.
Assim, a regulamentação não pode estar associada apenas ao campo estatal-jurídico ou à boa vontade de estéreis Grupos de Trabalhos que não contam com representação direta dos entregadores – e mesmo que contassem, nada seria garantido sem a luta direta nas ruas para impor os interesses dos trabalhadores de plataforma porque, ao final, “quando se trata dos próprios fundamentos da sociedade, não é a aritmética parlamentar que decide, mas a luta.” (TROTSKY, 2011, p. 283).
É necessário enraizar nas bases dos trabalhadores por plataforma, a partir das suas próprias lutas, que se levantam ora de maneira mais espontânea, ora desenhando importantes elementos de organização (ANTUNES; FILGUEIRAS, 2020), um nível cada vez mais avançado de consciência e identidade de classe, de um programa e organização, que comece com as reivindicações mais imediatas e avance para um projeto próprio, independente, de regulamentação e de futura superação da relação de exploração. Esse é o caso da experiência dos Entregadores Unidos pela Base, que levou adiante, organizando a categoria com cafés da manhã solidários, plenárias virtuais e panfletagens semanais, o Breque Geral dos APPs junto a outras lideranças e grupos de entregadores dos dias 1 e 2 de julho em 2023 e que está tentando articular um projeto de lei popular com as mãos e cabeças da categoria de entregadores como forma de pressionar o governo, sua base e a opinião pública como forma de fazer avançar a ideia de autodeterminação para os trabalhadores de entregas por plataformas.
Para essa base que começa a se organizar a partir das grandes lições da luta dos trabalhadores, fica cada vez mais claro que o campo jurídico está historicamente subordinado à correlação de forças entre os explorados (entregadores) e os exploradores (empresariado das plataformas), que se trata de um reflexo direto dessa sobreposição dos interesses de classes antagônicas. Com isso, a luta independente da categoria será o fator decisivo na batalha por garantir direitos básicos de trabalho, bem como na guerra contra todo o tipo de exploração e opressão. Afinal, diante de uma sociedade dividida em classes, não será a melhor formulação técnico-jurídica que decidirá o futuro do trabalho; antes, será a organização e luta direta capaz de contrabalancear a atual correlação de forças para fazer avançar os interesses dos explorados.
Por último, quase 150 anos após a greve dos operários estadunidenses que consolidou o 1º de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, pode-se afirmar que resgatar as lições políticas e metodológicas do movimento operário – o seu axioma – nunca foi tão necessário a esse processo de constituição de uma nova classe trabalhadora internacional forjada globalmente diante da atual etapa histórica de um capitalismo em crise e voraz, sob a ruptura dos consensos formados pela democracia burguesa, que explora, como nunca antes, as novas gerações vendedoras da sua força de trabalho e o meio natural. Com isso, a luta dos entregadores de aplicativos, dos trabalhadores por plataforma pode, sem dúvida alguma, impulsionar a luta de outras categorias de trabalhadores, colocando qualitativamente a organização e a mobilização internacional dos explorados em outra escala, algo que posiciona essa categoria como um setor estratégico no processo histórico da luta pelo socialismo revolucionário.
[1] “Karl Kautsky foi o principal teórico da socialdemocracia alemã e internacional no início do século XX, que Lênin considerava um de seus professores. No entanto, as pressões do período de estabilidade do capitalismo, que foi, grosso modo, de 1890 ao início da Primeira Guerra Mundial (1914), estavam expressas nele e em toda a direção da II Internacional na forma de uma apreciação evolutiva dos desenvolvimentos e de uma ideia ingênua e burguesa de progresso: o capitalismo estava aparentemente progredindo suavemente e, por um curso puramente parcimonioso, o socialismo seria alcançado. A democracia burguesa já imperialista era uma panaceia e só era necessário ganhar uma maioria parlamentar para que o proletariado fosse humildemente colocado no poder. Uma lógica que, em matéria de dialética, se expressava em um evolucionismo grosseiro e mecânico: a realidade se desdobrava em mera gradualidade; cortes, quebras, saltos de qualidade, etc., foram excluídos.” (SÁENZ, 2023).
[2] FGV. Atlas Histórico do Brasil. Disponível em: https://atlas.fgv.br/verbetes/greve-geral-de-1917. Acesso em: 18 jun. 2023.
[3] MONCAU, Gabriela. Governo exclui entregadores não sindicalizados de GT sobre regulação de trabalho em apps, 04 mai. 2023. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2023/05/04/governo-exclui-entregadores-de-gt-sobre-regulacao-de-apps-mas-diz-que-serao-ouvidos. Acesso em: 04 mai. 2023.