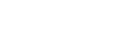PANDEMIA E ECONOMIA GLOBAL| As novas estimativas do FMI projetam uma queda de quase 5% do PIB mundial daqui ao final do ano. A respeito, admitem que “na primeira metade de 2020 a pandemia teve um impacto mais negativo do que o antecipado, e a recuperação será mais gradual do que o previsto”
Marcelo Yunes
Tradução Gabriel Mendes
Enquanto na Argentina se discute ainda por quanto ganhará a queda da economia neste ano (PIB) do colapso de 2001-2002, não deve-se tirar o olho das consequências que está tendo a pandemia na economia mundial. A respeito, nesta atualização nos basearemos em duas fontes muito distintas mas ambas sérias e dignas de serem levadas em conta: no último trabalho sobre conjuntura econômica do marxista britânico Michael Roberts (de 29 de junho) e o Fundo Monetário Internacional, em sua atualização, também do mês de junho, do Panorama Econômico Mundial (trataremos PEM, lembrando que não é o documento conhecido com esse nome senão uma atualização, que o FMI faz habitualmente quando a situação o exige, como é evidentemente o caso).
Roberts geralmente pende para o lado de apontar os perigos potenciais para a economia capitalista e os sinais de crise; ao contrário, no geral, o FMI trata de colocar panos quentes e propor medidas que possam relançar os crescimento econômico e afastar os horizontes perturbadores. Pois bem, nesse caso os papéis estão quase invertidos. Não, desde já, porque Roberts anuncie um futuro promissor para a economia mundial, mas porque suas previsões habitualmente sombrias ficaram para trás do pavoroso estado de coisas que coloca o FMI. Se os documentos em pdf pudessem fazer gestos, o PEM de junho estaria, sem dúvida, arrancando os cabelos.
Um acidente brutal do qual ninguém se salva
O título do PEM já é suficientemente ilustrativo: “Uma crise como nenhuma outra, uma recuperação incerta” (“A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery”). As previsões do Fundo para 2020 foram revisadas para baixo da já pessimista atualização de abril passado. O impacto do que chama de Grande Quarentena (Great Lockdown) só pode comparar-se ao da Grande Recessão de finais da década de 20.
Em cifras: a Grande Depressão representou uma queda do PIB mundial, com epicentro nos países desenvolvidos, na ordem de 15% durante o período 1929-1932. Na crise financeira desatada em 2009 (de cujas consequências, não saímos completamente)[1], com todos os problemas que causou, a queda do PIB global foi quase imperceptível, na ordem de 0,1%.
As novas estimativas do FMI projetam uma queda de quase 5% do PIB mundial daqui até o final do ano. A respeito, admitem que “na primeira metade de 2020 a pandemia teve um impacto mais negativo do que o previsto, e a recuperação será mais gradual do que o previsto” (todas as citações do FMI correspondem ao documento já citado). Para 2021 – com uma probabilidade de acerto bem menor do que em 2020, como reconhecem -, estimam uma recuperação bastante vigorosa (em parte, estatisticamente possível graças ao volume da queda anterior) de ordem de 5,4%, com o que no final de 2021 o PIB mundial seria “uns 6,5 pontos menor que as projeções pré-covid19 de janeiro de 2020”.
Cabe esclarecer que essas projeções são selecionadas a dedo pelo próprio informe, que adverte que têm “um grau de incerteza maior que o habitual”, a tal ponto que estima o impacto de dois cenários alternativos: o primeiro, um novo surto do Covid-19 no início de 2021; o segundo, uma recuperação mais rápida. Não se coloca qual dos dois tem maior probabilidade de substituir o cenário base, mas a ordem já indica algo…
O principal impacto dessa contração, para variar, seria “particularmente agudo” sobre os domicílios de baixa renda, os trabalhadores informais e as mulheres, “colocando em perigo os significativos progressos na redução da pobreza extrema no mundo desde 1990”. O FMI cita uma estimativa da Unesco de que quase 1,2 bilhão de crianças em idade escolar, 70% do total global já estão afetados, o que “resultará em uma significativa perda de aprendizagem, com efeitos desproporcionalmente negativos nas perspectivas de renda para crianças em países de baixa renda”.
As características mais visíveis deste colapso são sua profundidade, sua concentração em muitos poucos meses e sua sincronização global: “pela primeira vez – diz o documento – se projecta que todas as regiões experimentem um crescimento negativo [a pudica expressão oficial dos economistas para nomear a recessão, Marcelo Yunes] em 2020”. Vejamos alguns dados selecionados da PEM a respeito:
Tabela 1. Prognóstico do FMI crescimento mundial 2020-2021
Em % do PIB
| Região / Ano | 2020 | 2021 |
| Mundo | -4,9 | 5,4 |
| Desenvolvidos | -8,0 | 4,8 |
| EUA | -8,0 | 4,5 |
| Zona do Euro | -10,2 | 6,0 |
| Emergentes | -3.0 | 5,9 |
| China | 1.0 | 8,2 |
| América Latina | -9.4 | 3,7 |
| Brasil | -9,1 | 3,6 |
| México | -10,5 | 3,3 |
A tudo isso, cabe recordar que os que vivem da especulação financeira está no melhor dos mundos depois do susto de algumas semanas atrás. Enquanto nos EUA se ampliam os pedidos de subsídio por desemprego na ordem de dezenas de milhões, Wall Street volta alegremente a bater recordes como se tudo, ou nada tivesse acontecido. Isso está gerando um verdadeiro abismo entre a “economia real” e o mundo financeiro que já gera preocupação no próprio estabilishment por suas eventuais consequências econômicas… e políticas, em um ano eleitoral nos EUA. Usamos deliberadamente a palavra abismo: assim chama The Economist em sua matéria de capa de 7 de maio: “A dangerous gap – The market vs the real economy”, com uma gráfica ilustração do abismo entre Wall Street ( as finanças) e Main Street (a economia produtora de bens e serviços). E não está sozinha: o próprio PEM aponta com preocupação que “a recente retomada no ânimo dos mercados financeiros parece desconectada das mudanças nas perspectivas econômicas mais profundas, colocando a possibilidade de que as condições financeiras possam endurecer mais do que o previsto”.
Por outro lado, essa euforia passa alegremente por cima da destruição líquida – isto é oscilando entre as que aumentaram com as que baixaram – do valor de capitalização de mercado das empresas globais, que segundo a consultoria global PwC alcançou os 8,5 bilhões de dólares, isto é, um colapso de mais de 10% do PIB mundial (Âmbito Financeiro, 30-6-20).
Entretanto, em termos de emprego nós temos que voltar a crise de 1929 para encontrar indicadores tão devastadores, se olharmos as porcentagens; em números absolutos, simplesmente, não há comparação possível. O PEM cita dados da Organização Internacional do Trabalho que calculam que a queda global de horas de trabalho foi, no primeiro trimestre de 2020, equivalente a 130 milhões de empregos de tempo integral. Essa terrível cifra, entretanto, é ofuscada diante do segundo trimestre deste ano, que se calcula que terminará em uma destruição de “mais de 300 milhões de empregos de tempo integral”. E se acrescente que, como era de esperar, “o impacto no mercado de trabalho foi particularmente grave para os trabalhadores de baixa qualificação e para as mulheres. Dos aproximadamente 2 bilhões de trabalhadores em empregos informais, a OIT estima que quase 80% foi afetado de maneira significativa”. O que nos leva a reação que ocorreu, e cabe esperar, da classe capitalista frente a essa realidade social potencialmente explosiva.
O Estado capitalista na pandemia
A resposta generalizada dos estados em todo planeta foi, para dizer rapidamente, “keynesiana”, isto é, abandonar apressadamente toda a pregação neoliberal de que os “mercados” consertam e regulam toda a vida social, e colocam no centro da cena as medidas estatais, os aportes de dinheiro estatal, o endividamento estatal e a emissão monetária para enfrentar as primeiras consequências da pandemia. Sem essa vigorosa intervenção do Estado capitalista, o nível de colapso econômico, político social e sanitário que teria sido gerado ao deixar a resposta nas mãos dos “mercados” é tão inimaginável que nada, desde Trump a Merkel, desde Boris Johnson a Shinzo Abe, desde Iván Duque a Alberto Fernández, ousaram a correr esse risco.
Esse salto do evangelho da austeridade ao gasto estatal marca um forte contraste com a crise de 2009, onde o aporte estatal se orientou exclusivamente a resgatar bancos e grandes empresas – um exemplo emblemático foi o resgate da General Motors, a cargo de Obama-, enquanto que sobre os trabalhadores e os setores populares recaiu todo o peso do ajuste, colocando um castigo exemplar aos que ousavam esboçar um caminho alternativo (Grécia!).
“Mas ao menos dessa vez – disse Michael Roberts em ‘Deficits, debt and deflation after the pandemic’, de 29 de junho-, as coisas são diferentes”. (…) Como disse há pouco tempo Gavyn Davies, ex-economista chefe do Goldman Sachs e gerentes de fundos de investimento, “é notável a unanimidade entre os macroeconomistas de que um estímulo monetário e fiscal massivo é a resposta apropriada a uma emergência econômica similar a tempos de guerra. Quase ninguém contesta que na política deve ser feito ‘o que for preciso’ [referência a célebre frase de Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu quando a crise do euro em 2012. Marcelo Yunes] para se sobrepor ao choque do vírus. Esse acordo reflete uma conclusão chave da teoria das finanças públicas: que diante de crises econômicas inevitáveis e temporárias, a maneira correta de absorver um choque para o setor privado é maior dívida estatal”. E acrescenta Davies que “a maioria dos economistas neokeynesianos, incluindo a Paul Krugman e Lawrence Summers, crêem que em si mesmos os altos níveis de dívida não são um problema para as economias desenvolvidas” e que assim se poderia “reverter a tendência ao estancamento secular na Europa e EUA”, na medida em que o custo dessa dívida, quer dizer, as taxas de juros, estão tão baixas que ficariam abaixo do crescimento nominal do PIB, por mais que este não seja muito alto.
Os programas de estímulo fiscal baseados na dívida – isto é, gastos e subsídios financiados com emissão monetária ou títulos públicos – implementados desde o começo da pandemia foram universais. Claro, com grande diferença segundo o tamanho da economia, estado das finanças e viés ideológico do governo, mas quase não conhece exceção; o próprio FMI foi um entusiasta promotor dessas medidas, inclusive comprometendo-se em financiá-las ao menos em parte.
Segundo Roberts, em todo o mundo “o gasto estatal adicional equivale a uma média de aproximadamente 5-6% do PIB, e o mesmo para empréstimos garantidos e outras formas de apoio financeiro para empresas e bancos”, o que é “ao menos o dobro dos pacotes de estímulo monetário e fiscal durante a Grande Recessão de 2008-2009”. Se exagera, é para baixo: o Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures do FMI estima que os anúncios equivalem a 11 trilhões de dólares, um oitavo do PIB mundial.
A contrapartida desse estímulo baseado na dívida é um aumento bastante proporcional do déficit fiscal. Segundo o PEM do FMI já citado, “se espera que a dívida pública global alcance o máximo de todos os tempos, superando em 101% do PIB em 2020-2021, 19 pontos mais do que no ano anterior. Aliás, se calcula que o déficit fiscal médio alcance os 14 pontos do PIB em 2020, 10 pontos percentuais mais que o ano passado”. E esse aumento espetacular da dívida e o déficit se dá em um contexto em que “se espera que as receitas estatais sejam 2,5 pontos percentuais mais baixas”.
É por isso que Roberts estima que “os níveis da dívida do setor público superem todo o antecedente dos últimos 150 anos(…), entorno de 122$% do PIB nas economias capitalistas desenvolvidas e entorno de 62% das chamadas economias emergentes”. Vejamos um resumo gráfico desses dados
Tabela 2. Estimativa do FMI
Déficit Fiscal e dívida pública 2020-2021
Em % do PIB
Déficit fiscal | Dívida pública | |||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| Mundo | 13,9 | 8,2 | 101,5 | 103,2 |
| Desenvolvidos | 16,6 | 8,3 | 131,2 | 132,3 |
| EUA | 23,8 | 12,4 | 141,4 | 146,1 |
| Zona do euro | 11,7 | 5,3 | 105,1 | 103 |
| China | 12,1 | 10,7 | 64,1 | 70,7 |
| Emergentes | 10,6 | 8,5 | 63,1 | 66,7 |
| América Latina | 10,3 | 4,8 | 81,5 | 79,7 |
| Brasil | 16 | 5,9 | 102,3 | 100,6 |
O irônico do caso é, parafraseando o célebre slogan de Margaret Thatcher, a primeira ministra britânica grande porta-estandarte da globalização neoliberal junto com Ronald Reagan, “não havia alternativa” a esse incremento do gasto estatal em uma situação de emergência, como vimos mais acima, sob a pena de se exporem a uma brutal instabilidade política e social. A pergunta que cabe aqui cai por seu próprio peso: qual é o limite desse endividamento para cobrir as despesas extraordinárias que a pandemia obrigou fazer a classe capitalista e seus governos?
Aqui entram, por exemplo, as elocubrações dos neokeynesianos partidários da “teoria monetária moderna”, que essencialmente supõe que, pelo menos em um contexto de baixos juros e alto desemprego, o Estado se pode financiar emitindo moeda (dívida) quase sem consequências. Mas, como observa Roberts “a coisa não é tão simples. Calcular se a dívida é sustentável inclui vários fatores chave: 1) o nível da dívida; 2) a taxa de juros média dessa dívida; 3) o déficit fiscal (que se agrega a dívida), 4) o tamanho e crescimento do gasto público, e 5) a taxa de crescimento da economia. Se o gasto público (…) segue crescendo mais que os ingressos impositivos, esse ‘déficit primário’ continuará sendo somado a dívida pública total. Isso significa que o custo dos juros dessa dívida se elevará inclusive se a taxa de juros for baixa (…) e esse custo gradualmente irá corroer o gasto social”.
Vamos dizer rapidamente: é exatamente o que sucede, por exemplo, como Estado argentino. E isso por sua vez condiciona o crescimento, porque a dívida “excessiva” obriga a impostos mais altos sobre os capitalistas (se o Estado conseguir coletá-los), com o que, sustenta Roberts, “em última instância, [a dívida] é um peso para o capitalismo, não seu salvador”.
A nível global, entretanto, um problema tão ou mais importante que o endividamento estatal é o nível de dívida das empresas. Roberts identifica três “shocks”: de oferta (no início da pandemia, com a paralisação da atividade produtiva), de demanda (agora, com o colapso dos gastos privados das famílias e o colapso dos investimentos) e o financeiro, que pode estar na próxima esquina se se acentuar a onda de falências, se não há resgate das companhias “zumbis” (cujos ingressos não chegam a cobrir o serviço da dívida) e se houver um aumento nas taxas de juros. Roberts adverte que só até agora em 2020 os pedidos de falência de empresas já superaram os de todos os anos posteriores a 2009. O próprio FMI aponta o problema em seu PEM: enquanto que nas recessões usuais o consumo é menos afetado do que os investimentos – em parte, porque há consumos que são de sobrevivência e impossíveis de cortar-, dessa vez a combinação de “shocks” de oferta e de demanda se potencializam mutuamente, com uma queda marcada tanto da produção de bens e serviços e do consumo.
Volta da inflação ao mundo desenvolvido?
Claro, na Argentina a questão é uma piada de mau gosto, mas é preciso ter claro que um traço característico da economia mundial dos últimos anos é uma brusca – e não totalmente explicada – redução ou quase desaparecimento da inflação[2]. Inclusive agora, o FMI através do PEM observa uma contínua baixa da inflação no contexto da pandemia. No mundo desenvolvido, a inflação anual caiu de uma média de 1,3% no final de 2019 a 0,4% atualizado em abril deste ano. Nos países emergentes sucedeu algo parecido, com uma queda de 5,4 ao 4,2%. E nos EUA “a taxa poderia ser negativa pela primeira vez desde a Grande Recessão [2009] e possivelmente a maior redução anual da inflação desde 1955” (PEM do FMI) . E isso acontece apesar do fato de que, contra as previsões dos neoliberais monetaristas, até agora em 2020 houve um aumento da moeda em circulação na ordem de 25%, em boa medida devido à emissão pelos bancos centrais.
Acontece que, segundo Roberts essa massa de novo dinheiro oriunda da emissão, dos subsídios e dos resgates estatais não vai parar o gasto ou o investimento (quer dizer, não circula), mas se destina a “pagar dívidas ou para acumular empresas” (a recompra de ações é só uma variante disso). Isso é o que explica que o Japão, com uma dívida estatal das maiores do mundo, de 250% do PIB, em boa medida originada da emissão, não só não tem inflação como beira a deflação.
Essa tendência, para Roberts, “coincide com a queda da taxa de lucro do capital e da inflação. Como a rentabilidade das atividades produtivas cai, o investimento diminui. As empresas preferem investir em ativos financeiros (capital fictício) ou retém capital (as companhias grandes). Assim, a taxa de juros e a inflação cai, enquanto os mercados financeiros disparam. Isso é o que está acontecendo agora: a inflação é inexistente porque nenhum novo valor é criado.” É uma explicação do fenômeno muito mais plausível do que os dogmas liberais ou o “dinheiro pelo helicóptero” dos neokeynesianos.
Agora bem, tudo isso vêm de um contexto anterior à pandemia, que pode mudar todo o cenário. O aumento forçado dos gastos públicos incrementa o gasto improdutivo ao mesmo tempo que deixa o Estado como o grande tomador de dívida, deixando sem crédito disponível ao setor privado. Conclui Roberts que “no ano que vem, o peso da dívida pública e privada vai ser um fardo para a recuperação econômica, enquanto a inflação irá subir, colocando pressão crescente na taxa de juros. É uma receita para uma onda de falências e uma crise financeira em um marco de economias em estagflação, similar a dos anos 70”.
Em síntese: a pandemia colocou na primeira linha a intervenção do Estado capitalista, em parte prestando serviço a certas relações de força que não se resolviam com o salve-se quem puder neoliberal. Essa intervenção ocorre no marco de uma economia mundial caracterizada pelo baixo crescimento e o endividamento geral, tendências que a pandemia e as quarentenas reforçaram durante todo esse ano pelo menos. A grande incógnita é: quando e em quais condições se sairá da economia “pandemizada”, e quais reservas tem a ordem capitalista global e seus estados nacionais para enfrentar os problemas que se arrastam e os novos? Parte essencial da resposta, na realidade, estará nas lutas da classe trabalhadora e de todos os setores oprimidos para bloquear toda “saída” que não seja mais exploração e miséria a serviço do capital. E não só como estratégia de defesa, mas como uma oportunidade, quem sabe pela primeira vez em muito tempo, de passar para a ofensiva.
[1] Ver a respeito nosso texto sobre economia mundial na revista SoB 32/33, cujas conclusões a nosso juízo se mantém apesar do tempo transcorrido. [2] Em outubro passado, The Economsit publicou um informe especial dando conta dos termos do debate sobre esse tema no campo da teoria econômica, essencialmente nos países desenvolvidos. O título do informe: “O fim da inflação?” (Henry Curr, The Economist, 12/10/19)