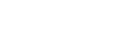Por Marcelo Yunes
1 – Um debate catalizado pela pandemia
O debate a nível global está em andamento: a inflação está voltando ou não? A possibilidade de um crescimento acelerado nos EUA, a partir de uma recuperação na atividade permitida pela vacinação massiva, somada a um estímulo fiscal que poderia exceder 2,5 trilhões de dólares, alimenta os temores ligados à inflação. Na metáfora cristalina de um colunista, “quando os EUA espirram, o resto do mundo pega um resfriado”. Mas o que acontece quando pega uma febre”? (The Economist 9233, “Radiant energ“, 20-2-21).
Com efeito, o grande gatilho do debate é a perspectiva de que a recuperação da economia mundial em sua lenta e muito desigual “saída” da pandemia, e em primeiro lugar a dos EUA, traga consigo um superaquecimento da economia e um salto nas taxas de inflação, que têm estado no fundo do poço há anos. O anúncio do Federal Reserve (Fed, para abreviar; o banco central dos EUA) de manter seu programa de “frouxidão monetária” pelo menos até 2023 agitou as águas em diferentes latitudes e desde diferentes abordagens econômicas.
Acontece que de todas as economias desenvolvidas do Ocidente, a dos EUA é a que prevê o maior crescimento para 2021, em uma faixa de 4 a 8% do PIB, enquanto para a zona do euro esta faixa vai de 3 a 6%; para o Japão, apenas 1 a 3%, e para a China – uma das poucas economias que não regrediu em 2020 – entre 6 e surpreendentes 10% (The Economist 9233, “Forecast 2021“, 20-2-21).
O debate sobre o retorno da inflação não se baseia apenas nas taxas muito baixas das duas últimas décadas, pelo menos, mas também no desempenho da economia mundial em 2020, que não fez mais do que continuar esta tendência nas novas condições colocadas pela pandemia, com seu declínio de atividade, múltiplas quarentenas, injeções de subsídios e perda de empregos.
Em vários países houve deflação em 2020, como resultado de uma queda tanto na produção (oferta) quanto na demanda (consumo). É verdade que os programas de estímulo estatal sustentaram a renda das famílias (via subsídio de desemprego ou de licenças; a poupança familiar dobrou ou mais nos EUA, UE e Reino Unido), das empresas “zumbi” (resgatadas de falência iminente) e das grandes empresas e bancos (que aproveitaram para ganhar liquidez, comprar de volta ações e outras empresas que mantiveram os mercados acionários mundiais em um estado quase permanente de euforia). Mas do lado majoritário dos perdedores da pandemia, milhões de trabalhadores precárizados, informais e/ou pouco qualificados, especialmente em países subdesenvolvidos, perderam seus empregos e suas rendas. O mesmo aconteceu com os elos mais fracos das cadeias capitalistas de produção e serviços.
Diante da perspectiva da massificação do programa de vacinação – por enquanto restrito a uma minoria de países desenvolvidos -, surge no horizonte a possibilidade de uma importante recuperação econômica e, com ela, o risco de “superaquecimento” da atividade que leve a um aumento significativo da taxa de inflação.
Um alerta disso deveria ser o Reino Unido, onde, ao contrário do resto da Europa – onde a taxa de vacinação ainda está em torno de uns deploráveis 5% – e semelhante aos EUA, a porcentagem da população vacinada (já acima de 30%) abre expectativas mais realistas de um fim próximo às restrições devidas à covid-19. Mas este horizonte abriu uma brecha sobre como lidar com um eventual aumento da inflação que se manifesta, por exemplo, no próprio coração do Banco da Inglaterra (banco central), onde o debate se tornou público.
Os concorrentes são a “pomba” Gertjan Vlieghe, para quem ajustar a política monetária muito cedo (ou seja, esfriar a economia) “seria um erro maior do que ajustar tarde demais“, na medida em que poderia atrasar a recuperação, e o “falcão” Andrew Haldane, para quem é hora de se preocupar que “um risco de inflação tangível será mais difícil de controlar” (M. Gilbert, “Even central bankers can’t agree on reflation“, bloomberg.com, 5-3-21).
A controvérsia não é acadêmica, mas tem premissas e conseqüências muito políticas. Para Haldane, a economia acumulada pelas famílias e empresas durante a pandemia, quando liberada, poderia gerar uma onda de gastos em bens, serviços e ativos em uma economia em plena recuperação, com o conseqüente perigo de aceleração dos preços. A resposta de Vlieghe é que esta “poupança doméstica” realmente precisa ser desagregada: esta poupança está concentrada principalmente nos 20% mais ricos dos lares, porque os 40% mais pobres deles realmente diminuíram sua poupança em termos absolutos. E como os lares ricos estão muito menos inclinados a gastar do que os lares pobres, o brusco aumento de demanda com risco inflacionário, que Haldane teme, simplesmente não vai acontecer.
A mesma discordância existe com relação à evolução salarial. Haldane sugere que uma combinação de uma população apequenada pela pndemia – muitos imigrantes deixaram o país durante a pandemia – e uma mão de obra cada vez menor e envelhecida (“o vento de cauda demográfico se transformou em um vento contrário“, diz ele) fará com que os salários médios subam. Mas estas mudanças são talvez mais estruturais e têm menos impacto imediato sobre as pressões inflacionárias. É por isso que Vlieghe cita que os salários cresceriam apenas 2% este ano, abaixo dos 3% dos anos anteriores “perto de onde estavam durante o longo período de fraco crescimento salarial após a crise financeira” de 2008 (cit.). Acrescente-se a isso o fato de que alguns dos trabalhadores em licença de seus empregos privados que são pagos 80% pelo Estado não retornarão à força de trabalho com o fim das restrições, e o resultado é que a pressão salarial será “muito baixa” “para esperar um retorno da inflação”.
Como se pode ver, nem mesmo os funcionários mais conhecedores e atualizados do mundo podem concordar sobre tais pontos básicos, algo que se reflete nas salomônicas previsões do Banco da Inglaterra: há uma “chance em três” da inflação dobrar a meta anual de 2%… e exatamente a mesma chance de que haja deflação (inflação negativa).
Voltando aos EUA, aqueles que lançaram fogo no debate, curiosamente, não eram os neoliberais febris (em todo caso, eram os mais civilizados do Financial Times, como Gillian Tett, que reclamou que o Fed “não pode prometer ser irresponsável“), mas Larry Summers, ex-Secretário do Tesouro dos EUA sob Clinton, e Olivier Blanchard, ex-Chefe de Economia do FMI, que faloram do perigo de “pressões inflacionárias como as que não vimos em uma geração” e alertou para um retorno às taxas de inflação dos anos 70. Outros, como o presidente do Reserva Federal de Nova York, Bill Dudley, referiu-se ao aumento da poupança familiar, embora tenha omitido a desagregação desse número para ver quanto dessa poupança correspondia às famílias com participação no mercado de ações, quanto às famílias que receberam generosos subsídios que provavelmente não continuarão na mesma magnitude, e quanto às famílias cuja renda despencou e engrossam as fileiras de novos pobres nos Estados Unidos.
Acadêmicos, políticos e publicações especializadas intervém na discussão. Um indicador interessante é um artigo (“Does the National Debt Matter?”) do vice-presidente do Fed de St. Louis, David Andolfatto, cujo titular é um dos membros mais influentes da diretoria do Fed, James Bullard. Para Andolfatto, os EUA deveriam “preparar-se para um aumento acentuado e temporário da inflação“, mas enquanto esse aumento for temporário, a política fiscal (o Tesouro) e a política monetária (o Fed) não deveriam ser adstringentes (ou seja, recessivas). Mas, acrescentando à incerteza, Andolfatto reconhece que não há como saber de antemão o quanto a dívida pública pode crescer até o momento em que a inflação se torne uma preocupação. Portanto, “só podemos dizer que, por enquanto, as pressões inflacionárias parecem contidas. (…) Entretanto, seria prudente que o governo tivesse um plano para o caso desta contingência ocorrer” (“Does rising national debt portend rising inflation?“, https://www.stlouisfed.org, 2-3-21).
Dá para entender? Só por enquanto “parece” que não há problemas… mas só saberemos que eles existem quando estiverem sobre nós, então “seria prudente ter um plano” no caso de tudo dar errado. Com tudo isso, o St. Louis Fed é considerado um dos “alertas” regionais, no sentido de que tende a prefigurar a direção que a diretoria como um todo vai tomar. Como podemos ver, estamos enfrentando um nível de desorientação semelhante ao do Banco da Inglaterra.
De sua parte, para o The Economist, “um salto parece garantido“, em parte devido ao aumento sustentado dos preços do petróleo, mas evita tirar conclusões tremerárias (The Economist 9233, “Jumping ship”, 20-2-21). Como veremos, compartilha esta cautela inclusive com economistas de cunho marxista.
Os argumentos dos “inflacionistas” já são bem conhecidos: (a) a recuperação da economia e da renda levaria a um aumento do consumo acima da capacidade de expandir a oferta de bens; (b) a relativa redução do volume de mão de obra, devido ao envelhecimento da população nos países desenvolvidos e também devido a um certo retrocesso do processo de globalização – que nivelou os salários para baixo – vai gerar pressões ascendentes sobre os salários; (c) as autoridades políticas e monetárias são muito complacentes (“pombas”) diante do risco de inflação, e pressionam por maiores estímulos e déficits fiscais sem medir as conseqüências.
Diante dessas advinhações, o consenso atual – que pode durar apenas semanas – é que uma recuperação inflacionária temporária é perfeitamente provável e até benéfica, na medida em que, embora seu efeito sobre a recuperação seja positivo, seus eventuais riscos (que durarão muito tempo) são comparativamente baixos. Nesta avaliação pesa, em grande medida, a mudança de frente nas concepções econômicas estabelecidas em relação às causas e efeitos da inflação.
2 – Novas, antigas e ultrapassadas teorias sobre a inflação
“Os mortos que vocês mataram gozam de boa saúde“, disse Don Juan Ruiz de Alarcón, por volta de 1630. A frase se encaixa perfeitamente na situação do mundo econômico até apenas meses antes da pandemia, quando se preparava para escrever o epitáfio da inflação como um fenômeno permanente da economia. Mostrando sua habitual superficialidade, miopia e falta de senso crítico, a academia, os think tanks e as empresas de consultoria que vivem glorificando o existente e pontificar sua continuidade estavam prestes a apagar os capítulos dedicados à inflação dos livros de economia (o relatório especial do The Economist de outubro de 2019, “The end of inflation?“, tinha pelo menos a prudência elementar de colocar um ponto de interrogação). A reação exagerada que vemos agora, embora ainda não atinja o pânico, é uma função bastante direta de sua irresponsabilidade teórica.
Talvez a novidade mais saliente seja o descrédito quase universal da concepção monetarista mais ortodoxa, tal como formulada pela chamada “escola de Chicago” e em particular Milton Friedman – repetido como um mantra pela igreja neoliberal clássica -, que reduzia a inflação a um fenômeno essencial, ou ainda exclusivamente, monetário. Esta mudança no pensamento econômico geral, cujas variantes veremos a seguir, não é surpreendente. Acontece que o ponto forte dos monetaristas foi sua luta contra a inflação quando ela ocupava um lugar de destaque na realidade econômica de todos os países, como aconteceu especialmente durante os anos 60, 70 e boa parte dos anos 80. Mas se o centro de elaboração teórica do monetarismo era a inflação, os últimos trinta anos haviam deslocado o problema do centro do cenário. Vamos dar uma breve olhada neste caminho.
Nos anos 70, mesmo os países desenvolvidos apresentavam uma taxa de inflação anual de 10%, com picos muito mais altos; nos países atrasados, as altas taxas de dois ou três dígitos eram quase comuns. Mas já nos anos 90, e na esteira da “vitória do capitalismo” após a queda do Muro de Berlim e o desenvolvimento do processo de globalização, os países desenvolvidos com taxas de inflação acima de 4% eram contados pelos dedos de uma mão, e somente em momentos de crise como 2001 e 2009. Desde 2010, o número de países desenvolvidos com mais de 4% de inflação é zero.
No mundo não desenvolvido, a situação é menos diferente do que se poderia esperar. Considerando que existem mais de 150 nações, desde 1995 nunca houve mais de 20 países acima da linha de inflação anual de 4%, exceto pelo pico de 62 países na crise de 2008; desde 2010, estes países nem chegaram a dez, de acordo com dados do Banco Mundial.
Em resumo, até agora, no século 21, as economias capitalistas desenvolvidas apresentaram uma inflação média anual de 1,5%, com picos de 3% em 2008. As economias emergentes tiveram um desempenho bastante semelhante: desde 2010, a média mal ultrapassou 3,5%, com exceção da Argentina e da Turquia; contando ambas, não ultrapassa 5% (The Economist, “Fewer exceptions?“, 12-10-19).
Passando aos dados dea 2020, das 42 maiores economias do mundo cujos dados macroeconômicos são coletados semanalmente pela The Economist, apenas duas alcançaram dígitos duplos (Argentina, com 36%, e Turquia, com 13%), e apenas mais três ultrapassaram 4% (Paquistão 9,8%, Índia 6,5% e Egito 4,9%).
Agora, na teoria econômica burguesa, o enigma da inflação baixa, como tantos outros (a origem do valor, os motores do crescimento, a produtividade, o achatamento inexplicável da curva de Phillips e a lista continua), segue sem resolução ou consenso estabelecido.
Portanto, um dos grandes debates políticos, econômicos e acadêmicos a nível mundial é se a tendência de entorpecimento da inflação que tem caracterizado todo o século 21 continuará ou se será revertida como resultado das transformações em todas as áreas geradas pela pandemia. Não menos importante é o volume sem precedentes de emissão monetária e instrumentos fiscais em apenas um ano (ao contrário da flexibilização quantitativa pós-crise de 2008, que se estendeu por mais de cinco anos): “O fato de quase um quinto dos dólares existentes ter sido criado este ano [2020] é claramente perturbador” (The Economist 9224, “Prognostication and prophecy“, 12-12-20).
Segundo o modelo monetarista ortodoxo, esta injeção brutal de dinheiro deveria ter gerado tendências inflacionárias quase imediatamente. Mas, como The Economist nos lembra, “até mesmo o arqui-monetarista Milton Friedman, que inspirou Margaret Thatcher, reconheceu no final de sua vida que a ligação de curto prazo entre a oferta menetária e inflação havia quebrado” (TE 9224, “Will inflation return?“, 12-12-20). Por sua vez, os neo-keynesianos acreditam que o motor da inflação, longe de ser a emissão, é “uma combinação das expectativas públicas de aumento de preços (que tendem a ser autorrealizáveis) e o estado do mercado de trabalho. Ambos apontam hoje para uma inflação baixa” (“Prognostication and prophecy”, cit.).
Assim, o famoso dictum de Milton Friedman de 1963 de que “a inflação é um fenômeno monetário” está pouco menos que no pelourinho, exceto nos templos administrados pelos arciprestes neoliberais (cuja presença na mídia e na academia é completamente desproporcional). A experiência recente, de acordo com o já mencionado Larry Summers, revela que “o que antes era considerado axiomático é, de fato, falso. Os bancos centrais nem sempre podem definir a taxa de inflação através da política monetária” (The Economist, “A new monetarism“, 12-10-19).
A reação a este dogma decadente assume várias formas. Trata-se de reconhecer a necessidade de um papel mais político – e, portanto, menos tecnocrático e “independente” – para os bancos centrais, que assume incluir objetivos macroeconômicos mais “sociais”, como o nível de emprego e o crescimento econômico. Discutiremos abaixo este ponto específico.
Outra resposta que se apresenta como mais abrangente é a chamada “teoria monetária moderna” (TMM), que leva ao extremo a tendência de dissociar completamente a emissão monetária dos efeitos atribuídos a ela pela escola de Chicago (uma espécie de monetarismo Friedmaniano de sinal invertido). Esta corrente sustenta – infundadamente, do ponto de vista marxista – que uma política fiscal baseada em uma generosa oferta de dinheiro pode guiar o ciclo econômico. O problema com a TMM é que uma coisa é jogar fora o evangelho monetarista da estreita relação entre oferta de dinheiro e inflação, e outra bem diferente é conceber a dinâmica econômica como se as restrições da lei do valor não existissem. Os problemas do baixo investimento, da baixa taxa de lucro, do desacoplamento entre ramos produtivos e o desenvolvimento desenfreado de capital fictício não se resolvem tapando buracos nas finanças públicas com uma emissão despreocupada.
É interessante notar que, sem ser em absoluto um representante da TMM, o já mencionado Andolfatto do Saint Louis Fed sustenta muito vagamente que “em princípio, um governo pode refinanciar (rolar) sua dívida indefinidamente (…). A dívida pública pode ser considerada como uma forma de dinheiro em circulação“. (“Does rising national debt portend rising inflation?”, https://www.stlouisfed.org, 2-3-21).
Esta abordagem muito mais frouxa da dívida pública está a anos-luz da ortodoxia neoliberal e presta homenagem tanto ao recuo ignominioso da Bíblia monetarista quanto à necessidade dos bancos centrais de dar ouvidos ao “barulho” político e social, como detalharemos mais abaixo.
Outra conseqüência do ciclo econômico das últimas décadas de baixa inflação e baixas taxas de juros é o mencionado achatamento – que para muitos equivale a uma refutação empírica – da curva de Phillips, ou seja, a relação inversa entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego. Se a curva mantivesse a validade atribuída a ela desde os anos 60 até não muito tempo atrás, duas décadas de inflação muito baixa deveriam ter tido como contrapartida uma alta taxa de desemprego. Mas esta correlação – mesmo considerando as múltiplas variantes teóricas que a curva admite, um clássico da economia burguesa contemporânea – não se aplica a praticamente nenhuma região do mundo desenvolvido, somando-se à longa lista de enigmas não resolvidos que atormentam a teoria econômica tradicional, que ganhou bem seu apelido de dismal science (ciência sombria ou depressiva, mas também pobre, preguiçosa ou deplorável).
Com a vantagem de pelo menos alguma originalidade, também entra no debate o livro recente (final de 2019) de Charles Goodhart (ex-membro do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra) e Manoj Pradhan (ex-chefe da equipe de economia global da Morgan Stanley), A Grande Reversão Demográfica, que atribui o declínio contínuo da inflação às mudanças demográficas e (geo)políticas globais.
Na visão da Goodhart/Pradhan, a integração da China, Europa Oriental e outros países emergentes nos mercados globais insuflou o capitalismo com uma dose de milhões de novos trabalhadores. Esta é a situação que o companheiro Roberto Sáenz chamou de “momento Rosa Luxemburgo“, referindo-se à teoria de acumulação da revolucionária polonêsa, segundo a qual o capitalismo, em sua fase imperialista, exige constantemente a conquista ou anexação de novas áreas anteriormente proibidas ao capital para continuar sua expansão (o que ela chamou de “mercados externos” ao capitalismo).
No contexto desta incorporação de novas áreas nos mercados globais e cadeias de valor, “o poder de negociação dos trabalhadores nos países desenvolvidos caiu, e os aumentos de preços para cobrir aumentos salariais tornaram-se coisa do passado“. Esta teoria se enquadra no fato de que uma proporção muito maior do declínio da inflação nas últimas décadas veio de preços estáveis ou em queda dos bens físicos [goods], cujo local de produção pode ser alterado, e não o de serviços, que devem ser fornecidos “in situ” (cit.). Digamos que embora o quadro teórico de referência dos autores não seja nem remotamente marxista, é impossível não estabelecer uma ligação com o conceito marxista de mais-valia (trabalho não pago ao trabalhador e apropriado pelo capitalista), que é gerado precisamente no setor da produção de bens, não no dos serviços. Entre este ponto e a teoria da inflação dos marxistas Roberts e Carchedi, veremos agora certos vasos comunicantes.
Entretanto, a novidade para Goodhart e Pradhan é que esta situação, originada nos anos 90, foi radicalmente modificada pelo envelhecimento da população em idade de trabalho não apenas nos EUA e Europa, mas também na China e Coréia. Embora, numericamente, a Índia e a África possam equilibrar esta relativa escassez, a falta de mobilidade devido às restrições de imigração e a falta de qualificação desta “população trabalhadora substituta” ou, em termos marxistas, aspirantes a membros do exército de reserva industrial, os impedem de cumprir este papel. Assim, segundo os autores, o poder de negociação salarial dos trabalhadores nos países desenvolvidos deveria aumentar e, com ele, os salários e os preços. A surpreendente (e otimista) conclusão a que chegam é que estas mudanças demográficas estão na base da possibilidade de construir uma sociedade menos desigual. Como Pradhan resumiu em uma entrevista, dirigindo-se às novas gerações, “se você quer mudar o mundo, você está no momento certo” (“Asúmanlo: no volveremos a vivir como hace veinte años“, modaes.es, 21-12-20).
Voltando à explicação teórica da inflação, e ante o óbvio contraexemplo do Japão – onde a tremenda escassez de trabalhadores e uma população envelhecida não gerou nenhuma tendência à recuperação salarial – Goodhart e Pradhan respondem que os empresários japoneses se esquivaram do problema transferindo investimentos e instalações para países de baixos salários (outro tributo não intencional à teoria do imperialismo de Rosa Luxemburgo, a propósito). No Japão, além disso, as importações baratas, produto de uma moeda muito forte, ajudaram a manter a inflação praticamente em zero.
Por sua vez, o marxista britânico Michael Roberts, por um lado, rejeita a idéia de que o fim da pandemia – e as dificuldades econômicas que ela traz – é tão próximo quanto “inflacionistas” e “anti-inflacionistas” parecem assumir; por outro lado, ele propõe uma visão alternativa ao “enigma do desaparecimento da inflação“.
Roberts observa um fato bem conhecido, mas freqüentemente negligenciado: os gigantescos programas de estímulo fiscal – subsídios, emissão de títulos, compra de ativos, flexibilização quantitativa, etc. – não começaram com a pandemia, mas que, com picos e pausas, estão em vigor desde o início da crise global em 2008. E, no entanto, em nenhum caso o resultado dessas injeções de dinheiro levou a um aumento significativo da inflação em qualquer país desenvolvido. E acrescenta: “Ao invés disso, o que aconteceu foi um aumento no preço dos ativos financeiros. (…) Bancos e empresas especularam nos mercados de ações e títulos, e dadas as baixas taxas de juros, inclusive tomavam mais empréstimos (através da emissão de títulos corporativos), com os quais aumentavam os pagamentos de dividendos aos acionistas e compravam de volta suas próprias ações [para fazê-las subir de preço. MY]” (“Deflation, inflation or stagflation?“, 14-2-21).
Assim, o dinheiro bombeado pelos bancos centrais não poderia causar inflação porque nunca chegou à “economia real“, que durante a última década tem visto apenas um crescimento parco ou medíocre. Em contraste, “a economia ‘fictícia’ explodiu. É lá que ocorreu o processo inflacionário” (cit.).
Com relação à explicação da baixa inflação e a eventualidade de um aumento agora, Roberts e o marxista italiano Guglielmo Carchedi propõem uma abordagem do problema com base no critério de que a inflação está em tendência decrescente há anos, pois a proporção da massa salarial em relação ao valor agregado total também tende a diminuir, ao que se soma uma taxa de lucro decrescente como resultado de uma composição orgânica crescente do capital. Nesta elaboração, ambos tomam como ponto de partida a conhecida lei do declínio tendencial da taxa de lucro formulada por Marx na terceira seção do volume III do O Capital (capítulos 13 a 15), que também está ligada à tendência crescente da composição orgânica do capital, ou seja, a proporção do capital alocado aos meios de produção (máquinas, equipamentos, instalações, etc.), que Marx chama de capital constante, com relação ao capital alocado ao pagamento de salários (variável, na terminologia de Marx). A injeção de dinheiro sob a forma de gasto público social e de infraestrutura deve ser vista como um fator que opera contratendencialmente, mas não é o vetor principal da dinâmica.
Sem abrir aqui um julgamento sobre a validade desta proposta de teoria marxista da inflação, e esclarecendo que compartilhamos o critério de manter a lei da queda tendencial da taxa de lucro como parte da explicação da dinâmica da acumulação – estamos preparando um trabalho mais extenso sobre o assunto -, nos permitimos sugerir a incorporação de um elemento: a taxa de juros. Muitos marxistas (incluindo Roberts e Carchedi) defendem a possibilidade de demonstrar empiricamente, através de vários indicadores diretos e indiretos, a direção secularmente decrescente da taxa de lucro. Em nossa opinião, a evolução da taxa de juros tem mostrado um viés de queda semelhante e, devido aos novos papéis (e ao reforço dos antigos) que o crédito assume na dinâmica capitalista, é possível, em certa medida e tomando as devidas precauções metodológicas, considerar a taxa de juros como um relativo “proxy” – isto é, como uma representação próxima, ou uma variável correlata – da taxa de lucro capitalista.
3. A taxa de juros, a Bolsa e a vida
Com relação à política do Fed em caso de superaquecimento da inflação, por enquanto é tudo especulação, considerando também que os diretores regionais do Fed, como vimos, não pensam todos da mesma forma. De acordo com um documento do Massachusetts Institute of Technology (MIT), embora a inflação local seja cada vez mais propensa a refletir fatores globais, este não é o caso da “inflação salarial“, o que sugere que o Fed poderia tolerar um aumento da inflação sem tocar nas taxas. Nesse caso, o resultado seria um relativo enfraquecimento do dólar, o que seria um alívio para os países emergentes altamente endividados em moedas estrangeiras.
Entretanto, qualquer indício de um aumento das taxas desencadearia reações de temor nos mercados globais e forçaria os governos dos mercados emergentes a adotar políticas fiscais e monetárias mais rígidas, ou seja, recessivas. Em suma, “ainda parece improvável que o Fed se torne um falcão [ou seja, aumente as taxas de juros para conter um aumento da inflação”. MY], mas se a temperatura da economia dos EUA subir o suficiente, o resto do mundo pode irromper em suor frio” (TE 9233, “Radiant energy“, 20-2-21).
Por um lado, dado o nível de abertura da economia – neste ponto, pouco prejudicado pelo protecionismo de Trump – um aumento nos gastos públicos e no consumo privado deve impulsionar a demanda não apenas nos EUA, mas também no exterior, beneficiando seus parceiros comerciais. Assim, o aumento da atividade nos EUA deveria, por sua vez, mobilizar o comércio exterior (o que, indiretamente, poderia conter aumentos excessivos de preços nos EUA). Por outro lado, muito do efeito global da inflação mais alta nos EUA dependerá de como a autoridade monetária, ou seja, a Reserva Federal, reagirá. Acima de tudo, é crucial o que aconteça com o instrumento de intervenção monetária por
Com o aumento da inflação nos EUA, sem dúvida se enfraqueceria a posição das “pombas” que se opõem a tomar medidas de aperto monetário até que a recuperação econômica seja confirmada. Por exemplo, o Fed estabeleceu recentemente como meta de inflação não os tradicionais 2% ao ano (nos EUA, como em outros países, o número tem sido inferior a isso durante anos), mas uma “média de 2%” para um período que não está totalmente definido, mas que, se abranger vários anos, daria uma margem respeitável para um ano exceder 2% sem que o Fed decidisse intervir.
Entretanto, como dissemos, esta indeterminação deixa a porta aberta para posturas menos passivas. O vice-presidente do Fed, Richard Clarida, insiste que a média deve incluir apenas o ano anterior, o que, em caso de inflação acelerada, significa que o limite a partir do qual o Fed deveria aumentar as taxas chegaria muito em breve. As conseqüências desse eventual aumento de tarifas são conhecidas: um resfriamento da economia e uma restrição aos aumentos de preços (e salários). Mas a mudança não é isenta de riscos, pois no contexto de uma economia como os EUA, que vem de uma forte perda de empregos e de uma deterioração significativa na renda e na situação social de milhões de pessoas, um resfriamento muito prematuro da economia pode matar no ovo uma recuperação econômica que por enquanto está mais nas previsões do que nos fatos.
Contudo, este não é o único perigo, e nem sequer o perigo mais importante, de aumento das taxas: “Quase todo o cenário financeiro atual se baseia na premissa de que os bancos centrais manterão as taxas baixas por muito tempo. Por trás da idéia de que o Estado pode gastar o quanto quiser está no dinheiro barato”, que por sua vez depende de taxas de juros negativas ou quase negativas em termos reais (The Economist 9232, “Inflategate”, 2-13-21). Já existe um grave precedente: o “taper tantrum” de 2013, ou seja, o pânico nos mercados globais quando o Fed anunciou que interromperia a flexibilização quantitativa, assumindo que o pior da crise global havia terminado. Mesmo aqueles mais preocupados com a inflação – exceto os ultraliberais mais recalcitrantes – admitem que a economia global está muito acostumada a uma dieta de taxas baixas: “Para Wall Street, um aumento das taxas seria um choque. Para os mercados emergentes seria desesperante” (TE 9232, idem).
De fato, um fortalecimento do dólar e uma saída de capital dos países emergentes mais endividados, como aconteceu em 2013, teria um efeito potencialmente muito mais destrutivo sobre as chances de recuperação das economias que já foram duramente atingidas pela pandemia.
Muitos vêem o curso da economia pós-2020 – ainda é muito cedo para pensar sequer em falar de uma economia pós-pandêmica – como uma oportunidade para sair do ciclo de mediocridade global atormentado pelo paradigma do “triple low” (taxas de juros baixas, baixo crescimento, baixa inflação). Entretanto, quando a idéia de aumentar a taxa de crescimento econômico é acompanhada por um aumento da inflação que implicaria num aumento da taxa de juros, o desejo pode ser obscurecido pelo temor. E uma das razões é que a fragilidade de uma economia acostumada a taxas baixas se soma a volatilidade de uma bolsa de valores de capital fictício que há muito tempo parece viver no melhor de todos os mundos.
A distância crescente entre o deserto econômico no campo industrial (com escassas exceções) deixado pela pandemia e a contínua festa de champanhe do mundo financeiro, o mercado de ações e os investimentos especulativos é um fenômeno que vem ocorrendo há anos, mas o que aconteceu no ano passado adaptou características francamente obscenas.
Entretanto, ao contrário da maior parte de 2020, quando os ganhos (tanto reais quanto derivados do mercado acionário) se concentraram em um punhado de indústrias e empresas, enquanto o resto passava mal, nos últimos dois ou três meses mostraram sinais de que a bonança pode agora ser um pouco mais ampla. Por exemplo, dos dois maiores índices de empresas de capital aberto, o Standard & Poor’s 500 (as 500 maiores empresas listadas) e o Russell 2000 (as 2.000 maiores, cuja composição reflete um espectro muito mais variado em tamanho e tipo de empresa), é este último que está mostrando agora um avanço muito significativo em seus lucros, mais do que duplicando o SP 500.
A explicação mais amplamente aceita para este reposicionamento de empresas menores é que o preço de suas ações está incorporando expectativas de uma forte e rápida recuperação da economia diante de um horizonte do fim das restrições covid-19 com o plano de vacinação, juntamente com o pacote de estímulo fiscal maciço para empresas e famílias proposto pela administração Biden. Agora, o que aconteceria se a) o pacote fiscal não fosse aprovado (pelo menos não no montante previsto) e/ou b) o surgimento de uma nova cepa paralisasse a reanimação econômica que hoje nos deixa entrever o avanço da vacinação?
Um dos problemas é que os preços exuberantes das ações, cuja dissociação com os números da operação concreta das empresas ninguém ignora há algum tempo, em grande parte assumem como fatos o que por enquanto são expectativas. Nas palavras de Michael Wilson, da Morgan Stanley, se em 2020 houvesse um mercado de ações robusto no contexto de uma economia em declínio, o contrário poderia ser verdade em 2021, porque o preço atual das ações “já inclui muitas boas notícias“, o que também precisa ser confirmado. Se, por qualquer motivo, a recuperação for atrasada, a lacuna entre “o mercado de ações e a vida” pode se tornar insustentável (The Economist 9232, “Harbingers of boom“, 13-2-21).
Veremos abaixo que, de acordo com Roberts acima mencionado, existe uma estreita relação entre o aumento da dívida sem inflação de preços e a disparada dos preços das ações em Wall Street (sobretudo) e outros mercados. Este aumento contínuo vem ocorrendo há anos, mas não deixou de surpreender que a pior recessão mundial em quase 90 anos não tenha feito a menor diferença na exuberância dos preços das ações: “A única maneira de justificar tal euforia do mercado acionário é a expectativa de uma forte, mas sem inflação, recuperação econômica em 2021 e mais além” (The Economist 9224, “Will inflation return?“, 12-12-20).
Este caminho de glória para as ações, em completa divergência com o desempenho da “economia real”, é algo que o estabelechiment econômico, com demasiada frequência toma por assentado como normal. Por isso, tão recentemente como em dezembro passado o consenso entre os economistas mainstream era de que, a evolução mais provável para as economias desenvolvidas fora a do Japão, seria um crescimento contínuo, inflação e taxas em níveis baixos: “Predizer o fim desta tendência é algo como uma apostasia” (TE 9224, cit.).
A reversão deste estado de ânimo bastante sombrio em relação ao crescimento, por outro lado, gerou uma corrente de profetas do pessimismo, mas neste caso em relação às conseqüências negativas de um ressurgimento da inflação. Mas não apenas, e talvez não principalmente, para os EUA, mas sobretudo para o mundo “emergente”, como veremos a seguir.
4. Emergentes: a taxa de juros, a dívida e a “politização” dos bancos centrais
Há uma relação de dependência recíproca entre a premissa de baixa inflação, o descenço “decenal” – já que não secular – das taxas de juros e o aumento do endividamento dos estados soberanos, empresas e famílias. Como Michael Roberts freqüentemente aponta, nas três áreas o nível da dívida não parou de crescer na última década; no caso dos países desenvolvidos a média é de 125% do PIB, mais que dobrando o “umbral Maastricht” de 60% que a União Européia manteve durante décadas como limite aceitável.
Mas não se trata apenas do mundo desenvolvido: em 53 das 60 economias emergentes, segundo a Standard & Poor’s, a taxa de juros da dívida pública está abaixo da taxa de crescimento esperada da economia em 2021; assim, a chamada “taxa de juros ajustada ao crescimento” é negativa. Isto certamente parece uma boa notícia, mas chafurdar nela pode ser perigoso. Assim, em uma conferência recente, o ex-economista chefe do FMI de 2008 a 2015 e o atual pesquisador do MIT Olivier Blanchard alertava para a necessidade de rever as políticas fiscais no sentido de “não se concentrar no número mágico da relação dívida/PIB (…) Esses números eram contraproducentes e o seriam ainda mais hoje” (The Economist 9232, “Some pleasant fiscal arithmetic“, 13-2-21).
Vamos deixar de lado que Blanchard não parece fazer o menor movimento de autocrítica pelo dogma da relação entre dívida e PIB, com o qual ele atormentou, entre outros, a Grécia, sacrificando inúmeros sofrimentos humanos no altar daqueles “números mágicos” (tradicionalmente, o limite para o volume da dívida sobre o PIB era de 60% para os países desenvolvidos e 40% para os países emergentes), que agora se revelam não apenas “contraproducentes”, mas, como ele reconheceu na mesma conferência, “absurdos” (nonsensical). O que é importante reter é que em um mundo de taxas tão baixas por um período tão longo é possível que muitos Estados emitam dívidas e acumulem déficits sem que isso, a priori, piore significativamente a relação dívida/PIB, o indicador mais historicamente aceito para medir o estado das contas de um país (e seu conseqüente risco de insolvência ou default).
De fato, estes limites foram confortavelmente excedidos por ambas as categorias de países por pelo menos uma década – em muitos casos, bem mais de uma década – (Blanchard argumenta que em qualquer caso o diferencial entre eles deve ser mantido, embora ele não esclareça se na faixa de 20%, um terço ou o quê). Em geral, as previsões do dia do juízo final sobre aqueles que sistematicamente excederam o “número mágico” não se realizaram, o que dá uma dica da natureza arbitrária de seu uso. Como admite o Andolfatto do Fed de St. Louis, “ninguém sabe realmente quão alta a relação dívida/PIB pode chegar [antes que se torne perigosa. MT]. Só podemos saber quando lá chegarmos. (…) Enquanto a inflação estiver a um nível tolerável, não há razão maior para se preocupar com o aumento da dívida nacional” (“Does Rising National Debt Portend Rising Inflation?”, https://www.stlouisfed.org, 2-3-21).
No entanto, nada disso significa que há espaço para a complacência, especialmente agora. Por enquanto, por trás da relação dívida/PIB, (com o “número mágico” acima ou com outro) há uma série de variáveis a serem consideradas que podem mudar o quadro por completo. A primeira é, naturalmente, a composição monetária da dívida. Há uma diferença crucial entre empréstimos em moeda local ou em moeda estrangeira. A primeira alternativa – embora carregue seus próprios riscos – permite mais espaço de manobra com o serviço da dívida e o pagamento de juros. Por outro lado, a dívida em moeda estrangeira está exposta a saltos não diretamente ligados ao desempenho econômico, o que relativiza completamente a utilidade da “taxa de juros ajustada ao crescimento” negativa. Como as receitas dos estados nacionais são essencialmente em moeda local, uma desvalorização aumenta proporcionalmente e imediatamente a relação dívida/PIB sem que a taxa de juros interfira. Assim, o problema que foi “resolvido” através da redução do risco de crédito (taxas de juros baixas) retorna através do risco cambial.
Um segundo fator é o eventual deslocamento (crowding out) do crédito público aos investidores privados, pois os fundos públicos devem destinar-se ao serviço da dívida. Este efeito é menos relevante quando o Estado desempenha um papel importante no investimento de capital através de empresas e obras públicas. Este é o caso da Índia, por exemplo, mas tais situações são bastante excepcionais; a norma é que os Estados nos países emergentes têm poucas empresas públicas relevantes e que seu próprio orçamento para obras de infraestrutura é limitado, como na América Latina, ou quase inexistente, como na África.
Em terceiro lugar, e estreitamente relacionado ao risco cambial mencionado no primeiro fator, temos expectativas de inflação (algo que Andolfatto observou, como vimos). Países como Argentina (especialmente), Turquia, Egito ou Paquistão têm um piso de inflação muito alto para alocar maiores volumes de gastos públicos para promover o crescimento (seja através de obras públicas, promoção do consumo de massa ou outras ferramentas similares) sem se expor a uma crise cambial. É verdade, entretanto, que em países com baixa utilização da capacidade instalada, a margem para estimular a demanda é maior e menos arriscada. Mas geralmente não são a maioria.
Finalmente, embora não seja importante, o “otimismo fiscal” abraçado pelos keynesianos e “progressistas” de todas as latitudes dá como certa a continuidade do cenário de taxas de juros reais negativas (abaixo da inflação) e também muito baixas em termos absolutos. Entretanto, qualquer decisão inoportuna ou não tão inoportuna do Fed para aumentar as taxas entraria em colapso em questão de meses ou semanas o castelo de cartas dos esquemas de financiamento da dívida soberana ancorado em “dinheiro barato”. Como diz o relatório especial do Economist, “as taxas baixas facilitam o financiamento das demandas do erário público pelos governos (…) mas também as tornam dependentes da política monetária frouxa e vulneráveis às altas taxas de juros, caso retornem” (“The eternal zero “, cit.).
Ninguém pode garantir que taxas baixas, uma condição sine qua non de qualquer abordagem fiscalista – no Primeiro Mundo ou no Terceiro – serão mantidas, muito menos no contexto de um renascimento quase certo da taxa de inflação nos EUA (acima de tudo) e também global.
Seguindo de certa forma este critério de conceber o fenômeno da inflação em termos menos estritamente econômicos e prestando mais atenção a seus aspectos políticos e sociais, outro argumento apresentado por aqueles que vêem com prevenção uma possível recuperação da inflação é o das mudanças nas margens de ação dos bancos centrais. Lembram que o exemplo decisivo da derrota da inflação nos EUA ocorreu aí com a decisão da Reserva Federal e de seu chefe Paul Volcker (1979-1987) de aumentar as taxas e deliberadamente induzir uma recessão até que os preços caíssem. Digamos que esta ação foi a pedra de toque do credo neoliberal da “independência” dos bancos centrais, um conceito que nos anos 70 era uma minoria no próprio establishment. A idéia então – e até hoje defendida pelos ultraliberais mais recalcitrantes – era que as autoridades monetárias tivessem a capacidade de tomar “medidas anti-inflacionárias” – o que quase sempre equivalia a elevar as taxas e esfriar a economia até a recessão e o desemprego – “sem importar o que os governos e o público pudessem querer” (TE 9224, ” Prognostication and prophecy “, cit.).
Naturalmente, sob a capa da “tecnocracia estatal” e de “dar poder de decisão àqueles que sabem”, a ideologia da independência dos bancos centrais visa deixar as principais alavancas da política econômica nas mãos de quadros “técnicos” da classe capitalista, sem necessidade de prestar contas a nenhum governo ou ao eleitorado, como um resseguro contra eventuais oscilações políticas “populistas” (para usar a linguagem política atual, não a dos anos 80). Esta verdadeira blindagem, além disso, foi baseada na suposição de que o objetivo principal, quase único dos bancos centrais era a estabilidade dos preços e o controle da inflação. É verdade que alguns bancos centrais, em particular o Fed, também estabelecem metas como o “pleno emprego”; às vezes também é feita referência ao crescimento. Mas, além do que foi estabelecido em suas cartas ou critérios de fundação, na prática política concreta, a norma naquele período era desvincular-se de qualquer outra coisa que não fosse “preservar o valor da moeda”.
Entretanto, um dos indicadores indiretos de que as relações globais de poder entre as classes não são as da era dourada do ciclo neoliberal é precisamente que “é possível que estas normas estejam enfraquecendo. Nos últimos anos tem havido ataques crescentes à independência dos bancos centrais (…). Os bancos centrais agora admitem em todos os lugares, embora silenciosamente, que além de guardar a estabilidade de preços, eles também procuram manter baixos os custos de financiamento a longo prazo dos estados, a fim de facilitar o estímulo fiscal” (cit.). Mas admitir isto é assumir a derrota da velha ordem monetária, já que ambos os objetivos são basicamente, é claro, incompatíveis. Na medida em que o instrumento privilegiado para combater o aumento dos preços é aumentar as taxas de juros, enquanto o mecanismo óbvio para garantir financiamento barato aos governos é baixá-las, o máximo a que a autoridade monetária pode aspirar é um equilíbrio quase impossível entre ambos os objetivos. O que, por outro lado, nada mais faz do que sublinhar que este tipo de decisão nunca foi uma questão de gestão tecnocrática, mas um exercício de administração política, sujeito às condições da luta de classes.
O fato de que “o estímulo monetário não causou inflação de preços ao consumidor mostra apenas que os bancos centrais estavam reagindo às forças do mercado, não as distorcendo” (The Economist Special Report, “The eternal zero“, 10-10-20) É claro que, para o dogma monetarista neoliberal, toda intervenção dos bancos centrais é “distorcionária”.
5. Perspectivas e primeiras lições
Para Roberts, é um erro abordar as perspectivas econômicas como se o resultado final fosse a taxa de inflação futura. Ao contrário das preocupações de alguns keynesianos de que o pacote de estímulos é muito grande – como conversões repentinas para a ortodoxia monetarista – o ponto de vista de Roberts é que, mesmo se aprovado em sua totalidade, pode se revelar não muito grande, mas insuficiente. De fato, se a chuva de subsídios se destina a restaurar a chamada “demanda efetiva” dos lares, o que pode acontecer é que “as transferências para os lares provavelmente serão usadas para pagar dívidas, acumular economias, pagar aluguéis em atraso e cobrir despesas de saúde. Não sobrará muito para viagens, restaurantes e afins” (cit.). Deste ponto de vista, a visão de Roberts parte de premissas semelhantes às do já mencionado Vlieghe do Banco da Inglaterra.
Acontece que muitos dos que levantam o fantasma inflacionário não parecem registrar completamente o nível de deterioração do tecido social americano, que a pandemia agravou. Em textos anteriores, fizemos referência a alguns dados estatísticos sobre o alarmante aumento da pobreza, famílias com déficits alimentares e famílias em risco de despejo. A este panorama, Roberts acrescenta um fator que só os críticos marxistas tendem a apontar em toda sua magnitude: a lacuna entre os números oficiais do desemprego e os números reais. Enquanto a taxa oficial de desemprego é de 6,7% moderada, “até mesmo as autoridades estatísticas e o Fed admitem que ela está provavelmente em torno de 11-12%, ou até mais alta se você incluir os 2% da força de trabalho que desistiu completamente do mercado de trabalho” (cit.).
Agora, a grande questão então é se veremos ou não um crescimento no volume de investimento produtivo necessário para absorver essa massa de desempregados. Mas o investimento, por sua vez, depende do nível de rentabilidade esperado, o que, precisamente nos setores mais críticos – no sentido de ser o mais apropriado para gerar empregos -, não é encorajador. O nível geral de rentabilidade das empresas ianques é um número enganoso se não se discrimina por ramo, e é lá que se pode ver que, além das grandes empresas de tecnologia que desfrutam de taxas de retorno muito altas e dos lucros gerados no ou do setor financeiro – que a longo prazo podem se revelar tão fictícios quanto o capital que lhes deu origem – o panorama não augura nenhuma chuva de investimentos nos setores que criam mais empregos.
Se isso se verifica, não há um “multiplicador keynesiano” dos gastos do governo para compensar este déficit de investimento de capital genuíno. O cálculo não é difícil: o pacote de estímulo fiscal, assumindo que atinge o máximo de US$2,8 trilhões (os US$1,9 trilhões propostos por Biden mais os US$0,9 trilhões já aprovados sob Trump) é equivalente a 13% do PIB norte-americano pré-pandêmico. Mas essa injeção de dinheiro não é inoculada na economia de uma só vez, mas é proposta para ser dosada durante quatro ou cinco anos, o que significa um reforço na ordem de 3-4% do PIB por ano, na melhor das hipóteses. E esse número “não pode ser decisivo se o investimento do setor privado (cerca de 15-20% do PIB) permanecer estagnado” (cit.).
Sem mencionar que o quadro geral mudaria drasticamente no caso de uma reversão, por qualquer razão, das baixas taxas de juros. Com o atual nível de endividamento, tanto do tesouro americano (hoje 110% do PIB, e em ascensão) como das empresas (e famílias), qualquer aumento não episódico das taxas nos obrigará a discutir tudo novamente em uma base muito mais fraca, inicialmente, como vimos, para as economias emergentes.
Voltemos agora à evolução da economia em geral e da economia ianque em particular, no ano da covid-19. Como assinalamos, no balanço global tanto os lucros corporativos quanto os salários caíram (embora houvesse setores que ganharam), e o resultado foi uma inflação muito fraca (praticamente deflação no primeiro semestre do ano). Mas isto aconteceu enquanto os bancos centrais do mundo desenvolvido, e especialmente o Fed, emitiam dinheiro furiosamente: o cálculo de Roberts é que o M2 (a oferta de dinheiro, que inclui dinheiro efetivamente em poder do público mais depósitos bancários à vista) aumentou surpreendentemente 40% em 2020. E o efeito inflacionário? Bem, temos que procurá-lo não nos preços das mercadorias – que no final do ano só arranharam 1,5% anualmente – mas na exuberância dos preços das ações de Wall Street.
A previsão de Roberts é que mesmo assumindo um aumento generoso de 5-10% nos salários e lucros corporativos, a inflação de bens e serviços nos EUA oscilará em torno de 3% ao ano, “não exatamente algo ‘não visto em uma geração’“, ele observa com zombaria contra keynesianos assustados, de modo que “nos próximos anos a economia dos EUA terá mais probabilidade de sofrer de estagflação do que de ‘superaquecimento’ inflacionário” (cit.).
Uma das primeiras lições a emergir do lançamento à roda do debate sobre a inflação é até que ponto a economia, a dismal science, está perdendo seu brilho como disciplina tecnocrática para o uso e abuso de especialistas treinados em teorias abstratas, curvas, equações e funções, e está lentamente começando a ser manchada pela lama, suor e sangue das pessoas que trabalham.
A inflação não é (apenas) uma questão de burocratas atrás das mesas dos bancos centrais, mas também uma função da exploração do trabalho humano. As taxas de juros não são (somente) decididas com base em fórmulas aprendidas na universidade, mas também em resposta a pressões sociais que se materializam em pessoas desempregadas, salários insuficientes, desertos demográficos e fluxos migratórios. A economia não é (somente) matemática; é, como os marxistas sempre disseram, também, e fundamentalmente, uma luta de classes. Bem-vindo se a nova situação criada pela pandemia começar a trazer isso à tona mais claramente; não mais para os tomadores de decisão privilegiados, mas para os milhões que podem tomar as ruas para questioná-los.
Original publicado em http://izquierdaweb.com/vuelve-la-inflacion-global/
Tradução José Roberto Silva