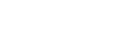Um cheiro inconfundível da diplomacia do estilo da Guerra Fria, que nos últimos dias passou pela mídia e pelas sedes diplomáticas em todo o mundo.
MARCELO YUNES
Justamente quando parecia que Biden estava vindo para dar uma aparência de “razoabilidade” às relações internacionais dos EUA após idas e vindas vulcânicas de Trump, de repente apareceram manchetes anunciando que Biden havia chamado o presidente russo Vladimir Putin de “assassino”. Que esta não foi um destempero no estilo Trump foi evidenciada pela confirmação deliberada da definição por Biden.
Não foi o único momento de tumulto. Muito mais importante, na verdade, foi a reunião diplomática menos mediatizada, mas muito significativa, no Alasca, entre autoridades americanas e chinesas, da qual se esperavam as habituais declarações inócuas. Mas desde o início, a atmosfera foi tão carregada de reprovações e acusações mútuas que não faltou pouco para que acabassem em tapas. O que é isto? Quanto disto é uma exposição para a imprensa e quanto é a tensão real? Existe uma reação exagerada de Biden? Até que ponto há continuidade de Trump e até que ponto há uma mudança política nas relações dos EUA com seus grandes rivais geopolíticos, especialmente a China?
O que resta da era Trump e o que Biden agrega
Para tentar entender a política de estado além dos discursos, pode-se começar colocando o próprio Biden, sua equipe e as mudanças e continuidades com a era Trump em contexto. Poucos têm em mente que, ao contrário de provincianos incuráveis como os dois últimos presidentes republicanos (George W. Bush e Trump) e até mesmo Obama – cujo histórico de política externa antes de sua presidência era bastante escasso – Biden é “o presidente mais literato em assuntos externos que os Estados Unidos tiveram desde que George H. W. Bush [o pai de George W. Bush] tomou posse em 1989″. Um ex-presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, então vice-presidente por oito anos, teve um papel ou uma opinião sobre a maioria da política externa desde o final da Guerra Fria. A equipe que ele escolheu para as relações exteriores, dominada por outros veteranos da administração Obama, como John Kerry e Tony Blinken – um ex-secretário de Estado e outro prestes a assumir o cargo, que assessora Biden no assunto há décadas – é quase tão credenciada” (“Back to the future”, The Economist 9229, 23-1-21). Também faz parte dessa equipe o especialista em assuntos asiáticos Jake Sullivan, agora Conselheiro de Segurança Nacional (um cargo logo abaixo de Secretário de Estado) e um dos “Democratas de 2021”, como analista do think tank de direita Brookings Institution a ala mais anti-China.
Contrariamente à histeria dos setores mais trumpistas, se há algo visível na política externa da nova administração dos EUA é o claro abandono da política Obama de “compromisso e coexistência” com a China – ancorada na interdependência comercial mútua e integração produtiva – em favor de um critério claramente focalizado em considerar a China como o mais importante inimigo estratégico dos EUA. De fato, “Biden aceitou essencialmente o pensamento republicano sobre a China” (The Economist, cit.), e isso explica o tom inusitadamente duro da blinkdiplomacy no Alasca, o que lhe valeu os aplausos até mesmo da ultra-conservadora Heritage Foundation: “Blinken tem toda a razão (…). A administração Biden não tem nada a perder por ser tão dura. Ser duro com a China ou com a Rússia reúne consenso tanto do lado democrata quanto republicano. Todos querem ser duros”, disse um de seus porta-vozes, James Carafano (Ámbito Financiero, 3-22-21).
Em resumo: no aviário da política americana em relação à China, os pombos simplesmente desapareceram. Tudo o que resta são diferentes variedades de falcões. É somente a partir da base sólida de considerar a China não somente como a potência mais hostil, mas também como a verdadeira rival estratégica a longo prazo, que começam a surgir algumas diferenças sutis no tratamento da relação bilateral. Por exemplo, Blinken e Sullivan certamente não querem adotar a postura mais simplista de “guerra fria em todas as frentes” contra a China no estilo antigo do confronto com a URSS. Na concepção da política da China, embora haja plena continuidade com a definição central de Trump – hostilidade estratégica – há pelo menos dois pontos importantes que marcam uma diferença.
A primeira é que a rivalidade com o gigante asiático deve se concentrar nas áreas-chave onde há conflito real, presente ou potencial, enquanto que nas áreas – poucas, mas importantes – onde alguma forma de cooperação é possível, isto não pode ser jogado borda fora. Assim, na esfera comercial – incluindo a cadeia de fornecimento global -, na alta tecnologia digital e na disputa ideológica mais geral – com ênfase clara nos direitos humanos – e geopolítica (em particular a relação com os vizinhos do sudeste asiático da China), prevalece categoricamente o confronto, mesmo às custas da globalização e correndo o risco de uma “splinternet” (internet dividida em áreas de influência)1. Episódios como a reunião em Anchorage (Alasca) ilustram este lado do relacionamento, onde um dos principais núcleos é a competição pelo primado tecnológico em áreas como semicondutores, 5G para telefones celulares, robótica e inteligência artificial.
Por outro lado, em questões como a mudança climática – uma prioridade decidida pelo Partido Democrata – e a gestão da saúde pública relacionada à pandemia (apesar do atrito sobre a questão da pesquisa sobre a origem da Covid-19 em Wuhan), a ideia é chegar a acordos de conveniência mútua, que mostrem os EUA como um líder mundial capaz de deixar de lado as rivalidades para lidar de forma responsável com questões onde a cooperação é urgentemente necessária em todo o planeta. Outra coisa é que curtos-circuitos nas primeiras áreas podem acabar afetando as possibilidades de progresso nas outras.
O segundo aspecto no qual é sem dúvida possível identificar uma mudança na diplomacia de Trump é o reconhecimento da necessidade de reconstruir ou consolidar as alianças geopolíticas tradicionais dos EUA com a Europa e outros parceiros, especialmente na Ásia. Isto não é realmente uma novidade, mas sim o contrário: um retorno à política tradicional dos EUA como chefe hegemônico dos blocos aliados, eliminando o unilateralismo isolacionista “América primeiro” de Trump, que na prática significava “América primeiro, sozinha e sozinha contra todo o resto”. Como um membro sênior da Brookings Institution, Thomas Wright, diz: “Trump teve um sério problema com os aliados da América. Ele estava mais irritado com seus aliados do que com seus rivais”, o que foi explicado, pelo menos em parte, pelo fato de que “Trump tinha afinidades pessoais com os autocratas, com os ‘homens fortes’. Ele os admirava” (Ámbito Financiero, cit.).
Sem entrar em meandros psicologistas, há um fato político inegável: aquela relação de empatia ou encenação de “amizade” que Trump estabeleceu com líderes autoritários como Xi, Kim da Coréia do Norte, Erdogan da Turquia ou o próprio Putin não poderia deixar de minar a autoridade ideológica dos EUA como “líder do mundo livre”. É bem conhecido que Trump teve um desprezo olímpico pelas questões de direitos humanos, beirando a inveja dos autocratas que poderiam ignorar as formas democráticas2.
Bem, neste caso há uma virada de 180 graus da administração Biden, o que coloca a questão de volta no centro do debate ideológico com rivais como a China e a Rússia. Com isso, reiteramos, nada mais faz do que retornar aos motivos tradicionalmente caros à pregação ianque como o “líder dos valores ocidentais”.
Isto também significa o fim dos maus tratos aos aliados – os suspiros de alívio da sede diplomática europeia com a vitória de Biden foram ouvidos de Washington – e, ao contrário, a paciente reconstrução de alianças e tecido diplomático com as potências europeias, com o Japão, a Coréia do Sul, a Austrália, a Índia e também com Taiwan e os dez países com costas no Mar da China do Sul (incluindo as Filipinas, cujo líder Rodrigo Duterte vinha dando sinais preocupantes de aproximação com a China).
Todo este complexo entrelaçamento de posições antigas e novas, relações tradicionais em desuso e alianças renovadas, relativa aproximação e distanciamento em algumas áreas ou outras, é o que começou a se tornar aparente na cúpula de Anchorage. Ali, como veremos em breve, o duro intercâmbio entre diplomatas chineses e americanos de mais alto nível, além dos aspectos um tanto teatrais da questão, já revela parte da agenda, as formas e os motivos que marcarão as relações entre as duas maiores potências do planeta no próximo período.
Uma diplomacia muito pouco diplomática
O encontro no Alasca já estava temperado com o forte cruzado de Biden contra Putin (“ele é um assassino”, em referência específica ao que aconteceu com o opositor liberal Alexei Navalny), o que representou um avanço em relação ao primeiro telefonema em fevereiro, no qual Segundo Biden, “Eu lhe disse claramente, de uma maneira muito diferente do meu predecessor, que o tempo para os Estados Unidos se submeterem aos atos agressivos da Rússia [referindo-se à atitude quase blasé de Trump em relação à anexação de Putin à Crimea] já passou “3.
Quanto à mensagem em relação à China, o próprio local e hora da cúpula já era uma indicação. Os Estados Unidos haviam insistido que a reunião fosse realizada em seu território, e os principais representantes do governo dos EUA, o Secretário de Estado Blinken e o Conselheiro de Segurança Nacional Sullivan, haviam acabado de concluir um tour pelos principais aliados dos EUA na Ásia, Japão e Coréia do Sul.
Por enquanto, mesmo que os aspectos mais difíceis da relação comercial não fizessem parte da agenda, a idéia dos Yankees era mostrar que na disputa tecnológica eles iriam recorrer a movimentos mais sutis do que o tratamento brutal de Trump com Huawei (aprisionando um de seus principais executivos com a ajuda de outro aliado, o Canadá) ou contra TikTok. Assim, a corrida com a China “em todas as frentes para oferecer tecnologia competitiva, em inteligência artificial e supercondutores” vai se dar recorrendo a “bilhões de dólares em investimentos estatais para projetos de pesquisa e desenvolvimento, e através de novas parcerias com indústrias na Europa, Índia, Austrália e Japão”, embora, como reconhece Kurt Campbell, consultor de Biden para questões asiáticas e arquiteto da nova estratégia, “não é algo que será resolvido em semanas ou meses”; é provavelmente um plano para administrações sucessivas” (“Os EUA, em uma competição feroz como na Guerra Fria, mas por outras razões”, D. Sanger, The New York Times, em La Nación, 20-3-21).
Entretanto, esta troca civilizada de idéias foi rapidamente contaminada por medidas claramente provocatórias tomadas pelos EUA, tais como a sanção de 24 funcionários chineses por “minar as liberdades democráticas em Hong Kong”, seguida de ameaças similares a outras em relação à situação dos Uighurs (“genocídio”, de acordo com os EUA) 4 e até mesmo as sanções cruzadas entre a China e a Austrália, agora em plena escalada. É claro que Xi não estava muito atrás deles: em fevereiro, após uma conversa telefônica de duas horas entre Biden e Xi, este último não tinha melhor idéia do que declarar que “a maior fonte de caos no mundo de hoje são os Estados Unidos”, o que também representa “a maior ameaça ao desenvolvimento e à segurança de nosso país” (“Biden e Xi começam a se medir e uma nova política americana toma forma”, D. Sanger e M. Crowley, La Nación, 18-3-21).
Diante da notícia das sanções – para completar, acompanhado na hora pela revogação de licenças para empresas chinesas de telecomunicações e citação judicial para várias empresas de tecnologia com a desculpa da “segurança nacional” – o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, comentou que “isto não é maneira de receber convidados”. Por sua vez, Yang perguntou sem rodeios a Blinken se o momento do anúncio das sanções foi escolhido deliberadamente. “Bem, eu acho que nós pensamos muito bem dos Estados Unidos. Pensamos que os EUA iriam seguir os protocolos diplomáticos necessários”, ele atirou de volta (“EUA e China se repreendem publicamente nas primeiras grandes conversas da era Biden”, Justin McCurry, The Guardian, 19-3-21).
Digamos que a China respondeu imediatamente anunciando o julgamento de dois canadenses, que segundo Ottawa são “reféns diplomáticos” em retaliação pela prisão no Canadá de Meng Wanzhou, um executivo sênior de Huawei (e a filha de seu fundador).
Neste contexto, os jornalistas presentes na reunião de Anchorage não deveriam ter ficado tão chocados quando, em violação de todas as convenções diplomáticas, os representantes dos dois países, em vez de respeitarem profissionalmente o limite de dois minutos para cada intervenção, continuaram por mais de uma hora, o que a certa altura obrigou os funcionários americanos a evacuar a sala de jornalistas, que não podiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo.
Como observa um jornalista presente, com a secura e a eufemismo tipicamente britânica, “as aberturas de cúpula diplomáticas são geralmente eventos maçantes, cuidadosamente coreografados, uma vitrine para as câmeras do mundo antes que as portas se fechem e as verdadeiras conversas comecem”. Portanto, se as pessoas responsáveis pelo que é provavelmente a relação bilateral mais significativa do mundo não conseguem conter a tensão durante os poucos minutos que leva para registrar uma conferência de imprensa, isso sugere que tempos ainda mais turbulentos estão por vir” (Will a chilly meeting in Anchorage set the tone for US-China relations?, Emma Graham-Harrison, The Guardian, 19-3-21).
A coisa não foi desperdiçada: o principal diplomata chinês, Yang Jiechi, ofendido pelo comentário de Blinken sobre os direitos humanos na China, fez um pronunciamento de quinze minutos contra o “racismo, hipocrisia, condescendência e intimidação” de Washington. Ele se deu ao luxo de rebater os EUA por suas violações dos direitos humanos “e não apenas nos últimos quatro anos”, como demonstra a ascensão do movimento Black Lives Matter (J. McCurry, cit.). Ele acrescentou: “Acreditamos que é importante para os EUA mudar sua imagem e parar de propor seu próprio modelo de democracia ao resto do mundo”, uma vez que “muitas pessoas dentro dos EUA realmente têm muito pouca confiança na democracia americana” (Ibid.).
Blinken, por sua vez, referiu-se às “ações da China em Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, ataques cibernéticos aos EUA e coerção econômica de nossos aliados” como uma “ameaça à estabilidade global”, à qual Yang respondeu que “os Estados Unidos usam a força militar e a hegemonia financeira para agir fora de sua jurisdição e oprimir outros países”. Ela abusa da chamada segurança nacional para obstruir o comércio e incita vários países a atacar a China. Deixe-me dizer-lhe que os Estados Unidos não estão qualificados para se referir à China a partir de uma posição de força” (Ibid.).
Como você pode ver, estamos longe do jargão versaillesco habitual da rotina diplomática e mais perto de uma discussão entre dois grupos de gângsteres!
Após o ultraje, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês esclareceu que não era intenção da China buscar o confronto, e que ela havia apenas respondido a uma provocação. Mas depois da reunião, as coisas continuaram com os EUA acusando os chineses de “se gabarem” e os chineses retorquindo que os funcionários americanos haviam sido muito verborrágicos e “pouco hospitaleiros”. Mesmo na mídia social chinesa, foi feita referência ao “banquete dos Hongmen”, um evento histórico de mais de 2.000 anos atrás, no qual um líder rebelde convidou outro líder para uma festa com a intenção de assassiná-lo, e que é na China uma espécie de epítome do anfitrião traidor (Ibid.).
No entanto, em meio a tal aspereza, houve espaço para que a estratégia Biden de confronto em algumas questões e cooperação em outras se concretizasse, apesar de tudo. As autoridades americanas reconheceram que houve conversações “diretas, sérias e substantivas” sobre questões de interesse mútuo, tais como uma abordagem comum à mudança climática e o desafio colocado pelo programa nuclear da Coréia do Norte (E. Graham-Harrison, cit.). Se isto é um sinal de que a pirotecnia verbal em Anchorage foi mais um show para consumo político doméstico ou que a “relação bilateral mais significativa do mundo” caminhará por um caminho permanente onde o excesso de retórica acabará desencadeando conflitos mais sérios, ainda é muito cedo para dizer. Uma coisa é certa: o caminho das relações políticas EUA-China, longe de caminhar em direção a uma estrutura institucionalizada para o processamento de conflitos, assemelha-se cada vez mais a um campo minado.
1 O aspecto da competição armamentista é mais velado, mas não deve ser negligenciado. Aqui, ao contrário do que aconteceu com a URSS durante a Guerra Fria, a corrida não é por ogivas nucleares – o arsenal da China neste aspecto é bastante modesto, embora seja grande o suficiente para cumprir sua função dissuasora – mas por armamento “convencional”, mas sofisticado, especialmente naval, e aplicações de alta tecnologia em satélites, dispositivos espaciais e, em menor escala, mísseis.
2 Veja a este respeito a primeira seção de nosso texto “China, anatomia de um imperialismo em ascensão”, em izquierdaweb.com.
3 Não temos espaço aqui para desenvolver as mudanças no relacionamento estratégico dos EUA com a Rússia; Declararemos apenas que devido ao seu tamanho econômico limitado (o PIB russo é inferior ao do Canadá, um país com quatro vezes menos população) e sua influência geopolítica e cultural (é praticamente impossível falar de “soft power” russo), bem como seu relativo atraso em setores tecnológicos de ponta, o único fator de preocupação real para os EUA é a capacidade nuclear da Rússia, a segunda no mundo e muito acima daqueles que a seguem (aliados americanos como o Reino Unido e a França, ou a própria China). Por mais relevante que este elemento seja, decididamente não é suficiente colocar a Rússia em competição direta, em pé de igualdade, com os EUA pela hegemonia global. Sua relação com a China, tingida por uma subordinação medida, mas crescente, é um indicador claro desta realidade.
4 Não temos espaço aqui para elaborar as mudanças nas relações estratégicas dos EUA com a Rússia; Declararemos apenas que devido ao seu tamanho econômico limitado (o PIB da Rússia é menor que o do Canadá, um país com quatro vezes menos população) e sua influência geopolítica e cultural (é praticamente impossível falar de “soft power” russo), bem como seu relativo atraso em setores tecnológicos de ponta, o único fator de preocupação real para os EUA é a capacidade nuclear da Rússia, a segunda maior do mundo e muito à frente daqueles que a seguem (aliados americanos como o Reino Unido e a França, ou a própria China). Por mais relevante que este elemento seja, decididamente não é suficiente colocar a Rússia em competição direta, em pé de igualdade, com os EUA pela hegemonia global. Sua relação com a China, tingida por uma subordinação medida, mas crescente, é um indicador claro desta realidade.
Publicado originalmente em https://izquierdaweb.com/vuelve-el-imperialismo-yanqui-clasico/
Tradução: Antonio Soler