
Para compreender a luta de classes na América Latina. Uma resposta aos autores do “giro decolonial” e a negação do socialismo e da luta de classes.
Victor Artávia
O século XXI trouxe um aprofundamento da luta de classes em diferentes partes do mundo, principalmente com o desenvolvimento do atual ciclo de rebeliões populares contra os governos neoliberais e/ou ditatoriais. No caso da América Latina, durante a primeira década do século, várias dessas rebeliões ocorreram, principalmente nos países do Cone Sul, resultado do qual muitos presidentes relacionados ao “Consenso de Washington” caíram e surgiram governos populistas e/ou nacionalistas-burgueses como Chávez na Venezuela, Lula da Silva no Brasil, Morales na Bolívia, Kirchner na Argentina, etc.
Esse novo contexto político internacional, aliado ao fortalecimento dos chamados movimentos sociais da região (indigenismo/zapatismo, feminismo, ecologismo, desempregados), levou ao desenvolvimento de vários projetos teórico-políticos que questionavam o “consenso neoliberal” predominante nos anos 80 e noventa, embora sem considerar uma perspectiva de luta pelo socialismo. Pelo contrário, eles se limitaram a fazer uma crítica antineoliberal em uma chave reformista, cuja ênfase é fazer mudanças parciais no capitalismo dentro dos limites institucionais do próprio Estado burguês.
O chamado “projeto” ou “giro” decolonial faz parte dessa rede de perspectivas “críticas” e de “libertação”. Suas origens podem ser datadas no final dos anos setenta e no início dos anos oitenta, quando algumas de suas referências teóricas atuais [1] delinearam suas categorias fundantes e análises históricas com suporte na teoria da dependência. Mas até alguns anos atrás, tornou-se a nova “moda intelectual” que percorre os corredores de muitas universidades latino-americanas, servindo como um corpus teórico para o ativismo do autonomismo e do populismo reformista.
O que representa o giro decolonial? Sua proposta é rejeitar a “modernidade”, pois representa a “colonialidade do poder” que foi estabelecida após a conquista e colonização da América. Renuncia à luta pela emancipação social e despreza qualquer proposta universal de luta para os explorados e oprimidos, pois isso equivale a reproduzir uma nova meta-história “totalitária” típica da modernidade, da qual são igualmente partícipes o cristianismo, o liberalismo e …. o marxismo! Lança ataques contra o materialismo histórico e sua perspectiva de luta de classes, enquanto rejeita a organização de partidos de vanguarda leninistas (aos quais qualifica como messiânicos cristãos!) e seus “programas enlatados”.
Por outro lado, incentiva a construção de “movimentos de retaguarda”, cuja orientação é “perguntar e ouvir”, no estilo do zapatismo e de outros movimentos autonomistas. No nível programático, sua orientação reside em “descolonizar” o conhecimento, razão pela qual caracteriza os governos populistas da região como grandes avanços, em especial Evo Morales na Bolívia e o Chavismo na Venezuela, por desenvolver e uma nova “plataforma epistêmica” na América Latina. Por fim, o giro descolonial faz parte da lógica do Fórum Social Mundial (FSM) e sua proposta de “outro mundo é possível”, combinando características reformistas e anticomunistas.
No presente trabalho, realizaremos um debate a fundo com o giro decolonial, que assumimos como parte das lutas teóricas inscritas no atual recomeço histórico das lutas dos explorados e oprimidos, produto do qual importantes discussões estratégicas estão sendo reabertas entre a vanguarda e o conjunto das correntes de esquerda. Nesse sentido, daremos ênfase particular a refutar os ataques infundados contra o marxismo por autores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo e Ramón Grosfoguel, aproveitando para apresentar às novas gerações militantes aspectos centrais das elaborações teóricas dos principais autores do materialismo histórico (Marx Lenin, Engels, Trotsky) e as de nossa Corente Socialismo ou Barbárie (SoB), na esperança de contribuir com seu processo de formação política diante do grande desafio colocado pela luta de classes hoje: reintroduzir a perspectiva da revolução socialista no século XXI entre a classe trabalhadora, os explorados e oprimidos.
________________________________________
III Parte
Emancipação social ou libertação descolonial? Um debate sobre programa e organização
Os debates com a historiografia e epistemologia decolonial não são questões acadêmicas, mas referem-se a problemas de estratégia em torno da natureza do programa e do tipo de organização social que se pensa. No caso do projeto decolonial, sua proposta é reduzida a uma ação inteiramente reformista que, além de sua retórica “radical”, não questiona o império do Estado burguês sobre toda a vida social. Pelo contrário, seus principais autores se esforçam em sustentar teoricamente os governos populistas burgueses e as experiências de autogestão paralelas ao poder do Estado (como o Zapatismo), sem descurar seus ataques furiosos ao marxismo revolucionário e sua luta pela emancipação social.
Mignolo expressa bem a estratégia reformista decolonial, apontando que “já não é esquerda, mas outra coisa: é desapego da episteme política moderna, articulada como direita, centro e esquerda; é abertura para outra coisa, em andamento, buscando-se uma diferença”(Mignolo, 2007b: 30-31) Portanto, o epicentro de sua proposta é “a decolonização do saber e do ser” e a luta pela “libertação” em todas as escalas (individual, social ou coletiva), onde, de acordo com o local da “enunciação”, determinará qual projeto desenvolver.
Reforma ou revolução na América Latina?
Páginas atrás refutamos as acusações de Anibal Quijano contra a categoria de “imperialismo” de Lenin, a quem ele acusou de ser um etapista histórico. O mais ridículo do caso é que esse autor é o principal ideólogo da noção de mudança “heterogênea”, eufemismo que ele usa para ocultar sua abordagem reformista. Na visão de Quijano, as relações de poder no capitalismo não são homogêneas, mas são compostas de “histórias diversas e heterogêneas“, e é por isso que “o processo de mudança da referida totalidade capitalista não pode, de forma alguma, ser um transformação homogênea e contínua de todo o sistema, nem de cada um de seus principais componentes. Tampuco essa totalidade poderia desaparecer completa e homogeneamente da cena histórica e ser substituída por outro equivalente ”(Quijano, 2000: 223). Ele também acrescenta que os debates sobre se as mudanças sociais ocorrem gradualmente ou aos saltos são insubstanciais, uma vez que não implicam uma “ruptura epistemológica“.
Embora Quijano oculte sua abordagem com uma retórica “acadêmica”, o pano de fundo de sua política reformista é óbvio: as sociedades são “heterogêneas”; portanto, só é possível fazer mudanças desiguais (leia-se parciais) e nunca totais. Em outras palavras, levanta a mesma conclusão estratégica do etapismo stalinista: no atual momento histórico (que não tem começo nem fim em realidade!) a tarefa é reformar o capitalismo e lutar por “outro mundo possível”
Aqui as conclusões estratégicas da abordagem decolonial historiográfica e epistemológica começam a ficar evidentes, pois colocando a centralidade do seu projeto no combate à “matriz colonial de poder” e na agenda fragmentária dos sujeitos coletivos (os “condenados da terra”) ), acaba desistindo de lutar por um projeto alternativo ao capitalismo, ou seja, decreta-se que a revolução social está fora da agenda histórica! Mignolo nos coloca diante dessa estratégia decolonial: “Na medida em que a opção decolonial confronta a matriz colonial de poder (…), a tarefa futura não é tanto lutar com os moinhos de vento chamados ‘capitalismo global’, mas com as intrincadas fases, esferas e domínios em que hoje a matriz colonial do poder está em disputa em uma ordem mundial policêntrica ”(Mignolo, 2009: 274).
O objetivo explícito do projeto decolonial é lutar contra a “colonialidade do poder” e não contra a exploração e opressão do capitalismo! [20] O que isso significa em termos práticos? Bem, ao contrário dos marxistas que perseguem os “moinhos de vento”, os decolonialistas concentram-se na luta pela “libertação” do “povo” em seus espaços de interação social, de modo que a “corporalidade” desempenha um lugar central para esta tarefa por onde quer que se olhe, essa é uma orientação abertamente reformista, pois, ao não lutar contra toda a ordem social burguesa e estabelecer uma nova forma de organização social para todos os explorados e oprimidos, a ênfase é colocada nos momentos “parciais” da libertação do “povo”.
O exposto acima nos remete ao clássico debate entre reforma e revolução. Para o marxismo revolucionário, a estratégia é ligar cada luta parcial na perspectiva da revolução socialista, estabelecendo uma dialética entre fins e meios. Assim, as lutas por reformas são momentos táticos das lutas dos explorados e oprimidos, cujo principal valor reside em sua contribuição para a politização dos sujeitos que se organizam e lutam. No caso do reformismo, as coisas são invertidas, pois sua estratégia é dissociar as lutas parciais de um projeto de revolução social, tornando as reformas concretas um fim em si mesmas.
Para os decolonialistas, sua estratégia reformista é justificada pela natureza “heterogênea” das sociedades, onde as “pessoas” vivem com “histórias diversas” e, mais importante, porque sustentam que a relação salarial é a menos estendida geográfica e demograficamente, portanto a classe trabalhadora é socialmente minoritária (Quijano, 2007). Na verdade, as estatísticas do século XXI apontam na direção oposta, uma vez que a tendência é uma crescente proletarização em todo o mundo, constituindo uma nova classe trabalhadora (muito terceirizada e fragmentada) e sociedades majoritariamente urbanas: “entre 1970 e 2010, o número de trabalhadores nos países avançados aumentou de 300 milhões para 500 milhões. Mas nos países pobres, seu número, incluindo dependentes imediatos, passou de 1.100 milhões para entre 2.500 e 3.000 milhões (…) nunca como no início deste século XXI os explorados e oprimidos do mundo foram tão proletários quanto hoje ”(Sáez, 2012: 89-90).
Por outro lado, é absurdo sustentar que a heterogeneidade das sociedades impede uma mudança no sistema capitalista como um todo. Do ponto de vista do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky, o capitalismo em sua fase imperialista era um fator-chave que alterou as relações entre as classes sociais nos países coloniais e semicoloniais, às quais se impôs o salto de etapas em seu desenvolvimento histórico. e se constituiam formações sociais combinadas, cujo caráter específico se compreendia dentro da totalidade do capitalismo mundial. Por isso, em Trotsky, o caráter desigual e combinado não é uma justificativa para rejeitar a perspectiva da revolução socialista nos países semicoloniais, pelo contrário, deu-lhe mais relevância ao determinar a combinação necessária entre tarefas democráticas e socialistas como parte de um mesmo processo político revolucionário “Os países coloniais e semicoloniais são, por sua própria natureza, países atrasados. Mas os países atrasados fazem parte do mundo dominado pelo imperialismo (…) Da mesma forma se determina a política proletária dos países atrasados: as lutas pelos objetivos da independência nacional e de democracia burguesa mais elementar se combinam com a luta socialista contra o imperialismo mundial. As demandas democráticas, as reivindicações transitórias e as tarefas da revolução socialista não se separam em épocas históricas durante essa luta, mas emanam imediatamente uma da outra”(Trotsky, 1971: 247).
Em relação direta (e diríamos complementares) à sua perspectiva reformista, os decolonialistas também realizam elaborações “autonomistas” que rejeitam a luta pelo poder do Estado, acusando o marxismo de “superestruturalista” por cifrar suas expectativas de mudança social desde a estrutura institucional: ” A idéia de que o socialismo consiste na nacionalização de todos e cada um dos campos do poder e da existência social, começando pelo controle do trabalho (…), fazem de uma superestrutura, o Estado, a base da sociedade e escamoteia o fato de uma total reconcentração do controle do poder, o que necessariamente leva ao despotismo total dos controladores, fazendo parecer como se fosse uma socialização do poder, isto é a redistribuição radical do controle do poder ”(Quijano, 2000: 241 )
A partir dessa citação, três aspectos centrais emergem para serem debatidos. Primeiro, a falsa equivalência entre socialismo e nacionalização. Desde Socialismo ou Barbárie, fizemos um balanço estratégico das revoluções do segundo período do pós-guerra do século XX, de cujo produto surgiram estados chamados “socialistas” e “operários” porque expropriaram a burguesia, embora na prática governos burocráticos tenham sido estabelecidos onde a classe trabalhadora não tinha controle democrático do Estado e de tomada de decisões por meio de seus órganismos e partidos. Nesse sentido, destacamos que “se perde de vista o fato de que a expropriação em si ainda não é uma tarefa socialista propriamente dita, mas depende do significado da evolução subseqüente. Ou seja, o desenvolvimento de uma verdadeira tendência à socialização da produção (…) não é apenas sobre o que são as tarefas, mas sobre como (os meios) e quem (o sujeito) as leva a cabo ”(Sáenz, 2004 : 51).
Segundo, um posicionamento antiestatista muito semelhante à abordagem de John Holloway (que já foi referência do autonomismo mundial) com seu famoso “Como mudar o mundo sem tomar o poder“. Na realidade, o marxismo não faz da tomada do poder e do controle do Estado um fim em si, mas está diretamente relacionado a uma apreciação materialista da luta de classes, que mostra que o Estado é o epicentro das relações políticas na sociedade e, portanto, seu controle democrático pela classe trabalhadora é essencial para consumar um projeto de transição para o socialismo. Negar a centralidade do Estado na vida social é uma postura ultra-esquerdista e infantil, cujo fundo implícito é a renúncia a não transformar a sociedade como um todo, como sustentam os decolonialistas. Nesse sentido, as palavras de Lenin estão certas quando ele apontou que “fora do poder tudo é ilusão“.
Terceiro, uma reprodução criolla da “lei de ferro das oligarquias” ao determinar que a burocratização é uma conseqüência direta de concentrar o poder no Estado. Esta tese foi apoiada pelo alemão Robert Michels no início do século XX, para quem era inevitável que as organizações se burocratizassem no poder, como aconteceu com a social-democracia alemã no final do século XIX após sua ascensão ao parlamento alemão (Sáenz , 2014). Essa concepção denota uma abordagem teleológica da história, como parte da suposição de que toda revolução que toma o poder inevitavelmente se tornará um processo de burocratização. Quijano incorre nisso quando, sub-repticiamente “explica” o stalinismo como uma conseqüência direta da revolução bolchevique.
Essa ambivalência entre o autonomismo e o reformismo se liga diretamente à centralidade dos “condenados pela da” no projeto decolonial, determinando que sua agenda seja restringida pela “inclusão social” e não pela emancipação social. São perspectivas complementares que rejeitam a centralidade da classe trabalhadora e não questionam o império do estado burguês sobre a sociedade como um todo, ao qual sua resposta é fazer mudanças parciais e fragmentárias. A esse respeito, nos parecem atinadas as palavras de um texto de Socialismo ou Barbárie sobre as rebeliões populares da América Latina e a ascensão dos movimentos sociais: “Não há substituto orgânico possível para a classe trabalhadora urbana, se o que se pretende é orientar a luta social no sentido de erigir uma nova ordem oposta e superadora do capitalismo. É decorrente disso que a classe trabalhadora precisa articular e liderar uma aliança social com todas as camadas sociais exploradas e oprimidas. Mas por fora dela e de sua hegemonia, existe apenas o reformismo (…) ou a utopia reacionária da construção de uma sociedade “paralela” nos “interstícios da sociedade capitalista” “(Yunes, 2005: 12).
Re-teorizando vias de coexistência com o Estado burguês
A rejeição a um projeto de revolução social leva, inexoravelmente, a sustentar “alternativas” de convivência com o Estado burguês. Um exemplo disso são as teorizações decoloniais sobre a “coexistência” de vários mundos, uma premissa que faz parte da ideologia política do Fórum Social Mundial (FSM) e do movimento zapatista. Explicitamente, Mignolo se refere a isso, quando argumenta que, para o giro decolonial, “não se trata apenas de uma consciência de oposição ou resistência. Trata-se de agir para se destacar e olhar para um futuro em que “outros mundos são possíveis”, como afirma o discurso do Fórum Social Mundial, ou “avançar para um mundo em que a coexistência de vários mundos é possível”, como nos dizem os zapatistas ”(Mignolo, 2007: 160). Essa formulação coincide com a lógica da mudança heterogênea de Quijano, onde cada sujeito coletivo constrói seu projeto de libertação nas margem de sua “geopolítica do conhecimento”. Também é consistente com a abordagem unilateral das “histórias locais”, um ângulo particularista através do qual qualquer critério de totalidade é abandonado e, portanto, acaba por hastear a bandeira da coexistência social.
Por isso, os decolonialistas defendem um programa que não questiona o estado burguês como um todo e, pelo contrário, promovem políticas reformistas de inclusão social dos “condenados pela terra” no institucionalismo burguês. Um exemplo é quando Mignolo celebra acriticamente as políticas de “interculturalidade” de alguns governos da América Latina, onde os movimentos indígenas “co-participam” no Estado e na educação, que assume como parte da “descolonização do ser e do conhecimento” na região (Mignolo, 2007).
Portanto, para Mignolo, é correto que um movimento social “coparticipe” de um Estado com base em um critério unilateral: que seja “pluricultural” e incorpore outras “cosmologias”, evitando qualquer referência ao seu caráter de classe burguesa e, portanto, explorador e opressor. Isso, insistimos, é uma consequência direta do abandono de uma abordagem de classe para a compreensão da realidade social, razão pela qual a política é estruturada a partir da lógica dos “excluídos”, cujo resultado é uma adaptação ao estado burguês ao qual “doura” qualificando-o como mais democrático ou decolonial por causa de suas políticas “multiculturais”, embora continue a explorar e oprimir outra grande parte da sociedade. Assim, a fragmentação política do sujeito coletivo decolonial e suas agendas unilaterais das “histórias locais” acabam colocando os movimentos sociais mais próximos da burguesia “plurinacional” (ou progressista), em vez de promover a unidade de toda a população explorada e oprimidos na luta pelo mesmo projeto de emancipação social (que da decolonialidade seria equivalente a incorrer em uma política da “colonialidade do poder”).
De antemão apontamos que apoiamos as lutas dos povos nativos para exigir que os Estados reconheçam suas reivindicações, particularmente aquelas que dizem respeito ao direito à autodeterminação nacional. Como parte disso, é válido (e necessário) lutar por reformas que ampliem seus direitos políticos, mas nunca sem perder de vista o caráter de classe desse Estado. Em relação a esta questão, desde Socialismo ou Barbárie, temos várias elaborações em que lidamos com o problema da opressão contra os povos nativos do ponto de vista de classe, particularmente no caso da Bolívia. Em relação às rebeliões populares naquele país no final do século XX e no início do presente, afirmamos que “o Estado boliviano não é apenas um Estado capitalista, mas um estado de opressão racial branca sobre a população indígena dessas terras. Portanto, desde o marxismo revolucionário, é uma tarefa de primeira ordem reconhecer o direito dessas nacionalidades à sua autodeterminação incondicionalmente”(Sáez, 2005: 42). Por esse motivo, em vez de sustentar a “coparticipação” no Estado como estratégia, é pertinente vincular as lutas por reformas políticas com uma abordagem de refundação social de nossas nações desde a classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos, como parte de um projeto internacionalista .
Por outro lado, Mignolo também defende as experiências de autogestão “paralelas” ao estado burguês, onde as comunidades desenvolvem suas próprias formas de organização social. Com respeito a “Los Caracoles” zapatistas, no sul do México, ele argumenta que “são assembleias comunitárias indígenas interconectadas que colaboram entre si para “inventar”(…) suas próprias formas de organização social, política e jurídica. Quanto à estrutura econômica, em vez de seguir os princípios de um mercado competitivo, eles recorrem à reciprocidade. Suas subjetividades são moldadas através da colaboração, não da competição.”(Mignolo, 2007: 145).
Embora defendamos o direito dos povos de se autogestionarem contra o Estado burguês e a violência do crime organizado (um fenômeno atualmente difundido no México), também somos claros ao afirmar que será necessário mais do que isso para destruir todas as formas de exploração e opressão De nossa perspectiva, isso acontece destruindo o poder central da burguesia e estabelecendo um governo unitário de todos os explorados e oprimidos, apropriando-se da indústria e outras “alavancas” materiais do capitalismo para criar as condições de uma sociedade emancipada. Ao contrário, para os decolonialistas, a solução remete a refugiar-se em “comunas” onde a lógica do capitalismo não se aplica, uma política muito característica das correntes autonomistas e populistas da América Latina que proclamam um romantismo esquerdista pelo qual enalteccem as práticas de auto-subsistência comunitária como estratégia para viver fora do Estado burguês.
A experiência do atual Zapatismo explica isso porque, durante muitos anos, esse movimento teve como orientação estratégica o alcance de acordos de “convivência” com os governos burgueses mexicanos, algo que o próprio Mignolo aponta, mas ignora: “Em 2001, após a assunção de Vicente Fox como presidente do México, os zapatistas marcharam a pé para a Cidade do México, na esperança de iniciar um trabalho conjunto com o novo governo. Os Acordos de San Andrés, assinados na época, fracassaram porque o governo não cumpriu suas promessas. A reação dos zapatistas não foi reclamar, mas dar as costas ao governo e se dedicar a criar suas próprias alternativas; por exemplo, eles criaram organizações socioeconômicas independentes chamadas “Los Caracoles” “(Mignolo, 2007: 145).
Talvez para Mignolo “dar as costas ao governo” e simplesmente fundar “Caracoles” seja uma resposta muito “descolonial”, mas temos certeza de que, para a classe trabalhadora, os explorados e oprimidos do México, a realidade é muito mais complexa, porque o governo e a burguesia não fazem o mesmo, mas continuam a governar o país com grande violência… Ayotzinapa é um lembrete disso. Certamente os zapatistas descoloniais não são os responsáveis pela barbárie da burguesia mexicana, mas não são uma alternativa a ela. Esse é o nosso ponto.
Uma adaptação ao populismo burguês e ao capitalismo de estado
Outra expressão do reformismo decolonial é a sua posição em relação aos governos populistas da América Latina, os quais inserem em uma segunda onda de independência na região, caracterizando que apresentam uma “plataforma epistêmica” diferente da modernidade colonial: “A plataforma político-epistêmica Hugo Chávez (metaforicamente, a Revolução Bolivariana) não é mais a mesma plataforma em que Fidel Castro afirmou (metaforicamente, a revolução socialista). Existem outras regras do jogo que estão sendo levantadas por Chávez na Venezuela e Evo Morales na Bolívia.” Mais tarde, ele acrescenta que “poderíamos ver Lula da Silva, Néstor Kirchner e Tabaré Vázquez como ‘momentos de transição’ entre a plataforma epistêmico-política de Castro, por um lado, e a de Chávez e Morales, por outro” (Mignolo, 2007b : 31)
Recordemos de que, para o giro decolonial, a luta é contra a “matriz colonial do poder“, inaugurada na época pelos imperialismos europeus e posteriormente mantida pelos Estados Unidos. Dentro desse esquema, a estratégia passa pela “decolonização do ser e do saber“, tarefa em que os governos nacionalistas burgueses desempenham um papel importante em seus projetos de estados “multiculturais” e disputas com o imperialismo, principalmente o estadounidense. Esse raciocínio é muito semelhante ao sustentado pelos teóricos do populismo latino-americano, que caracterizam os governos pelos “significados discursivos“, incorrendo em uma interpretação da realidade em uma “chave idealista” [21].
É exatamente esse o caso dos decolonialistas, cujo projeto é articulado a partir de abordagens epistemológicas alternativas à “colonialidade do poder“, que acaba se tornando um cheque em branco para se adaptar a qualquer governo reformista burguês. Deste ângulo, perde-se qualquer referência ao caráter das relações sociais prevalecentes nos Estados que dirigem os governos populistas relacionados ao projeto decolonial, uma vez que a ênfase é colocada em sua política de confronto com o “imperialismo epistêmico” da Europa moderna e dos Estados Unidos (Mignolo, 2009).
Em nenhum momento o restabelecimento social e político dos estados a partir de uma lógica anticapitalista e da transição para o socialismo entra na perspectiva decolonial, o que implicaria uma abordagem crítica ao equilíbrio dos governos populistas burgueses na região que, além de algumas reformas parciais ao capitalismo neoliberal que reinavam nas últimas décadas do século XX, nunca avançaram em direção a uma ruptura com as relações sociais da exploração e opressão capitalistas. Isso vale mesmo para o caso do Chavismo e sua “plataforma epistêmica” do “socialismo do século XXI”, a variante mais radicalizada (pelo menos discursivamente) dessa onda de populismo, apesar da qual nunca deixou de ser um governo burguês. que garantiu a continuidade do capitalismo na Venezuela: “a continuidade da grande propriedade privada – e de um capitalismo de estado que não significa que a economia esteja nas mãos dos trabalhadores; a existência de Forças Armadas que, por mais que se reivindiquem ‘bolivarianas’, não são milícias populares, mas a manutenção do monopólio da força por um Estado que, evidentemente, permanece burguês; a continuidade e o reforço do mecanismo plebiscitário e das instituições de ‘representação’ que, não importa o quão ‘participativos’ se qualifiquem, não são de modo algum constituem organismos de poder das massas. O estado populista burguês de Chávez poderá “reformar” tudo o que se quer … mas o que obviamente nunca poderá ser é o “semi-estado dos trabalhadores armados” a que Lenin se referia; isto é, baseado em suas próprias organizações de representação e violência organizada contra a classe capitalista ”(Rojo, 2007: 38).
Mignolo tenta cobrir sua proposta com alguma referência a relações políticas concretas, para as quais recorre à correlação da integração econômica da “grande pátria”…. O Mercosul, que apresenta como um caso de ruptura epistemológica de sua própria “geopolítica do conhecimento”, em oposição aos acordos de livre comércio promovidos pelos Estados Unidos, que representam uma independência política do “Norte” e onde se destaca que o Brasil desempenha um papel central nessa redefinição de identidade da América Latina (Mignolo, 2007)
Essa avaliação do Mercosul é totalmente desproporcional e mentirosa, porque, embora essa aliança econômica tenha se constituído fora da condução direta do imperialismo norte-americano, em nenhum momento ela pretendeu romper com a lógica da subordinação ao mercado capitalista internacional. Pelo contrário, o Mercosul confirmou a incapacidade da “burguesia nacional” desses países em realizar um projeto de libertação nacional, porque após vinte anos de “integração” o resultado é a subordinação contínua de seus membros ao mercado mundial como produtores. de matérias-primas ou centros de montagem para empresas transnacionais: “O lugar do Brasil e da Argentina na divisão mundial capitalista do trabalho é muito claro: fornecedores de matérias-primas e fábricas globais (em menor escala, é claro) de montagem automotiva para empresas imperialistas. O Mercosul, mais de 20 anos após o seu nascimento, não apenas não questionou o status de ambos os países, mas também contribuiu para reforçá-lo ”(Yunes, 2014: 5).
Os governos populistas da América do Sul marcaram uma mudança política na região em relação aos seus antecessores dos anos 90, muitos mais sujeitos aos desígnios do “Consenso de Washington”. Em alguns casos, aplicaram medidas reformistas e redistribuíram a renda nacional entre mais setores da população, respondendo às enormes pressões exercidas pelos movimentos de trabalhadores e outros setores sociais no âmbito das rebeliões populares do início do século XXI. Mesmo em alguns casos, foram feitas reformas para proporcionar aos povos indígenas maiores direitos políticos, como declarar seus estados como “plurinacionais”. Mas isso não implica que sejam governos de ruptura com a burguesia e em transição para o socialismo: “Nenhum desses governos deu passos substanciais nesse sentido. Antes, todos, com seus ritmos e nuances, gradualmente assumiram a realidade do capitalismo mundializado e abandonaram toda pretensão de “anti-imperialismo”, mesmo verbais.
De qualquer forma, o máximo que eles almejavam era mostrar que seu projeto de integração ao capitalismo global propunha um pouco mais de salvaguarda e um gerenciamento “cipayo” um pouco menor do que o puro neoliberalismo dos anos 90. E isso foi tudo.” (Yunes, 2014: 5)
Partido de vanguarda ou movimento de retaguarda?
Por fim, nos referiremos ao debate decolonial com a teoria da organização leninista, onde vários de seus autores expõem seus maiores preconceitos anticomunistas, em particular Aníbal Quijano e Ramón Grosfoguel. Ambos coincidem em suas críticas ao leninismo por considerá-lo uma concepção “messiânica” da política, de modo que a revolução ocorreria a partir de uma organização de esclarecidos que traria a consciência para as massas através de seus programas científicos. As posições de Quijano e Grosfoguel, ao invés de constituírem uma crítica profunda ou inovadora do leninismo, são uma mistura de “lugares comuns” usados pela direita durante a Guerra Fria e outros provenientes de correntes pós-modernas, particularmente dos ideólogos do autonomismo[22]. As mesmas partem de uma leitura superficial da abordagem de Lenin no O que fazer?, obra que sintetiza muitos aspectos da teoria da organização do partido revolucionário.
No caso de Quijano, ele baseia sua crítica na “dissociação” entre a noção de classes sociais e sujeito histórico com a realidade, onde “pessoas” não carregam nenhuma consciência intrínseca à sua classe social. Ele argumenta que Lenin resolveu esse problema através de uma formulação mecânica, onde a consciência política “só podia ser levada aos explorados pelos intelectuais burgueses (Kautsky-Lenin), como o pólen é levado às plantas pelas abelhas” (Quijano, 2007: 112). ) No mesmo sentido se refere Grosfoguel, embora, no seu caso, empregue argumentos muito mais vulgares ao relacionar Lenin ao messianismo judaico-cristão: “Em Lenin, via Kautsky, se reproduz o velho episteme colonial, onde a teoria é produzida pelas elites brancas- burguesas-patriarcais-ocidentais e as massas são entes passivos, objetos e não sujeitos da teoria. Após o suposto secularismo, se trata da reprodução do messianismo judaico-cristão, encarnado em um universo secular marxista secular de esquerda ” (Grosfoguel, 2007b: 76).
Essas diatribes se originam em uma referência a Kaustky que Lenin incluiu no O que fazer? com o objetivo de fortalecer sua análise de que a consciência socialista era externa à luta econômica da classe trabalhadora. A citação em questão indicava que “o portador da ciência não é o proletariado, mas a ‘intelectualidade burguesa’ (…): é do cérebro de alguns membros dessa camada daonde surgiu o socialismo moderno e foram eles que o transmitiram. aos proletários reconhecidos por seu desenvolvimento intelectual, os quais o introduzem na luta de classes do proletariado sempre que as condições o permitirem. Portanto, a consciência socialista é algo introduzido de fora (…) na luta de classes do proletariado, e não algo que surgiu espontaneamente (…) dentro dele ”(Citado em Lenin, 1970b: 149). A partir disso, os decolonialistas (e muitos autores autonomistas) estabelecem que existe uma linha direta entre a abordagem de Kautsky e a de Lenin, uma suposição que parece certa pois a emprega como referência de autoridade em seus principais escritos sobre a teoria organizacional revolucionária.
Nossa posição é totalmente diferente, porque, embora Lenin use Kautsky para consolidar seus argumentos, ao longo do livro O que fazer? desenvolve uma profunda reflexão sobre o problema da aquisição da consciência política, tomando como ponto de partida as experiências de luta da classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos, um ângulo que o diferencia de Kautsky. A infeliz referência a Kaustky é explicada porque continha um aspecto correto e coincidia com o debate de Lenin com os economistas: a consciência socialista não surge espontaneamente da luta econômica, por isso teve que ser elaborada por um grupo específico[23] Mas essa coincidência é apenas parcial, uma vez que, no caso de Kautsky, dava lugar para justificar que foram os membros da burguesia que elaboraram e transmitiram a “ciência” aos “proletários reconhecidos por seu desenvolvimento intelectual“, que por sua vez a transferiram para a luta de classes quando possível. Essa é uma concepção muito mecanicista e “magistral” da política, que se reduz a um processo unilateral de transmissão de ideias e distanciado dos processos de luta da classe trabalhadora como tal, onde a relação entre o partido revolucionário e a classe trabalhadora está fragmentada.
Isso está longe da teoria da organização em Lenin, que é permanentemente enfatizada em torno de garantir uma relação direta entre as massas trabalhadoras dispersas e o partido revolucionário. Isso já foi afirmado em Por onde começar? (predecessor direto do O que fazer?), onde destacou que “a tarefa imediata de nosso partido não deve ser convocar o ataque, agora, com todas as forças que ele conta, mas chamá-los para constituir uma organização revolucionária capaz de unificar todos os setores e liderar o movimento não apenas nominalmente, mas, na realidade, uma organização pronta para apoiar qualquer protesto e qualquer explosão, aproveitando-os para multiplicar e fortalecer as forças adequadas para um combate decisivo ”(Lenin, 2015 : 4)
Desse modo, a intervenção política não se limita ao ato de “transmitir” uma verdade científica aos trabalhadores mais avançados, mas para construir um partido revolucionário que conquistará esses trabalhadores para suas fileiras e, desse modo, desenvolverá um trabalho orgânico sobre o. movimento dos trabalhadores em suas lutas. Isso é fundamental para qualquer perspectiva revolucionária, uma vez que a experiência histórica mostra que a classe trabalhadora não pôde atingir espontaneamente uma consciência socialista, pelo contrário, deixada à própria sorte que tende a assimilar mais facilmente a ideologia burguesa, muito menos elaborada do que a socialista e que possui muitos canais de transmissão social (escola pública, instituições políticas, igrejas, etc.)
Para Lenin, o espontâneo era apenas a forma embrionária da consciência e, para seu desenvolvimento, era essencial um partido revolucionário que se “metabolizasse” com a classe trabalhadora para politizá-la em direção a uma perspectiva socialista, com muito mais razão dado o caráter fetichizado das relações sociais no capitalismo (Sáenz, 2009). Essa foi a única maneira de romper a fragmentação da consciência da classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos, mantendo uma organização revolucionária que era parte orgânica de suas lutas diárias, mas articulando-as em uma perspectiva revolucionária, ou seja, contra o todo do Estado burguês: “A social-democracia dirige a luta da classe trabalhadora não apenas para obter condições vantajosas para a venda da força de trabalho, mas para a destruição do regime social que força os despossuídos a vender sua força de trabalho aos ricos. A social-democracia representa a classe trabalhadora não apenas em seu relacionamento com um certo grupo de empregadores, mas em suas relações com todas as classes da sociedade contemporânea, com o Estado como força política organizada. Entende-se, portanto, que os social-democratas não apenas não podem se limitar à luta econômica, mas também não podem admitir que a organização das denúncias econômicas constitui sua atividade predominante. Devemos empreender ativamente o trabalho de educação política da classe trabalhadora, de desenvolver sua consciência política ”(Lenin, 1970b: 169).
Assim, a construção e o desenvolvimento do partido revolucionário em Lenin não respondem a um critério “messiânico”, mas fazem parte de uma análise das relações sociais no capitalismo e seu impacto na consciência dos explorados e oprimidos. A superação do fetichismo no capitalismo não ocorreria espontaneamente na classe trabalhadora como um todo, muito menos surgiria nas margens estreitas da luta por melhores salários ou condições de trabalho [24], mas que era necessário fazê-lo “fora dessa luta econômica” com um partido que era parte orgânica da classe trabalhadora: “Lenin propôs como orientação prática a educação da classe trabalhadora em se interessar pelos problemas de todas as classes, por todos os problemas da sociedade. E quando localizado desde um ponto de vista social total, colocar-se verdadeiramente o problema do poder político (…) É uma orientação prática e material: não simplesmente ‘idéias’ ou ‘conceitos’ que ‘vêm de fora’ da classe porque a aquisição da consciência política pelos trabalhadores (que não é é o mesmo que formação marxista) não pode ser algo puramente “ideal” ou “intelectual” assimilado mecanicamente “de fora”. É uma materialização da consciência mediada pela própria experiência, em interação dialética com o partido revolucionário e cujo “veículo” é precisamente a política “(Sáenz, 2009: 322).
Essa controvérsia está diretamente relacionada à estratégia reformista do giro decolonial, cujo resultado é propor uma forma de organização política de “retaguarda”, em oposição à definição de partidos de vanguarda do marxismo revolucionário. Isso fica evidente nas críticas de Grosfoguel às ações políticas dos partidos leninistas por meio de um programa revolucionário: “O partido de vanguarda parte de um programa “a priori””, enlatado, que, sendo caracterizado como ‘científico’, define-se como ‘verdadeiro’. Essa premissa deriva uma política missionária de pregação para convencer e recrutar as massas para a verdade do programa do partido de vanguarda. Muito diferente é a política pós-messiânica zapatista, que parte de ‘perguntar e escutar’, onde o movimento de ‘retaguarda’ se torna um veículo para um diálogo crítico transmoderno, epistemicamente diverso e, conseqüentemente, decolonial ”(Grosfoguel, 2007b : 77).
Renunciar a formular um programa e circunscrever a ação política de “perguntar e escutar” equivale a uma adaptação à consciência predominante entre explorados e oprimidos, ou seja, ao senso comum derivado da fetichização das relações sociais. Isso é muito funcional para os decolonialistas e sua estratégia reformista de mudança e coexistência heterogêneas com o Estado burguês. Se as massas dos explorados e oprimidos tivessem consciência da tarefa histórica de tomar o poder da burguesia e estabelecer um governo próprio, a emancipação social seria uma questão de sentar e esperar que acontecesse inercialmente. Esta é uma concepção teleológica da mudança histórica!
Evidentemente, a construção de um partido revolucionário requer uma teoria revolucionária e o estudo científico da realidade social em todos os seus campos, o que não implica que tenha uma “verdade” abstraída do processo de luta de classes. A elaboração de qualquer programa requer uma caracterização prévia, na qual é válido empregar inúmeros métodos para obter uma “apreciação do momento” e as sensibilidades políticas que o definem, incluindo o “perguntar e escutar”. Mas isso nunca se realiza passivamente, mas visa delinear uma proposta para a ação do partido e dos explorados e oprimidos, cujo teste final é a mesma luta de classes. Em suma, é uma perspectiva em que “o próprio educador precisa ser educado“.
Trotsky explicava isso quando apontou que “o proletariado não conquista sua consciência de classe passando de ano como as crianças em idade escolar, mas através de uma luta de classes ininterrupta”, e nesse processo foi que os comunistas tiveram que ganhar a posição de liderança política, não por serem os melhores intelectuais ou cientistas, mas por demonstrar que tinham a capacidade de responder a problemas históricos e de curto prazo da classe trabalhadora: “A identidade de princípios entre os interesses do proletariado e as tarefas do Partido Comunista não significa nem que o proletariado em seu conjunto tome consciência de seus interesses atuais, nem que o Partido Comunista os formule, em qualquer circunstância, de maneira correta. A própria necessidade do Partido deriva precisamente do fato de o proletariado não nascer com a compreensão imediata de seus interesses históricos. A tarefa do Partido é demonstrar ao proletariado em luta seu direito de assumir a liderança ”(Trotsky, sem data: 99).
Como conclusão
“Desde nossa corrente reivindicamos a defesa da tradição do marxismo revolucionário, especialmente os ensinamentos deixados por Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo (e também Gramsci …), especialmente no campo em que cada um se revelou mais forte. É a partir dessa posição que acreditamos que os desvios reformistas, autonomistas, populistas e ‘socialista nacionais’ devem ser enfrentados hoje, bem como o doutrinalismo fechado das correntes incapazes de extrair qualquer ensinamento da rica experiência, mas também de frustrações e derrotas, das revoluções do século passado ” (Sáenz,).
Desde a Corrrente Socialismo ou Barbárie (SoB), sustentamos que a luta de classes está atualmente passando por um ciclo universal de rebeliões populares [25], que marca um recomeço histórico na experiência dos explorados e oprimidos. Os surtos de junho de 2013 no Brasil, as mais de 30 greves gerais na Grécia contra os planos de austeridade da UE, as mobilizações de milhões no México pelos 43 normalistas desaparecidos em Ayotzinapa, são alguns dos casos mais recentes que se somam esta definição Isso marca um avanço em relação à situação prevalecente há décadas, quando reinou uma sensação de “fim da história” e os projetos de emancipação social foram considerados obsoletos. Esse lixo ideológico está atualmente sendo varrido pelas massas de jovens, mulheres e trabalhadores que lutam pelo mundo inteiro!
Esses acontecimentos na luta de classes contraem novos debates estratégicos, que partem do baixo nível de politização que predomina entre as novas gerações (característica intrínseca de qualquer reinício histórico) e atuam como um limite para a ocorrência de explosões pela esquerda das instâncias da democracia burguesa e um questionamento do império estatal burguês. Daí que ainda as burocracias sindicais e os partidos reformistas são referências políticas para grandes segmentos de explorados e oprimidos. É por isso que nos referimos ao ciclo político como rebeliões, percebendo que, embora muitos desses processos sejam de grande intensidade, eles ainda não podem se transformar em revoluções sociais contra o domínio da burguesia como classe social.
O giro descolonial faz parte das ideologias que se apoiam nessa despolitização e, em vez de propor sua superação, a aprofunda, mantendo perspectivas abertamente reformistas de convivência com o Estado burguês, que questionam a centralidade da classe trabalhadora na estratégia revolucionária, e se proclamam abertamente anti-partido. É uma moda intelectual com acentuado sotaque pós-moderno e anticomunista, incapaz de se considerar uma alternativa universal para a classe trabalhadora, para os explorados e para os oprimidos!
Precisamente por isso, é imperativo que as correntes ligadas ao marxismo revolucionário interpretem os acontecimentos políticos atuais de um ângulo estratégico, a saber, a perspectiva de reintroduzir a revolução socialista no século XXI. Isso requer um debate político contínuo que responda aos desafios atuais da luta de classes, particularmente contra as ideologias pós-modernas e reformistas que despolitizam setores inteiros da vanguarda, colocando-a como um vagão de frenagem de setores burgueses. Deve também ser acompanhada pela construção de partidos revolucionários, não para fazer “programas enlatados”, como argumentam os decolonialistas, mas para aportar a politização das lutas da classe trabalhadora, dos explorados e dos oprimidos, a fim de alcançar seu desenvolvimento em um curso anticapitalista e de transição para o socialismo. Essa é a tarefa que emgloba a Corrente Socialismo ou Barbárie, e estendemos um chamado aos nossos leitores e leitoras para realizar uma experiência militante com SoB.
Tradução: José Roberto Silva
Bibliografia
- Artavia, Víctor. “Rebeliones populares y tareas estratégicas”. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 27), 127-180. Buenos Aires, Argentina: febrero 2013.
- “México 1910: una historia que contar, una herencia que reivindicar”. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 23-24), p. 273-306. Buenos Aires, Argentina: diciembre 2009.
- Blanco, Juan. Cartografía del pensamiento latinoamericano contemporáneo. Una introducción. Universidad Rafael Landívar, Guatemala: 2009.
- Bonefeld, Werner y Tischler, Sergio (compiladores). A 100 años del ¿QUÉ HACER? Leninismo, crítica marxista y la cuestión de la revolución hoy”. Ediciones Herramienta. Buenos Aires, Argentina: 2003.
- Callinicos, Alex. Contra el posmodernismo. Ediciones Razón y Revolución. Buenos Aires, Argentina: 2011.
- Engels, Federico y Marx, Carlos. Manifiesto Comunista. Centro Internacional del Trotskismo Ortodoxo. Sin pie de imprenta y sin data.
- La Sagrada Familia. Crítica de la Crítica. Editorial Claridad. Buenos Aires, Argentina: 2008.
- Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad privado y el Estado. Editorial Progreso. Moscú, URSS: 1976.
- El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Ediciones Distribuidora Cultura. Sin pie de imprenta.
- Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra. Editorial Txalaparta. Tafalla, España: 1999.
- García, George. La posmodernidad y sus modernidades: una introducción (Cuadernos de Historia de la Cultura nº 19). Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica: 2011.
- «Sobre Marx y América Latina (otra vez). A propósito de un artículo de Hermann Güendel». En Praxis (nº 70), p. 11-30. Heredia, Costa Rica: enero – junio de 2013.
- Grosfoguel, Ramón. “Del imperialismo de Lenin al imperio de Hardt y Negri: «Fases superiores» del eurocentrismo”. En Universitas Humanística (nº 65), p. 14-26. Bogotá, Colombia: enero-junio de 2008.
- “Diálogos descoloniales con Ramón Grosfoguel: transmodernizar los feminismos”. En Tabula Rasa (nº 7), p. 323-340. Bogotá, Colombia: julio-diciembre 2007.
- “Descolonizando los universalismos occidentales: el pluri-versalimso transmoderno decolonial desde Aimé Cesaire hasta los zapatistas”. En: El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, p. 63-77. Siglo del Hombre Editores. Bogotá, Colombia: 2007b.
- Gruzinski, Serge. La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII. Fondo de Cultura Económica. México D.F.: 2004.
- Lenin, Vladimir. “El imperialismo, fase superior del capitalismo”. En Obras escogidas (tres tomos), p. 689-798. Editorial Progreso. Moscú, URSS (Rusia): 1970.
- “Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática”. En Obras escogidas (tres tomos), p. 477-584. Editorial Progreso. Moscú, URSS (Rusia): 1970 (b).
- “¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento”. En Obras escogidas (tres tomos), p. 117-278. Editorial Progreso. Moscú, URSS (Rusia): 1970 (b).
- La Tesis de Abril. Editorial Progreso. Moscú, URSS (Rusia): sin data.
- ¿Por dónde empezar? En: La teoría de la organización leninista, p. 2-6. Editado por Nuevo Partido Socialista. San José, Costa Rica: 2015.
- Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Editorial Casa de las Américas. La Habana, Cuba: 1975.
- Marx, Carlos. El Capital (tomo I). Editorial Ciencias del Hombre. Buenos Aires, Argentina: 1973.
- El colonialismo (recopilación). Editorial Grijalbo. México, D.F.: 1970.
- La ideología alemana. Editorial Nueva Década. San José, Costa Rica: sin data.
- Mignolo, Walter. La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. Gedisa Editorial. Barcelona, España: 2007.
- “La idea de América Latina (la derecha, la izquierda y la opción decolonial)”. Crítica y Emancipación, (2): 251-276, primer semestre 2009.
- “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto”. En: El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, p. 25-46. Siglo del Hombre Editores. Bogotá, Colombia: 2007b.
- Paredes, Luis. “Ensayo de interpretación del modernismo”. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 28), p. 269-304. Buenos Aires, Argentina: abril 2014.
- Peña, Milcíades. Historia del pueblo argentino. Grupo Editorial Planeta (sello Emecé). Buenos Aires, Argentina: 2012.
- Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En: Edgardo Lander (comp.), Colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, Clacso/Unesco, pp. 201-246, 2000.
- “Colonialidad del poder y clasificación social”. En: Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (editores), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, p. 93-126. Siglo del Hombre Editores. Bogotá, Colombia: 2007.
- Rojo, José Luis. “Tras las huellas del ‘socialismo nacional’. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 21), p. 15-59. Buenos Aires, Argentina: noviembre 2007.
- 15-59
- Sáenz, Roberto. “Perspectivas del capitalismo a comienzos del siglo XXI”. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 26), p. 43-95. Buenos Aires, Argentina: febrero 2012.
- “Crítica del romanticismo «anticapitalista»”. En Rebeliones en América Latina, p. 15-59. Editorial Antídoto. Buenos Aires, Argentina: 2005.
- “Lenin en el siglo XXI”. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 23-24), p. 307-344. Buenos Aires, Argentina: diciembre 2009.
- “Cuestiones de estrategia”. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 28), p. 13-64. Buenos Aires, Argentina: abril 2014.
- “Crítica a la concepción de las revoluciones ‘socialistas objetivas’. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 17-18), p. 25-70. Buenos Aires, Argentina: noviembre 2004.
- Ciencia y arte de la política revolucionaria. Editorial Antídoto. Buenos Aires, Argentina: sin data.
- Una vez más sobre la alternativa “socialismo o barbarie”. En www.socialismo-o-barbarie.org, 19/12/2014.
- Saénz, Roberto y Bernal, Isidoro. “Los impulsos del Argentinazo”. En Rebeliones en América Latina, p. 251-266. Editorial Antídoto. Buenos Aires, Argentina: 2005.
- Rojo, José Luis. “Un ciclo de rebeliones populares conmueve al mundo”. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 26), 5-26. Buenos Aires, Argentina: febrero 2012.
- Trotsky, León. Historia de la Revolución Ruso (tomo I). Editorial Antídoto. Buenos Aires, Argentina: 2012.
- “La revolución permanente”. En: La teoría de la revolución permanente (compilación), p. 400-523. Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Buenos Aires, Argentina: 2000.
- ___ . “Tres concepciones de la Revolución Rusa”. En: La teoría de la revolución permanente (compilación), p. 161-177. Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Buenos Aires, Argentina: 2000b.
- “La industria nacionalizada y la administración obrera”. En: Escritos Latinoamericanos (compilación), p. 163-167. Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Buenos Aires, Argentina: 2000c.
- “Las tendencias filosóficas del burocratismo”. En: Escritos Filosóficos (compilación), p. 157-177. Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Buenos Aires, Argentina: 2004.
- “El ultimatismo burocrático”. En: Revolución y fascismo en Alemania Escritos 1930-1933. p. 97-103. Editorial Antídoto. Buenos Aires, Argentina: sin data.
- “La agonía del capitalismo y las tareas de la IV Internacional”. En: Acerca de la revolución socialista p. 209-270. Ediciones Estrategia. Bogotá, Colombia: 1971.
- Yunes, Marcelo. “Imperialismo y teoría marxista en América Latina”. En: Revista Socialismo o Barbarie (nº 23-24), p. 213-253. Buenos Aires, Argentina: diciembre 2009.
- “La Patria mais Grande do mundo”. Socialismo o Barbarie periódico (nº 299), Argentina. 07 de agosto de 2014, p. 5, Política Nacional, col. 2-4.
- “Presentación”. En Rebeliones en América Latina, p. 7-13. Editorial Antídoto. Buenos Aires, Argentina: 2005.
- Zamora, Daniel. «When exclusion replaces explotaition. The condition of the surplus-population under neoliberalism». En nonsite.org, Issue #10, 2013.
[1] Alguns de seus principais autores são Walter Mignolo, Anibal Quijano, Ramón Grosfoguel, etc., os quais também se apoiam nas elaborações de Enrique Dussel y Frantz Fanon.
[20] No caso de Quijano, ele matiza sua posição, argumentando que lutar contra a “colonialidade do poder” e o racismo que gera, equivale a lutar contra a exploração/dominação capitalista. [21] Em uma edição anterior de Socialismo o Barbarie, estávamos cientes desse tipo de abordagem do populismo burguês, especificamente em um debate com Ernesto Laclau e seu trabalho La Razón populista: “apresentando a mera ideologia como ‘criadora da realidade social’. ‘, epistemologicamente se perde a primazia da ordem da determinação material e objetiva das coisas e das relações sociais e pode-se ‘criar um mundo’ independentemente de quais circunstâncias ou com base em quais interesses sociais” (Rojo, 2007: 33). [22] As críticas decoloniais ao leninismo são uma cópia exata das abordagens autonomistas reunidas no livro “Aos 100 anos de O QUE FAZER?” [23] Além disso, Kautsky se destacava entre as principais referências teóricas e políticas da social-democracia europeia do final do século XIX e início do século XX, “status” que perderia quando estourou a Primeira Guerra Mundial e capitulou ás pressões chauvinistas no apoio à guerra da burguesia alemã. É por isso que é compreensível que Lenin o tenha citado em 1902 como um ponto de apoio para seus pontos de vista. [24] Diga-se de passagem, isso nega qualquer indício de determinismo econômico na perspectiva marxista de Lenin, como argumentam os decolonialistas. [25] Para aprofundar essa definição, nos remetemos a “Un ciclo de rebeliones populares conmueve al mundo” por José Luis Rojo, na Revista Socialismo o Barbarie nº 26 e “Rebeliones populares y tareas estratégicas” por Víctor Artavia, presente no nº 27 da revista, ambas versões disponíveis em www.socialismo-o-barbarie.org.
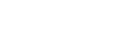





![As novas relações de trabalho e a centralidade dos entregadores na luta de classes[1]](https://esquerdaweb.com/wp-content/uploads/2023/03/breque-1-julho-100x70.jpg)