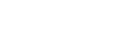Na época da eclosão da pandemia da Covid-19, o estado da economia capitalista global apresentava certas características herdadas da crise 2008-2009 que, em nossa opinião, ainda estavam operando e que impediram – e ainda impedem – de falar de uma superação dessa crise.
MARCELO YUNES
Introdução
Todas as previsões e cálculos sobre a economia mundial traçados antes da pandemia – incluindo aqueles que desenvolvemos em trabalhos anteriores como o publicado na edição 32/33 da revista Socialismo o Barbarie (“Estado y perspectivas de la economía mundial“, junho de 2018) – devem ser confrontados com o que aconteceu durante 2020 para identificar continuidades e descontinuidades, considerar os cenários mais prováveis e ajustar o diagnóstico sobre o futuro a curto e médio prazo da ordem capitalista global. Em grandes traços, esse é o objetivo deste texto.
No momento em que eclodiu a pandemia da Covid-19, o estado da economia capitalista global apresentava certos traços característicos herdados da crise 2008-2009 que, em nossa opinião, ainda estavam operando e que impediram – e ainda impedem – de falar em superação dessa crise. Alguns desses elementos vieram inclusive de períodos anteriores à crise, tais como o declínio relativo da taxa de lucro e o fraco crescimento da produtividade, manifestado em uma dinâmica anêmica de acumulação de capital. Outros, entretanto, foram desencadeados ou acelerados pela própria crise global, e nós os resumiremos de forma muito sucinta:
a) a “pletora de capital” – ou, em outras palavras, a insuficiente destruição ou desvalorização do capital improdutivo ou ineficiente; uma expressão disso é a extensão do fenômeno das empresas “zumbi” e a insuficiente “destruição criativa” que Schumpeter definiu como a chave para a inovação e os saltos de produtividade do capitalismo;
b) o massivo e inédito endividamento tanto dos estados como das empresas e das famílias, com sua contrapartida de bolhas na valorização dos ativos na bolsa de valores, particularmente em empresas dos ramos mais dinâmicos, como a tecnologia digital;
c) o forte crescimento da desigualdade e a relativa deterioração da renda dos assalariados e setores populares, que não deixou de impactar politicamente no aumento da polarização social e política e um declínio significativo no consenso ideológico da “democracia” neoliberal e seus mecanismos de funcionamento;
d) como consequência destes fatores – e de outros que não temos espaço para mencionar, quanto mais para desenvolver aqui – vivemos durante quase toda a segunda década do século XXI uma dinâmica de crescimento econômico medíocre. No âmbito, além disso, de uma estagnação do processo de globalização econômica capitalista – chamado de “slowbalisation” pelos analistas -, e apesar da relativamente melhor performance dos EUA, nem as economias nacionais ou regionais nem os ramos produtivos se destacaram como grandes motores de atividade, com exceção do caso notável do desenvolvimento não mais tão acelerado, mas ininterrupto e bom da economia chinesa.
Este último, por sua vez, está na base de uma profunda mudança nas condições geopolíticas e no sistema mundial de estados, definido pela ascensão da China como potência capitalista-imperialista (com todas as nuances necessárias para explicar sua história política marcada pela revolução de 1949, o retorno ao capitalismo após a era Mao, a continuidade do regime estalinista de partido único e, no campo econômico, as tremendas desigualdades e contradições de seu desenvolvimento acelerado e recente) e como principal competidor dos EUA na disputa pela hegemonia global. Elaboramos algumas das características essenciais deste processo em nosso “China: anatomía de un imperialismo en ascenso” (izquierda web.com, maio de 2020).
O início da pandemia precisamente na China foi seguido, contra as esperanças de encapsulamento, por sua rápida propagação para todo o globo, que nesta data (janeiro de 2021) indica quase 100 milhões de infectados e mais de dois milhões de mortos. O saldo mais negativo, em termos de saúde, ocorreu nos EUA (um quinto das mortes), Europa (um quarto) e América Latina (um quarto), e os demais do subcontinente indiano, sudeste asiático, Oriente Médio e regiões da África.
O resultado econômico global da pandemia pode ser resumido em um único número: a queda do PIB mundial em 2020 deve ser de cerca de 5%. A título de comparação, a recessão de 2009 deixou um crescimento negativo de apenas -0,1%, dado que o maior impacto naquela ocasião foi nos países desenvolvidos e muito menos nos países “emergentes”, particularmente na China. Isso significa que o PIB global no final de 2020 será 8% menor do que o esperado no final de 2019, embora em março/abril as estimativas fossem ainda mais pessimistas, com uma queda para o ano prevista de quase 10% do PIB.
Entretanto, esta cifra global esconde fortes desigualdades por região (geográficas e econômicas) no impacto da crise da Covid-19. E, acima de tudo, as perspectivas dessas regiões para 2021 e 2022 também serão influenciadas não pelos danos sofridos em 2020, mas pelas medidas que cada país estava e está em condições de tomar. Isto, por sua vez, depende da robustez anterior de suas respectivas economias: a quantidade sem precedentes de intervenção estatal implementada pelos países desenvolvidos certamente não está disponível para o resto do planeta. Isto implicará profundas diferenças no tipo de recuperação (e riscos) que as economias de uma ou outra podem esperar, a medida que o avanço do esquema global de vacinação em massa ao longo de 2021 (também aí com fortes desigualdades) nos permita começar a vislumbrar um panorama econômico pós-pandêmico… se não houver novas más notícias no campo da saúde.
Finalmente, resta saber até que ponto e em quais níveis a pandemia representará um ponto de inflexão. Da rivalidade EUA-China ao desenvolvimento da digitalização, desde as mudanças no mundo do trabalho ao papel do Estado no “contrato social” do capitalismo do século XXI, a economia (e a política) pós-pandêmica apresentam desafios e incógnitas sobre o curso das tendências que já vinham operando e outras novas, como veremos a seguir.
Um impacto regionalmente diferenciado
No mundo capitalista desenvolvido, a resposta à pandemia começou com um aumento muito forte dos gastos públicos no melhor estilo keynesiano, em uma escala muito maior do que a intervenção principalmente financeira durante e após a crise de 2008. Nos EUA, os gastos foram direcionados para sustentar a renda e não os empregos: a extensão do seguro-desemprego, com benefícios de US$600 por semana, impediram o colapso social que implicou o desaparecimento de milhões de empregos, a maioria deles de baixa qualidade e/ou precários. Em contraste, no Reino Unido e na UE, o esforço fiscal geralmente protegeu os empregos: nos cinco principais países europeus, os subsídios aos trabalhadores em licença sem ir trabalhar superou os 40 milhões de empregos. Esquemas similares mantiveram funcionando milhões de empresas de todos os tamanhos. O financiamento para tudo isso foi, naturalmente, mais empréstimos/emissões. Daí a estimativa do FMI de que nas economias desenvolvidas a proporção da dívida pública em relação ao PIB aumentará de 105% para 132% (H. Curr no relatório especial da The Economist sobre a economia mundial “The peril and the promise“, 10-10-20, p. 5).
O quadro é muito diferente nas economias “emergentes”: com exceção do Brasil, a proporção de esforços fiscais para mitigar o impacto da pandemia não se comparou com o que aconteceu nos países centrais. Isto só faz levantar profundas dúvidas sobre a profundidade da recuperação econômica em 2021, já que estes países não estarão na vanguarda do processo de vacinação massiva que permitiria reativar a atividade econômica e recuperar parte dos empregos perdidos.
O momento recessivo é praticamente universal; os países que em 2020 terão um resultado positivo no crescimento do PIB são uma minoria minúscula, e entre as maiores economias somente China, Vietnã, Egito e Taiwan. No caso da China, a quarentena draconiana instalada no início da pandemia conseguiu reverter categoricamente os índices: de ser o país que apresentava 90% dos casos e das mortes, agora está atrás dos primeiros 80 em número de pessoas infectadas e dos primeiros 40 em número de mortes. A atividade econômica começou a normalizar-se relativamente cedo, e estima-se que o crescimento deste ano será próximo a 2%. Por outro lado, as mudanças no comércio mundial – que veremos em seguida – e o movimento de preços permitiram à China recuperar o saldo positivo de sua conta corrente externa, embora não no nível dos tempos das “taxas chinesas”. E a continuidade do confronto comercial e estratégico com os EUA no campo das novas tecnologias foi um impulso adicional para os projetos de crescente autarquização nessa área.
Recuperação em “raiz quadrada invertida” e a “japonização”.
Como aconteceu no início da crise 2008-2009, economistas e governos já estão analisando – e apostando – a forma da recuperação econômica. O cenário de recuperação em “V” – ou seja, um retorno desordenado ao ponto de partida pré-pandêmico – está praticamente excluído; ninguém está assumindo um crescimento global em 2021 da mesma ordem de magnitude da queda de 2020. Pelo contrário, mesmo a estimativa mais otimista de que, na melhor das hipóteses, a economia global voltaria ao seu nível do final de 2019 somente em meados a finais de 2022. Mas isto talvez possa ser dito dos países desenvolvidos como um todo, que criaram mecanismos de contenção econômica e social do impacto da pandemia, mas tais dispositivos eram e são inacessíveis para a maioria do mundo emergente. Segundo Michel Roberts, este grupo de países pode ter que esperar até 2024 para superar a queda econômica produzida pela Covid-19 (“Forecast for 2021“, 2-1-21).
Das previsões dos “think-tanks” econômicos globais para 2021 se depreende que o cenário mais provável talvez não seja o “V”, nem o “W” (sucessão de recessões e recuperações), nem o “L” (longa recessão), nem o “U” (longa recessão seguida de recuperação firme), e nem mesmo o “K” (forte desigualdade por países e ramos, com alguns em franca recuperação e outros em queda contínua), mas a chamada “raiz quadrada invertida”. Isto é: uma queda acentuada seguida de uma rápida recuperação parcial abaixo do nível anterior, e a partir daí um crescimento continuamente medíocre. Isto representa, de certa forma, um retorno às condições pré-pandêmicas, mas desde um piso inferior.
Esta “japonização” – que toma como modelo o desempenho desse país asiático nas últimas décadas, caracterizado por um crescimento muito lento ou estagnação, com alta dívida e inflação muito baixa – está, por exemplo, nos cálculos do banco de investimentos francês Natixis e do The Economist Intelligence Unit, mas também aparece como um perigo nas previsões do FMI, da OCDE e do Banco Mundial.
De acordo com Natixis, a pós-pandemia será de crescimento raquítico ao modo japonês pelas seguintes razões: (a) menor rentabilidade empresarial e cortes nos investimentos produtivos; (b) pior distribuição de renda e pressão descendente sobre os custos de mão-de-obra – o que, aliás, desestimula o investimento em tecnologia (caro) que economiza postos de trabalho (barato) – com consequente queda no poder de compra das famílias e crescimento da desigualdade social; (c) aumento da proporção de empresas zumbis, abrigadas sob aa asas da intervenção e do protecionismo estatais; ponto que coincide inteiramente com a avaliação da The Economist Intelligence Unit, a qual alerta que “a zumbificação pós-coronavírus das economias avançadas parece estar aqui para ficar“; d) maior instabilidade financeira global e riscos ligados ao volume da dívida (apesar da continuação do ambiente de taxas de juros muito baixas), com maior volatilidade dos fluxos financeiros nos países emergentes e dúvidas sobre o papel do dólar como moeda global; e) perda de capital humano a médio prazo devido ao impacto negativo da pandemia na educação e uma provável redução nas taxas de fertilidade.
Para a instituição financeira, o crescimento “em raiz quadrada invertida” previsto para os próximos anos não implica maior estabilidade, mas, ao contrário, maior vulnerabilidade, seja à inelasticidade da gestão das políticas estatais para promover a demanda (em um contexto de taxas próximas de zero), seja ao impacto da perda de empregos, algo que não seria compensado pelos avanços na inovação tecnológica em setores altamente concentrados. O resumo da Natixis é que “o impacto econômico que podemos esperar desta pandemia a médio prazo não é promissor para as empresas, famílias ou governos. É difícil pensar em um impacto mais devastador na economia mundial, e não apenas por causa dos efeitos imediatos” (Ámbito Financiero, 29-10-20).
A permanência de um cenário de taxas de juros baixas – e portanto de ativos relativamente supervalorizados, em alguns casos ao nível de bolhas reais – também leva The Economist a concluir que “o resultado [da análise anterior] é que a economia mundial está se assemelhando cada vez mais ao Japão, onde décadas de déficits [fiscais] e dívida pública líquida acima de 150% do PIB não conseguiram quebrar um equilíbrio de inflação baixa e taxas de juros baixas” (H. Curr, “The eternal zero“, 20-10-20).
Por sua vez, Roberts atribui esta dinâmica de crescimento lento e abaixo do nível anterior essencialmente a três fatores, que em geral são coincidentes com os elementos que temos apontado. Primeiro, há um “dano permanente” às economias sob a forma de destruição de empregos e empresas (especialmente as pequenas e de baixa produtividade) durante as quarentenas e outras restrições à circulação, algumas das quais não retornarão. Em segundo lugar, muitas empresas aumentaram drasticamente seus níveis de dívida, em parte forçadas e em parte encorajadas por políticas oficiais de crédito a taxas próximas a zero. Mas isto esconde grandes diferenças: enquanto as empresas mais concentradas e maiores aproveitam esta situação para recompra de ações e ver seus ativos (e também sua avaliação bursátil e de mercado) subirem a níveis sem precedentes, muitas empresas menores (ou de qualquer forma menores que as gigantes que controlam seus mercados) lutam pela sobrevivência e se afogam em um mar de dívidas, mesmo que as taxas sejam baixas.
Para Roberts, após o “choque de oferta” (devido a interrupções temporárias da produção) e o “choque de demanda” (os trabalhadores mais bem pagos, como aqueles que conseguiram continuar em seus empregos remotamente, preferiram economizar em vez de gastar; os outros, aqueles que perderam seu sustento, não tinham nada para gastar), aparece o espectro do “choque de crédito” e crises financeiras (no nível das empresas zumbis e dos países). Segundo a economista chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart, especialmente nos países emergentes, existe o risco de “uma onda sem precedentes de crises e reestruturações da dívida. (…) Em termos do número de países envolvidos, estamos em níveis não vistos nem mesmo nos anos 30” (Roberts, cit.).
Finalmente, a terceira razão pela qual não podemos esperar uma recuperação em “V” é que o baixo nível da taxa global de lucro, em termos históricos, está sendo mantido e até mesmo aprofundado. Este é um aspecto sobre o qual Roberts alertou há anos, embora agora ele ressalte que existe a possibilidade do início de uma contra tendência se a recessão fizer o “trabalho sujo” de eliminar ou desvalorizar a grande proporção de empresas pouco ou nada lucrativas que atuam como um peso morto na rentabilidade média do capital. É claro que esta destruição de empresas zumbis é precisamente o que não parece ser o cenário mais provável, o que por sua vez se conecta com aspectos mais políticos da análise que veremos a seguir.
Pandemia catalisa as tendências anteriores
Embora se fale muito sobre as novidades que uma “economia pós-Covid-19” traria, na opinião de muitos analistas o principal efeito imediato da pandemia foi mais o de acelerar e consolidar as tendências que vinham ocorrendo anteriormente na economia e na ordem capitalista global em geral, algumas das quais já mencionamos na introdução.
O triunfo de Biden é visto por alguns como um vetor no sentido da “normalização” das relações políticas entre estados, após a interrupção causada pela administração de Trump. Durante a administração de Trump, os EUA apareceram como um fator de desorganização da estrutura institucional capitalista e de alimentação das tendências para a polarização. Testemunhas disso são o confronto com a China, a retirada dos EUA do Acordo de Paris sobre mudança climática, o contínuo confronto com os aliados da OTAN, a denúncia do acordo multilateral com o Irã, a retirada do tratado com os países do Pacífico, o boicote de fato ao funcionamento da OMC e, acima de tudo, a saída dos EUA da Organização Mundial da Saúde em meio à pandemia.
Entretanto, seria um completo erro assumir que a reversão de algumas das decisões mais arbitrárias de Trump significa um retorno às políticas e ao quadro geopolítico de 2016. A entrada da China como uma das grandes potências, e a única a desafiar a hegemonia americana, é uma mudança que não tem retrocesso, e nessa área a administração de Biden sem dúvida, além de um óbvio maior cuidado com as formas, terá mais continuidade com Trump do que com Obama. A polarização EUA-China se aprofundará, e certamente testemunharemos por parte de ambas as potências mais instâncias de “desacoplamento”, desde o intercâmbio tecnológico até a relocalização de parte das cadeias de abastecimento globais, ainda, que desde já, uma nova “cortina de ferro” econômica entre os dois países é a esta altura impossível.
Precisamente no campo do comércio global, além da forte desaceleração causada pela pandemia, um dos riscos que se tornou mais evidente com a quase total paralisação da produção na China foi a imensa dependência de toda a cadeia de fornecimento global para a indústria (acima de tudo) e de serviços em relação ao gigante asiático.
A rigor, este não era um fator desconhecido. Por várias razões, desde a diversificação de riscos até a simples redução de custos, na segunda metade da década de 2010 muitas empresas multinacionais com presença na China – especialmente dos EUA – começaram a mover parte de suas cadeias de abastecimento para destinos geograficamente mais próximos ou concentrados em menos regiões. Este abrandamento na globalização ou “slowbalisation” se manifesta em dados como a queda nas importações e exportações chinesas para os EUA em 2019 para níveis dos anos 90, antes da entrada da China na OMC.
Na medida em que nos fluxos comerciais globais aumenta o peso dos serviços sobre os bens físicos, a experiência de 2020 certamente acelerará as tendências para a digitalização do trabalho e da relação de emprego. Também é de se esperar que haja uma certa mudança em direção a cadeias de abastecimento menos estendidas geograficamente, mais locais ou regionais e, ao mesmo tempo, mais diversificadas. A robotização dos processos de produção (e também em parte dos serviços, graças à inteligência artificial) receberá novo ímpeto; no entanto, o resultado deste processo em termos da situação da classe trabalhadora aponta, nas circunstâncias atuais, não para a “requalificação” da mão de obra, como prometido pelos cantos de sereia dos entusiastas tecnológicos, mas sim para uma maior precariedade do trabalho e condições sociais mais desiguais, particularmente para os jovens, mulheres e setores pouco qualificados.
Num panorama de dificuldades crescentes para setores muito amplos da população, um resultado muito notável da pandemia tem sido o volume brutal de lucros obtidos pelas grandes empresas de tecnologia e comunicação digital, acompanhado por um salto em sua valorização no mercado. É bem conhecido que só a Amazon, Google (Alphabet), Facebook, Apple e Microsoft concentram, somente elas, um sexto do índice das 500 empresas do índice Standard & Poor’s. Sua participação nos lucros é ainda maior, e os resultados de 2020 só reforçaram esta tendência. O extremo deste desenvolvimento no campo da produção de bens físicos é a empresa de carros elétricos Tesla, de propriedade do excêntrico bilionário Elon Musk: sua valorização na bolsa de valores é superior à soma dos três maiores conglomerados automotivos do planeta (Volkswagen, Toyota e Renault-Nissan), embora estes gigantes tenham produzido 32 milhões de veículos em 2019 e a Tesla mal tenha produzido meio milhão em 2020.
Neste ramo, como em outros, a pandemia significou uma maior concentração do mercado e dos lucros, o que, em termos sociais e de emprego, resultou em um claro aumento da desigualdade. Como um relatório especial no The Economist observa, “uma regra geral é que quanto mais digitalizado for um mercado, maior a probabilidade de que ele seja concentrado” (“Survival of the fittest“, 10-10-20).
Há um duplo movimento de ruptura nas relações de trabalho: um, originário do desenvolvimento de técnicas de robotização e inteligência artificial; o outro, na destruição de empresas ineficientes atingidas pela pandemia e no desaparecimento de empregos de baixa qualidade ligados aos serviços e à circulação de pessoas, restringida pelas quarentenas e medidas similares.
Ambos os fatores se combinam e em certa medida se alimentam mutuamente para gerar o grande problema social dos “perdedores da pandemia”. A transição de 100 por cento de empregos presenciais para outros mistos ou diretamente inexistentes não será indolor, e muito menos em países e estados que, ao contrário do mundo desenvolvido, carecem de suporte financeiro para implementar uma rede de segurança social que esteja à altura da tarefa. Por outro lado, mesmo nos países desenvolvidos essa rede não é infinita nem eterna: enquanto os EUA se preparam para renovar a assistência estatal a milhões de desempregados, na Europa o esquema de licenças subsidiadas está à beira do esgotamento, e no Reino Unido quase certamente não será renovado em 2021. É fato que nem todos os empregos perdidos para a pandemia retornarão – e muitos dos que o façam não serão do mesmo tipo nem exigirão a mesma qualificação; já existem estimativas para os EUA que até um terço desses empregos não retornarão em nenhuma forma. A propósito, este elemento por si só pode ser um fator de atraso ou amortecimento da recuperação econômica nos países mais afetados.
Entre as tendências que podiam ser identificadas antes da crise da Covid-19, uma das mais relevantes foi o crescimento do endividamento global em um contexto de baixo crescimento. O nível de emissão monetária e de dívida nos países desenvolvidos excede os US$ 4 bilhões, bem acima do volume emitido em 2008-2009. Ainda que, dado o nível muito baixo da taxa de juros, essa massa da dívida pareça de financiamento relativamente acessível, a situação apresenta dois problemas alternativos. Por um lado, se a taxa permanece muito baixa, qualquer deterioração das condições econômicas ou uma recuperação mais anêmica do que o esperado encontra governos e bancos centrais sem uma ferramenta-chave para estimular o crescimento: baixar a taxa. Por outro lado, se a economia (e a inflação) supera e puxa a taxa de juros para cima, há dezenas de países – desenvolvidos e “emergentes” – cujos enormes volumes de dívida são alavancados com base na premissa de uma taxa quase zero.
Se estas condições mudarem, a vulnerabilidade destas economias pode apresentar-lhes o dilema de escolher entre o choque recessivo e o choque da dívida. A margem de manobra entre as duas opções é extremamente estreita, e onde alguns países se saem bem, outros podem encalhar. A combinação de endividamento e aparente bolha do mercado acionário – o índice de valorização/lucro está bem acima de 30, um claro indicador de excesso que só foi alcançado no período que antecedeu grandes crises, como 1929 e o estouro da bolha dot.com em 2000 – já está fazendo com que muitos analistas voltem a agitar o fantasma de 1929 (The Economist, “Froth or fundamentals?”, 19-12-20).
Para dar apenas dois exemplos: um executivo do braço de gestão de ativos do banco suíço UBS, Mark Haefele, advertiu que estão dadas todas as condições para uma bolha: taxas baixíssimas, baixos rendimentos de títulos, altas taxas de poupança e exuberância irracional em mercados testemunha, como os da criptomoedas. E o CEO da Livermore Partners de Chicago, na cadeia norte-americana especializada em economia CNBC, resumiu “o sentimento de parte do consenso [do mercado financeiro]: o plano Biden sofreria um aumento da inflação que seria potencialmente responsável pelo estouro de uma bolha épica no mercado acionário. Existe a ideia de que o plano Biden tenta repetir o cenário dos Anos Loucos do pós-guerra [os anos de 1920 que levaram ao crack de 1929. MY] com o objetivo de que as pessoas retornem mais rapidamente à força de trabalho. Mas Biden corre o risco de ficar mais perto de ser Herbert Hoover [o presidente dos EUA em 1929. MY] do que ser Franklin Roosevelt” (Ámbito Financiero, 19-1-21).
Estas manifestações expressam o temor em Wall Street de que a euforia do mercado acionário em 2020 – enquanto a economia real entrava em colapso – acabe finalmente com um robusto pacote fiscal financiado não com impostos, mas com emissão de dívida, com o consequente aumento da inflação e das taxas de juros, cujos níveis de subsolo alimentam a bolha. E já apontamos as consequências potenciais desse movimento de inflação (e taxa de juros) sobre as economias emergentes com alto endividamento e capacidade de pagamento relativamente baixa.
Em última análise, o que está em discussão aqui é como será repartida a conta da crise econômica gerada pela Covid-19 e em que termos se dará o cabo de guerra dentro das frações da classe capitalista e sobretudo entre esta última e as massas castigadas pela pandemia, cuja mediação política devem administrar os políticos burgueses eleitos. Isto nos leva à questão básica que mencionamos acima: se está sendo incubado um novo marco referencial e um novo consenso social para substituir uma ordem com sinais evidentes de exaustão.
Um novo “contrato social” da ordem capitalista?
Em seu lúcido estudo sobre as tendências do capitalismo pós-pandêmico, o analista da The Economist, Henry Curr, adverte que o maior risco para a ordem social não é econômico, mas político. Embora ele use outros termos, a proposta subjacente é que após a segunda década do século, com seu legado de crise econômica, polarização social, nova ordem geopolítica, desenvolvimento da digitalização no mundo social e trabalhista, da crescente urgência da mudança climática e agora a pandemia, o consenso neoliberal como foi forjado após a queda do Muro de Berlim em 1989 está à beira do esgotamento e estamos à beira de uma “reformulação do contrato social” na ordem capitalista.
Esta circunstância, naturalmente, não é nova, mas já aconteceu em outras ocasiões em pontos de virada histórica, quando o capitalismo é sacudido por crises profundas, guerras, revoluções e/ou mudanças de hegemonia na ordem imperialista. A propósito, também não é algo que aconteça regularmente. No século XX, isso aconteceu em nível global não mais de três ou quatro vezes, e também não é tão frequente no seio das nações capitalistas. Neste último caso, exemplos seriam o New Deal nos Estados Unidos durante a Grande Depressão ou a extensão do sufrágio universal no Reino Unido após a Primeira Guerra Mundial. Os últimos “contratos sociais” – logicamente, não sancionados legalmente, mas pelas relações de força – foram o Estado social keynesiano nas décadas que se seguiram ao pós-guerra e o já mencionado “Consenso de Washington” neoliberal após a queda do Muro de Berlim.
Se algo caracterizou a última década em termos políticos, foi, por um lado, a crescente crise do consenso a cavalo de um aumento da desigualdade e de manifestações de descontentamento (crises, rebeliões, a chamada “angry politics”) pelo outro, não houve eventos “cataclísmicos” na luta de classes que forçaram, de uma forma ou de outra, o fim desse contrato em crise e o estabelecimento de outro. De certa forma, é uma reedição da conhecida crise de transição entre o “não mais” de uma ordem e o “ainda não” da que deve substituí-la, cujo signo e características definidoras são, portanto, desconhecidas.
Os elementos de crise dessa ordem são aqueles que apontamos no início: a deterioração do consenso em função da polarização econômica e social (desigualdade); a falta de saltos de produtividade que gerem um vigoroso ciclo de desenvolvimento capitalista e maior prosperidade geral (mesmo que haja perdedores); o desafio da mudança climática, que é um perigo sistêmico difícil ou impossível de enfrentar a partir da lógica neoliberal pura do mercado. O salto tecnológico do avanço da digitalização gerou mais concentração da riqueza (inclusive dentro da classe capitalista), mas mais desigualdade e nenhuma mudança essencial na produtividade. Mudanças geopolíticas como a ascensão da China também modificam a equação formulada após 1989. Neste contexto que surge a pandemia global.
Se aparece o cenário no qual as tendências anteriores da economia sejam de fato catalisadas mas de desenvolvimento lento ou insuficiente, como a crescente digitalização das formas de produção e das relações de trabalho, resta saber que forma elas assumirão e com que consequências para as relações entre as classes. Há poucas dúvidas, à luz das experiências pré-pandêmicas e especialmente ao longo de 2020, de que uma economia mais digitalizada, mais automatizada e mais concentrada terá como um de seus primeiros efeitos um aumento do desemprego e/ou uma extensão de postos de trabalho precários. A profundidade desta mudança colocará – e já está colocando – uma tensão tanto nos sistemas políticos quanto na lógica do funcionamento econômico, independentemente de estarmos falando de países desenvolvidos, “emergentes” ou pobres.
A questão do papel do Estado capitalista, assim como aconteceu – num contexto diferente – no período pós segunda guerra, provavelmente estará no centro do palco, assim como a capacidade geral das instituições políticas de processar mudanças na esfera econômica. Já estão surgindo, ou sendo retomados, debates sobre medidas e estruturas que até agora têm sido objeto de especulação ou, no máximo, experimentação, tais como a Renda Básica Universal (IBU) ou propostas similares que contemplem uma expansão substancial das redes públicas de segurança social.
A questão das relações entre Estados e de Estados-nacionais e a macroestrutura política e econômica global do capitalismo também estará na agenda: debates como os desencadeados na época pelo Brexit sobre nacionalismo, regionalismo, globalismo, populismo, intervencionismo e um longo etc., que nunca desapareceram, ganharão novo impulso. O que é lógico quando se considera que, sem uma longa troca de ideias ou fóruns de consenso político global, a reação da grande maioria dos Estados à pandemia foi uma dose sem precedentes de intervenção estatal, com maior ou menor apoio. O credo da austeridade está tão desacreditado que só pode ser seriamente manejado como política para a pandemia nas sociedades mais derrotadas ou em países que se encontram no fundo da escala de sua capacidade de intervenção.
Essa intervenção tronar-se-á urgente se as mudanças na economia e no trabalho que a pandemia continua a acelerar se tornarem permanentes. Para os milhões de lares punidos pela perda de emprego ou pela drástica queda de renda, a salvaguarda estatal é temporária, insuficiente e ameaça deixar os “perdedores da pandemia” ao relento, e isto mesmo nos países capitalistas desenvolvidos com mais estruturas estatais herdadas do Estado de bem-estar social e com recursos para sustentá-las. Hoje é possível afirmar que nenhum país, imperialista ou “emergente”, está em condições de enfrentar um eventual choque social – não necessariamente fulminante: pode acontecer em “slow motion” prolongado por anos – que reconfigure o panorama do mundo do trabalho ou de seções importantes do mesmo. Muito menos se a situação pandêmica não seja resolvida dentro de um período de tempo razoável, por razões médicas ou outras.
A grande incógnita, se estas profundas mudanças no funcionamento do capitalismo se materializarem nesta fase, é se o aumento da automatização da produção e da digitalização dos serviços resultará finalmente no aumento, há muito adiado, do ciclo de ascensão econômica com maior produtividade. O debate, é claro, excede os limites deste texto, mas ressaltamos que tal resultado dependerá necessariamente da interação da luta de classes com estes acontecimentos, que têm sua lógica específica própria, mas não uma dinâmica autônoma separada daquela.
Como observa H. Curral da The Economist, se a pandemia acelerar as mudanças na economia, “isso apresenta um risco: que os governos e os estados falhem novamente em responder adequadamente à profundidade das transformaçõe. Se a desigualdade aumentar, (…) se os empregos no setor de serviços das cidades diminuírem, se as empresas de tecnologia se tornarem mais dominantes e os governos se voltarem muito rapidamente para a austeridade, a política se tornará mais tóxica, com uma maior polarização entre o nacionalismo econômico maluco da direita e o ingênuo socialismo milenial da esquerda” (“The right kind of recovery“, no relatório especial “The peril and the promise“, 10-10-20, p. 14). Por isso, apesar da tradicional cautela liberal para com o “intervencionismo estatal mal entendido“, Curr reconhece que “o eleitorado não apoiará mais perturbações [no emprego e na sociedade. MY] sem partilha de riscos. Governos e Estados terão que estar dispostos a agir como uma salvaguarda de último recurso para a renda das famílias” em dificuldades (Ibid.).
Ele não é a única voz de alerta: o colunista do Financial Times Martin Sandbu, embora seja mais otimista quanto ao resultado, também traz à tona os “loucos anos 20” (os anos de 1920 antes do crack de 1929) esperando que 2021 seja o início de um boom de consumo em massa que consolidará a recuperação pós-pandêmica. Mas a condição que Sandbu estabelece para evitar que a história se repita é que o capitalismo demonstre sua “capacidade de adaptação” fazendo “desta vez” que o crescimento econômico seja “inclusivo“, aspiração que Michael Roberts trata com justificada zombaria (“Forecast for 2021“).
Uma coisa parece certa: para o melhor ou para o pior, o capitalismo pós-pandêmico não caminha estrategicamente para “mais do mesmo, mais aumentado”, senão para mudanças traumáticas, que não serão desencadeadas sem desordem, sem polarização social, sem choques entre estados, entre regiões e entre classes, sem uma reformulação completa do papel do Estado capitalista na economia e na sociedade e sem a abertura de imensos espaços e experiências de contestação, oposição, rebelião… e talvez, de revolução.
Artigo publicado em 21/02/2021 in http://izquierdaweb.com/la-economia-mundial-a-un-ano-de-pandemia/
Tradução: José Roberto Silva