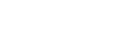Apresentamos mais uma contribuição ao debate, onde em extraordinária análise histórica, Antonio Macário e Reginaldo Vitalino, apontam a “necessidade de ações disruptivas” que não “resultem, mais uma vez, no fortalecimento e maior ferocidade da burguesia mundial contra os trabalhadores.”
Afinal como ensinava Lenin, termina o artigo, “Nós não devemos dissimular nossos erros diante do inimigo. Quem o teme não é um revolucionário”.
Redação
Crise econômica, pandemia e a necessidade do controle social
Antonio Macário de Moura e Reginaldo Vitalino
É consenso entre os entendidos em economia política – inclusive liderança da tendência Revolução Brasileira (PSOL) –, que os sinais da crise econômica mundial em marcha antecedem a pandemia da covid-19. O que é verdade. Mas também é certo que a devastadora peste que no exato momento acomete a humanidade aprofundará, inevitavelmente, a tragédia coletiva por tempo indeterminado. A respeito disso diz a Carta Capital (25/03/2020) que o FMI já informou que o impacto negativo deve ser pior que “a crise financeira de 2008”.
Diante disso, é tarefa dos revolucionários analisarem a dinâmica do fato constatado para, dentro do possível, delinear alternativa ao modo de produzir e concentrar riqueza que aí está. Quanto mais não seja, por ser esse sistema responsável pelo uso predatório da natureza – o coronavírus pode sim, resultar disso – e engenho produtor do imenso contingente de pobres e miseráveis, de longe os mais expostos e vulneráveis às epidemias e pandemias que se sucedem. No caso brasileiro vem a somar-se aos milhares de infectados por sarampo, tuberculose, dengue e chicungunya com mais de um milheiro de mortos em um ano, Carta Capital 18/03/2020.
Indicar práticas disruptivas neste momento e em meio a tamanho sofrimento humano e revolta popular constitui, pelo menos, válida e necessária tentativa de não permitir que o contorno da crise atual – haja vista que o sistema não pode nem é de seu interesse superá-la – e o combate à peste levado a cabo pelo capital resultem, mais uma vez, no fortalecimento e maior ferocidade da burguesia mundial contra os trabalhadores. Pois, é isto que tem ocorrido desde o último meio século, a contar da crise do petróleo e da estag-flação nos países imperialistas na década de 1970, como atestou Ernest Mandel em A Crise do Capital, passando pela débâcle das empresas “ponto com” no final da década de 1990 e a do subprime em de 2008, de acordo com Nildo Ouriques.
Quando os meios de comunicação expuseram ao mundo onde começou e a amplitude da desdita, imediatamente vem à memória Decamerão, obra da autoria de Giovanni Boccaccio (1313-1375), criador da prosa italiana. São vários os motivos que remetem ao clássico referido. Registramos aqui apenas os três mais comuns. Em primeiro, não é pequeno o contingente de trabalhadores, principalmente católicos e evangélicos, que concebe a tragédia do coronavírus como mais um castigo divino merecido pelos iníquos seres humanos. Em segundo, parte desse segmento social afirma que ela está prevista nas Sagradas Escrituras. E, por fim, soma-se ao contingente de crédulos os irracionais terraplanistas que, fazendo coro com a família Bolsonaro e asseclas, alardeiam ser o letal vírus criação da “ciência comunista chinesa”, visando atingir os Estados Unidos da América. Argumento tão inútil quanto duvidoso. O certo é que, em Decamerão, G. Boccáccio descreve um acontecimento parecido e tão apavorante quanto.
Escrita por volta do ano de 1348, quando dos primeiros choques entre o modo de produção feudal em franca decadência e, de suas entranhas, o emergir do Renascimento – aurora do capitalismo, conforme Agnes Heller –, impulsionado pela burguesia comercial, o espaço e o cenário da magnífica e libertina ficção da lavra de Boccáccio, é a esplendorosa Cidade de Florença na Itália. Diz ele: “Por iniciativa dos corpos superiores, ou por razão de nossas iniqüidades, a peste atirada sobre os homens por justa cólera divina e para nossa exemplificação, tivera início nas regiões orientais.” A dita peste se estendeu para outros lugares e ceifou milhares de vidas. Por conta disso: “A cidade ficou purificada de muita sujeira, graças a funcionários que foram admitidos para esse trabalho”. Não são outras as imagens que ora nos chegam, via mídia, de trabalhadores a lavar e pulverizar ruas e praças, não apenas na China e em Itália, mas também em centenas de cidades e em outros continentes.
Afirma ainda Boccáccio que nenhuma providência dos homens foi capaz de conter o avanço da desgraça. Oxalá os governantes e a ciência não permitam que isso se repita agora! Procissões foram realizadas pela massa de miseráveis, os clamores de crentes em Deus se multiplicaram. “Tornara-se enorme a quantidade de curandeiros assim como de cientistas”, entre eles “homens e mulheres que nunca haviam recebido uma lição de medicina”. E mais “a peste foi de extrema violência; pois ela atirava-se contra os sãos, a partir dos doentes, sempre que doentes e são estivessem juntos”. Continua Boccáccio. “Não apenas o conversar e cuidar de enfermos contagiavam os são com esta doença, por causa da morte comum, porém mesmo o ato de mexer nas roupas, ou em qualquer outra coisa que tivesse sido tocada, ou utilizada por aqueles enfermos, parecia transferir, ao que bulisse, a doença referida”.
Como se pode inferir do dito pelo nosso autor, tratava-se de pandemia com muitas vítimas e sofrimento. Os mortos eram largados em qualquer lugar. “Entre tanta aflição e tanta miséria de nossa cidade, a reverenda autoridade das leis, quer divinas, quer humanas, desmoronara e dissolvera-se”. Decamerão foi levado à tela por píer. P. Pasolini em 1971.
Outra peste que acometeu a Itália e castigou toda a Europa – desta feita, a cólera, supostamente originária da Índia na segunda metade do século XIX – é o pano de fundo da película Morte em Veneza de 1971, clássico de Luchino Visconti. O filme é baseado em obra homônima de Thomas Mann, belíssima metáfora do romancista alemão – filho de brasileira – acerca da manutenção dos valores culturais herdados do Ancien Regime a limitarem a transição tardia do feudalismo para o capitalismo na Alemanha conservadora e religiosa.
A propósito da histórica particularidade alemã, na década de 1840, rompendo com o neo-hegelianismo de esquerda e sob influência da Essência do Cristianismo, de autoria de Ludwig A. Feuerbach (1808-1872) – afirmam os sabidos –, Karl Marx (1818-1883) publicou Contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel e Os Despossuídos. Ambos põem à baila a influência das determinações materiais e políticas – que ele classificou como “miséria alemã” – no materialismo dos ex-companheiros e na ciência do direito de Hegel. Diz Marx: “Quando nego as circunstâncias alemães de 1843, não me encontro sequer, pelo calendário francês, no ano de 1789, e muito menos no ápice da atualidade”.
O télos da demolidora crítica de Marx à miséria alemã e aos filósofos progressistas e ao direito não era defender, tampouco propor a transposição do regime francês – parido pela Revolução de 1789 –, para a Alemanha de 1843. Longe disso. Pensando muito além, o revolucionário propunha contrapor o capital com a revolução social, isto é, a emancipação do trabalho “ápice da atualidade”, visto que, uma vez no poder, a burguesia francesa e suas moderníssimas instituições, mantiveram os trabalhadores – que com ela lutou, derrotou a aristocracia, o Ancien Régime e instaurou a propriedade burguesa – sob ferros, nas palavras do iluminista Jean Jaques-Rousseau. Claro! Muito distinto da opressão feudal, diga-se de passagem, mas ainda assim violenta e intolerante com a rebeldia do trabalho livre.
Não é outro senão esse o dilema do Jovem Werther, herói ultra-romantico do romance homônimo de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Ciente da impossibilidade da realização plena da individualidade na Alemanha Feudal, mas também na França ainda no alvorecer da Revolução burguesa, Werther optou pelo suicídio. A atitude desesperada do herói goethiano influenciou e levou inúmeros jovens oitocentistas a dar cabo de suas vidas, dizem os estudiosos. O romantismo foi o primeiro movimento literário voltado para a sofrida existência das camadas pobres, mas oferecia como alternativa à irrealização do seu tempo, à volta ao passado, onde ficara o equilíbrio e a harmonia humanas. Eis, portanto, o caráter reacionário do Romantismo.
Dissecando as ambigüidades e insuficiências das leis, porém coerentes com a transição da propriedade comunal (feudal) para a propriedade privada burguesa na Alemanha –, o que valia também para a França e suas moderníssimas instituições –, em Os despossuídos, indaga Marx: “Se todo atentado contra a propriedade, sem qualquer distinção, sem determinação mais precisa, for considerado furto, não seria furto também toda propriedade privada?”. E acrescenta: “Por meio de minha propriedade privada não estou excluindo todo e qualquer terceiro dessa propriedade?”. O jovem revolucionário escreveu isso no desabrochar do liberalismo clássico quando, nem de longe, a propriedade privada se encontrava no padrão de concentração e poder tirânico em que se encontra atualmente.
Voltando ao tema, poderia citar outras ocorrências de epidemias e pandemias. A respeito, literatura é o que não falta! Mas para o escopo deste escrito, abordar o desastre em que a humanidade foi metida – que nada tem de divino – e o sistema sócio-político por ele responsável, as alusões supracitadas são suficientes. Vale frisar, e nisso reside toda diferença. Ao passo que as grandes crises econômicas, de epidemias e pandemias do passado distante, o capitalismo estava em plena ascensão e muito de civilizatório ainda tinha a realizar, o caso agora é bem outro. As crises econômicas, as epidemias e pandemias do último meio século, ocorrem sob manifestação irrefutável do completo esgotamento do sistema capitalista. Logo, se não for obstado pela luta revolucionária dos trabalhadores, ao final nos restará a barbárie, “se tivermos sorte”, como sentenciou István Mészáros (1930-2017).
Claro está que as atuais autoridades das leis, sejam elas divinas, sejam humanas – parafraseando Boccaccio – não virão abaixo por si sós, como resultante do contorno da crise do capital e da pandemia de coronavírus que aí estão a espraiar-se, ceifando vidas humanas. Como já dito, somente a luta revolucionária dos trabalhadores pode oferecer uma saída para esta crise. E aqui reside um grave problema histórico. Pois, ainda que oposição exista e resistirá da forma como se apresenta e age, em médio prazo não conseguirá – lamentavelmente – reorganizar-se e conjugar forças suficientes para levar a cabo a urgente e necessária tarefa de vergar a tirania do capital. Mesmo assim não cabe dúvida que, ao término dessa pandemia sob a continuidade da crise sócio-ambiental, o capital e suas instituições estarão no mínimo desmoralizados perante milhões de seres humanos dos estratos sociais médios burgueses e bilhões de despossuídos, mundo afora.
Diante dessa “verdade inconveniente”, o momento é oportuno para os trabalhadores e suas organizações – se quiserem renascer, única forma de sobreviver hoje – confrontarem a irracional ganância e o poder político das grandes corporações empresariais autóctones e alóctones, indicando alternativas para além da forma de organização e predomínio da propriedade privada, da burguesia e do Estado – ambas assentadas sobre a exploração e mercantilização do trabalho. A alternativa, fica aqui a sugestão, passa necessariamente por defender, sem titubeio, o controle coletivo-social sobre os meios, bens e instrumentos de produção, condiotio sine qua non para a instauração da democracia real. Esta, por seu turno, é o esteio do florescimento da liberdade substancial, que resultará da árdua luta democrática com vista à extinção da liberdade formal e do Estado, filhos legítimos do regime do capital, “o ápice da atualidade”, nas palavras de Marx.
Eis a propositura indicada pelo filósofo István Mészáros na sua obra A necessidade do controle social, publicada pela primeira vez nos primórdios dos anos 1970 e que lhe valeu os prêmios Átilla Jozsef e Isaac Deustscher. Tangido da Hungria pela invasão das tropas russas, em novembro de 1956, Mészáros assistiu e sentiu na pele o quão dominador e opressivo se tornara o regime stalinista – o que já havia sido denunciado no Ocidente por Vitor Serge (1890-1947) em Memórias de um revolucionário e, na década de 1990, pelo escritor russo Anatoli Ribakov (1911-1998) em seus magníficos romances Os filhos da Rua Arbat e 35 e Outros anos. O controle social foi também delineado por Ernest Mandel (1923-1995) em Socialismo x mercado, obra produzida no evolver da implosão social, econômica e política dos regimes do leste europeu, assentados por sete décadas no que José Chasin (1937-1998) chamou de “capital coletivo não social” no magnífico texto Da razão do mundo ao mundo sem razão.
Assim como milhares de outros revolucionários, dentro e fora da Rússia, o marxista húngaro George Lukács (1885-1971) constatou, na prática, o quão certo estava Lenine – opúsculo homônimo – ao escrever: “o fundamento da dialética marxista consiste em que todas as fronteiras na natureza e na história são condicionadas e móveis, de que não há nenhum fenômeno que não possa, sob certas condições, transformar-se em seu contrário”. Foi exatamente no que resultou a Revolução de Outubro, em grande medida, há de se considerar, devido a complexas adversidades da quadra histórica que possibilitaram o engendramento do estéril e feroz “socialismo real” e seus tirânicos regimes políticos e formações estatais.
Germinado dos Soviéts de operários, de camponeses e soldados, idealizados por Lev Davidovitch Bronstein (León Trostsky) em 1905, uma década depois, em 1917, a autêntica organização proletária pôs por terra a autocracia czarista, as instituições, o Estado e a velha política. O feito foi tão convincente e promissor que Lenine viu na organização e na luta disciplinada dos trabalhadores, a possibilidade de extinguir das novíssimas relações sociais revolucionárias, a propriedade privada e o Estado, substituindo-os pelo controle social sobre os meios, bens e instrumentos de produção ou a “associação livres dos produtores livres”. Não foi outro senão esse o propósito d’A Comuna de Paris de 1871 – que o líder russo conhecia profundamente – conforme demonstrou Marx em Guerra de Civil na França.
O salto a frente proposto por Lenine está delineado em Teses de Abril – sobre a extinção do exército oficial e sua substituição pelos trabalhadores armados, e em O Estado e a Revolução – ambas publicadas a quente em 1917. Quem quer que leia atentamente tais obras descobrirá, sem dificuldade, que o líder bolchevique não descarta a necessidade de comando organizado e centralizado, mas também há de perceber que ele jamais defendeu a monstruosa “centralidade democrática” e os famigerados planos qüinqüenais, esteio do Estado hipertrófico e o gigantesco séquito de acéfalos e perversos funcionários – dentro e fora da Rússia – do tipo de um Ramon Mercader Del Rio, como bem descreve o escritor cubano Leonardo Padura em O homem que amava os cachorros.
Em tempo. O debate acerca da extinção do Estado posto à baila por Lenine no empuxo da Revolução de Outubro tinha como pano de fundo os incalculáveis estragos causados pela I Guerra Mundial, no momento em que a Rússia estava sendo tomada pela pandemia de gripe espanhola que ceifou milhões de vidas no Continente Europeu. Como é de todos conhecido, a pandemia foi assim batizada por ter sido denunciada pelos espanhóis, mas a peste originou-se nos Estados Unidos da América. Fato que as autoridades estadunidenses e européias – por conta dos combates na I Guerra – ocultaram do resto do mundo enquanto puderam.
Em maior ou menor medida – mediando à conclusão – há de se verificar que a pandemia da covid-19 vem se mostrando, até aqui, mais devastadora, exatamente nos países onde a doutrina neoliberal foi levada ao limite. É o caso dos Estados Unidos da América, da Itália, da Espanha, França cujos governos de direita nas últimas duas décadas – cada um dentro das possibilidades – privatizaram o que puderem, impuseram o processo de precarização do trabalho e o desemprego. Agora, seus sistemas de saúde sob posse do capital privado sequer têm condições de prestar atendimento digno às vítimas do novo coronavírus por falta de profissionais, equipamentos e até de material básico como luvas e máscaras. Impossível demonstração mais categórica de que o controle sob comando privado sob a vida tem de ser rechaçado e substituído pelo controle coletivo-social.
A inspiradora proposta de luta pela instauração do controle coletivo-social posta na ordem do dia pela Comuna de Paris, destroçado pelo exército franco-alemão e pelos Soviéts, prematuramente engolidos pelo Partido Comunista, significa, antes de mais, a batalha por remover o entulho ídeo-prático logrado pelo stalinismo esterilizante que, em maior ou menor medida, acomete lideranças e se faz presente nas organizações atuais ditas de esquerda, eis um dos motivos que explicam o seu fracasso. E o que é mais importante. Retomar na prática – em face da barbárie em desdobramento – o itinerário civilizatório sob a “lógica onímoda do trabalho”, com vista à emancipação humana, tal como Marx e Lenine nos ensinaram.
Uma esquerda autêntica, capaz de oferecer alternativa abrangente à lógica e o controle do capital, tem de começar tudo novamente. Quanto mais não seja porque, nos ensina Marx que “Nada é mais perigoso para os atores das novas revoluções que cair no mimetismo das anteriores, […] a ignorância das experiências históricas não pode facilitar a compreensão do presente”. “A reflexão crítica sobre as precedentes revoluções engendradas pelo sistema capitalista […] não é apenas para captar os fenômenos repetitivos, mas para perceber plenamente a originalidade de cada nova revolução” (citado por F. Claudín em A crise do movimento comunista). Afinal de contas Lenine assevera: “Nós não devemos dissimular nossos erros diante do inimigo. Quem o teme não é um revolucionário”.