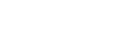Por José Luiz Rojo
“No desenvolvimento das forças produtivas, chega-se a uma fase em que surgem forças produtivas e meios de troca que, sob as condições existentes, só podem ser uma fonte de males, que não são mais forças produtivas, mas forças destrutivas (máquinas e dinheiro)” (A ideologia alemã, Marx e Engels)
Em 6 de agosto passado, cumpriu-se o 71º aniversário do bombardeio ianque na cidade de Hiroshima, no Japão, o que se configurou como o primeiro ataque nuclear da história. Três dias depois, em 9 de agosto, o ataque se repetiria com uma bomba de poder ainda maior na cidade de Nagasaki, conseguindo assim a rendição incondicional do Império Japonês, um evento que poria fim à Segunda Guerra Mundial.
O custo? Duzentos e cinquenta mil pessoas mortas entre os dois atentados; uma ação de barbárie sem nome realizada pelo imperialismo americano “democrático”, ao nível dos campos de concentração nazistas e outras atrocidades da barbárie capitalista durante o século XX (sem esquecermos o GULAG stalinista com a degeneração burocrática da Revolução Russa) [1].
A desculpa usada para tal crime por Harry Truman, então presidente dos EUA? De que o Japão “não se renderia, senão com uma invasão terrestre”, mas que “custaria um milhão de soldados” ianques, alegação que foi negada por investigação posterior, mas serviu como um álibi para desencadear o ataque atômico [2].
O teste com as bombas atômicas perseguia um duplo objetivo: a rendição incondicional do Japão e, acima de tudo, como sinal de alerta à URSS para que ela não se “ampliasse” depois do triunfo sobre o nazismo, em que ela desempenhou um papel fundamental.
O argumento mostrou toda a sua falácia quando se soube que vários membros do governo ianque propunham fazer uma “ação demonstrativa” do poder da bomba em algum porto japonês, reduzindo o impacto sobre a população civil. Truman recusou: buscava levar adiante uma ação exemplar que deixasse os Estados Unidos como indiscutível primeira potência mundial, não importando se isso fosse feito ao custo de centenas de milhares de assassinados (ou melhor: para ser um exemplo, era necessária uma matança em massa!).
Barbárie instantânea
A primeira coisa a se ressaltar é a barbárie extrema do evento. É difícil imaginar o que significa que 100.000 pessoas ou mais (em Hiroshima primeiro, em Nagasaki mais tarde) tenham sido varridas da face da terra em poucos momentos, sem sequer terem um sinal de alerta [3]: “A guerra, escrevi, tem assumido um certo caráter espectral, já que os inimigos não mais se enfrentam diretamente e a magnitude dos efeitos de nossa ação excede em muito nossas faculdades psíquicas, especificamente nossa imaginação. O que podemos realmente fazer, prosseguir, é maior do que podemos imaginar, podemos produzir mais coisas do que somos capazes de reproduzir em nossa imaginação [4]”(“O piloto de Hiroshima”, Günther Anders, Paidós, 2012, Espanha, pp. 112).
Tampouco devemos perder de vista que, através de “meios convencionais”, como o bombardeio Aliado sobre a cidade de Dresden, Alemanha, entre 13 e 15 de fevereiro de 1945, centenas de milhares de pessoas foram mortas em alvos que não envolviam qualquer interesse militar [5].
Em qualquer caso, as bombas atômicas configuram até hoje o suprassumo dos meios de destruição em massa, das forças destrutivas que podem ser alcançadas sob o capitalismo de maneira concreta a uma das maiores conflagrações do século passado.
Num século XX, marcado pelas experiências da revolução e da contra-revolução, Hiroshima e Nagasaki foram outros tantos exemplos de como a contra-revolução imperialista, a barbárie capitalista, as forças destrutivas da mesma ou, o que é o mesmo, a reversão com efeitos destrutivos dos desenvolvimentos tecnológicos sob a camisa de força das relações de produção exploradoras.
A capacidade tecnológica de gerar barbárie “instantaneamente”, por assim dizer, é específica em termos de forças destrutivas das bombas atômicas lançadas em ambas as cidades japonesas: “Uma coluna de fumaça sobe rapidamente. Seu centro mostra uma cor vermelha terrível. Tudo é pura turbulência. É uma massa borbulhante cinza-violeta, com um núcleo vermelho. Os incêndios se espalham por toda parte como chamas que surgissem de um enorme leito de brasas. Eu começo a contar os incêndios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis … quatorze, quinze … é impossível. Muitos para contar. Aí vem a forma de cogumelo que o Capitão Parsons nos contou. Vem até aqui.
É como uma massa de melaço borbulhante. O cogumelo se espalha. Pode ser de mil e quinhentos ou talvez três mil metros de largura e cerca de oitocentos metros de altura. Cresce mais e mais. Está quase no nosso nível e continua a subir. É muito preto, mas mostra certo tom violeta muito estranho. A base do cogumelo se assemelha a uma névoa densa perfurada por um lança-chamas. A cidade deve estar debaixo de tudo isso. Chamas e fumaça estão se torcendo e girando em torno dos contrafortes. As colinas estão desaparecendo sob a fumaça ”(Bob Caron, atirador de cauda, fotógrafo do Enola Gay, avião que soltou a bomba atômica apelidada de Little Boy sobre Hiroshima em 06/08/45).
Se nos casos de Auschwitz e outros campos da morte, o que foi colocado sobre a mesa foi o assassinato em massa industrializado, desumanizado, ainda que de todo modo visível, durante uma sequência temporal de dois a três anos (o auge do genocídio nazista ocorreu entre 1942 e 1944), no caso das bombas atômicas, o “distanciamento” em relação aos eventos foi incomparavelmente maior: a cidade (diante do nada que sobrou dela!) sim, estava embaixo de tudo aquilo que via o fotógrafo do “Enola Gay” …

Este foi o trauma que Günther Anders pintou em sua troca epistolar com Claude Eatherly, piloto do avião de reconhecimento que deu a partida para o bombardeio de Hiroshima, entrando posteriormente em uma grave crise moral e psicológica, quando tomou conhecimento do que havia feito.
Foi a partir da experiência das bombas atômicas e seu poder destrutivo que Anders desenvolveu uma reflexão aguda, apesar de suas unilateralidades (uma abordagem muito cética sobre o curso da humanidade): “A monstruosidade do evento excedeu todas as capacidades da imaginação. e da conceituação (…) Uma nova era estava se abrindo, cujo fim só poderia ser a auto-aniquilação da humanidade ”(Jean-Pierre Dupuy,“Günther Anders, o filósofo da era atômica”).
E então acrescenta: “(…) a partir desse momento não podemos mais duvidar que o destino da humanidade é a autodestruição, que está como inscrita no futuro, o único imperativo válido é o que nos compromete não a mudar o destino – tarefa impossível – mas adiar o seu prazo. A continuação da aventura humana será sempre e a partir de agora, aquele combate em que qualquer vitória será apenas a prorrogação do adiamento do ‘prazo’ (die Frist), e no qual a primeira derrota será a final ” (“GüntherAnders, o filósofo da era atômica”, Jean-Pierre Dupuy, tradução de Javier Sicilia). O ceticismo radical da abordagem é claro, embora não careça de clareza [6].
Em todo caso, a escala do assassinato, a utilização dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos para matar um número impensável de pessoas, negar toda uma construção de vida desta maneira, na qual a humanidade chegará, efetivamente, ao umbral em que pode se autodestruir, tudo isso somente fez tornar iminente o prognóstico de socialismo ou da barbárie.
O motor da história
A experiência de Hiroshima e Nagasaki, assim como a de Auschwitz e em outro nível os campos de trabalho forçado do stalinismo [7], remetem-nos ao problema das forças destrutivas sob o capitalismo.
A especificidade dessa circunstância é como os meios da modernidade atômica industrializada, nuclear, cibernética, colocam-se a serviço de relações brutais de opressão e exploração, de uma “domesticação” da humanidade explorada e oprimida (redução dos seres humanos à animais), um evento de destruição em massa, uma circunstância de assassinato sem igual.
Ademais, sem qualquer justificação que não seja a de afirmar a supremacia do imperialismo ianque em todo o mundo: “Os japoneses começaram a guerra pelo ar em Pearl Harbor. Agora lhes devolvemos o golpe multiplicado. Com essa bomba, acrescentamos um novo e revolucionário aumento de destruição a fim de aumentar o crescente poder de nossas forças armadas ”(Harry S. Truman, presidente dos EUA, 6 de agosto de 1945, em discurso à Nação).
Já discutimos em outras notas o problema de elevar a técnica acima da humanidade em vez de colocá-la a serviço dela (ângulo do filósofo alemão reacionário Martin Heidegger). Aqui queremos nos deter especificamente no conceito de forças destrutivas. Ocorre que as forças produtivas podem funcionar de duas maneiras: ser outras tantas alavancas para o desenvolvimento humano, ou serem colocadas nas mãos de um sistema de opressão e exploração, para transformar-se em barbárie industrializada, como em tantos eventos no século passado.
Vários autores escreveram sobre essa barbárie moderna: o último grito da tecnologia colocada a serviço de fins regressivos. Mas tampouco se trata de que, em si, a tecnologia seja “má”: que tenha alcançado tal grau de “independência” que irresponsabilize os seres humanos. Este não é o caso: as forças produtivas não são um fator autônomo: elas não funcionam sob nenhum automatismo histórico. Elas têm a ver com o fundamento material da existência humana, mas o motor da história é a luta de classes. E dependendo do desenvolvimento e do resultado dessa luta, as forças produtivas serão ora produtivas e ora destrutivas: “(…) a força motriz da história, inclusive a da religião, da filosofia e de toda a teoria, não é a crítica, mas a revolução” (Ideologia Alemã).
Sob a camisa de força das relações capitalistas, esgotado este regime, suas potencialidades de desenvolvimento (dito em termos históricos), colocadas a serviço da preservação, o quanto possível, do atual regime social, as forças produtivas se tornam destrutivas (na realidade, o capitalismo produz um desenvolvimento constante de forças produtivas e destrutivas). Mas isso ocorre precisamente porque elas não são um fator autônomo na história: são, sim, seu substrato material, mas sua “aplicação” depende do regime social ao qual servem. O que não significa, também, que sejam “neutras”: um ou outro desenvolvimento produtivo, um ou outro desenvolvimento tecnológico, um ou outro caráter da atividade, também dependerá dos propósitos a serviço dos quais esse desenvolvimento é colocado.
No entanto, também é verdade que as forças produtivas mantêm uma certa independência: que, enquanto forças produtivas têm o caráter universal de serem potencialidades do desenvolvimento da humanidade como um todo. É óbvio, por exemplo, que a energia atômica não tem um “caráter de classe”: pode ser uma conquista da humanidade como um todo. A forma como é usada depende do regime social sob o qual ela sirva [8].
Uma coisa é o uso da energia nuclear para fins pacíficos e outra, muito distinta, é que seja utilizada para fins de destruição em massa. Sempre é um perigo que esteja nas mãos dos capitalistas (e/ou da burocracia stalinista, veja o dramático caso de Chernobyl). Mas poderia ser uma tremenda potencialidade no socialismo (obviamente, resolvido o que fazer com o lixo nuclear).
A Rosa de Hiroshima
Homem e natureza são os dois mananciais da riqueza: combinados em cada estágio de desenvolvimento (levando em conta os meios de produção), dão o nível das forças produtivas.
Mas acontece que ditas fontes e meios podem ser colocados a serviço de propósitos emancipatórios, da autonomia do homem da natureza, abalar as cadeias da exploração e da opressão, passar do reino da necessidade para o da liberdade, ou serem colocadas num propósito oposto: daí Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki e assim por diante; daí o significado contrarrevolucionário de ambas guerras mundiais com suas “tempestades de aço” (como Ernest Jünger [9] denominara incisivamente as batalhas da Primeira Guerra Mundial)
E é interessante sublinhar o que Eatherly diz sobre o efeito desmoralizador que significa semelhante destruição, semelhante força destrutiva: reduz a confiança da humanidade em si mesma, em suas possibilidades de progresso, em sua capacidade de superar a adversidade, de acabar com as injustiças: “Para a maioria, minha revolta contra a guerra é uma forma de loucura. Mas eu não poderia ter encontrado outra maneira de explicar aos homens que uma guerra atômica não só traz destruição física, senão que também desmoraliza o ser humano”(Claude Eatherly, em “O piloto de Hiroshima”, idem, pp. 127).
Daí que o século passado tenha sido uma clara demonstração da previsão alternativa para o curso da humanidade que Rosa Luxemburgo havia dado: socialismo ou barbárie. Dependendo de quem assuma o comando será o destino da humanidade: se permanecer nas mãos dos capitalistas, mais cedo ou mais tarde se multiplicarão as manifestações da barbárie, dos desastres que de maneira recorrente e aumentada geram a cada passo: veja-se hoje o problema do aquecimento global que deu origem a uma nova era geológica: o antropoceno [10].
No sentido contrário, colocadas ao serviço da liquidação das relações de exploração e opressão, apontando para um desenvolvimento harmonioso das forças produtivas, emancipadas simultaneamente do produtivismo stalinista (que não se importava com os custos humanos e naturais do desenvolvimento), buscando uma revolução completa do conjunto de relações sociais, poderíamos nos aproximar do socialismo.
Como advertência diante da barbárie capitalista – e em homenagem às vítimas dos atentados nucleares – fechamos esta nota com o belo poema de Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima:
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A anti rosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.
NOTAS:
[1]Michel Lowy lembra bem como o imperialismo tem o cuidado de lembrar os casos de Auschwitz (e os campos de trabalho forçado do stalinismo), mas evita os massacres atômicos de Hiroshima e Nagasaki. [2]A feroz resistência japonesa na ilha de IwoYima, e outros casos conforme o exército dos EUA se aproximava da ilha do Japão, serviu como uma justificação para Truman. [3]Em ambos os casos, os possíveis alertas de bombardeio foram rejeitados pelas autoridades da cidade. [4]Isso é claro. Primo Levi aponta algo semelhante sobre a barbárie dos campos de concentração nazistas: a dificuldade de explicá-los como ações humanas. [5]O comandante inglês encarregado da operação apelidada de “Bombardeiro Harris” era uma figura controversa: ele agiu sabendo da insignificância militar do objetivo. [6]Sobre as críticas à abordagem unilateral da abordagem de Anders, ver nossa nota “A condição humana depois de Auschwitz“. [7]Deve-se deixar anotado que, com toda a sua brutalidade, a taxa de retorno dos detidos nesses campos foi qualitativamente mais alta do que a dos campos de extermínio nazistas: daí a diferença entre campos de extermínio e campos de concentração ou de trabalho forçado. [8]É interessante lembrar o conhecido dito de Lênin de que o socialismo eram “os sovietes mais a eletrificação” do país; uma formulação expressamente reducionista que serve aos propósitos do exemplo que estamos dando. [9]Jünger procurava assim “naturalizar” o evento da guerra. Mas sua alegoria era clara quando percebia o destino da “tempestade metálica” que era a frente de batalha. [10]É uma nova era onde a humanidade já tem a capacidade de modificar globalmente o clima: não apenas a capacidade, já o está mudando em grande sentido com o efeito que Engels apontou: quando a sociedade dá um “golpe” ao natureza, ela o devolve de maneira redobrada! Veja-se, a este respeito, os problemas que o aquecimento global está gerando.Tradução: José Roberto Silva