Quarta parte do artigo “Economia e política globais em tempos de Trump”
Por Marcelo Yunes
4.1 Fim da expansão / integração e estagnação econômica
O projeto da União Europeia, durante décadas, caracterizou-se por um duplo movimento: a expansão de sua membresia e o fortalecimento dos laços de integração entre os países-membros. O auge dessa dinâmica de “cada vez mais países, e cada vez mais integrados” ocorreu com a chegada da crise financeira global em 2008. Embora suas consequências tenham demorado a se manifestar, já em 2011 se falava da crise do euro e da divisão entre os países do Norte “frugais” e os “gastadores” do Sul. O único acontecimento contrário a essa tendência foi a entrada do último membro, a Croácia, em 2013. Mas o crescente descontentamento com a UE dentro dos países-membros – em geral, capitalizado por direitas nacionalistas e xenófobas – teve um marco com a saída do Reino Unido em 2016. Não houve novas deserções do bloco, como chegou a se temer com o possível “efeito dominó” do Brexit, mas também não houve novas adesões. Em primeiro lugar, porque a própria UE não demonstrou grande entusiasmo em acelerar o processo para os novos candidatos, em sua maioria países balcânicos.
As razões de fundo não são difíceis de identificar: nos últimos quinze anos, a UE tem sido a região do mundo com menor crescimento, tanto em termos absolutos quanto per capita. As promessas de prosperidade econômica, que na primeira década do século pareciam bem encaminhadas, deram lugar à estagnação e à mediocridade. Em alguns países, certos fluxos migratórios súbitos vindos de fora do bloco (como os gerados pela guerra civil na Síria e pelas recorrentes crises na África Subsaariana) alimentaram a demagogia xenófoba (Alemanha, Áustria, Hungria). Em outros, como o Reino Unido, a onda anti-imigrante tinha como alvo países que eram inclusive membros do bloco.
Nos anos seguintes, o processo de deterioração da imagem do “projeto UE”, ainda que sem rupturas bruscas, continuou por meio de crescentes questionamentos vindos de governos de direita hostis a Bruxelas (Hungria, Polônia). A virada de cenário ocorreu com a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022, que obrigou a um sério reexame de dois problemas. O primeiro, a dependência energética em relação à Rússia, bastante marcante no caso da Alemanha e de outros países do Leste Europeu. O segundo, a súbita consciência da insuficiência da capacidade militar europeia para enfrentar uma ameaça externa, situação que a colocava praticamente nas mãos do maior parceiro da OTAN, os Estados Unidos. As ambições de líderes como Macron no sentido de uma maior “autonomia estratégica” (isto é, militar) da UE revelaram-se sonhos sem base: sem os EUA, a Europa estava, essencialmente, indefesa.
Para complicar ainda mais o panorama de estagnação econômica e irrelevância militar, surgem dois novos atores: China e Trump. O gigante asiático promoveu ao longo de anos uma estratégia de aproximação com muitos países do bloco – basta lembrar o fórum “China + 16” – com um poderoso fluxo de investimentos em infraestrutura e um reforço da relação comercial bilateral. Isso hoje é fonte de conflito em dois sentidos bastante distintos. O primeiro é que a China compete cada vez mais com os próprios produtos europeus; o caso mais notório é o dos carros elétricos. O segundo é que a UE é apenas mais um dos blocos econômicos e políticos que ficam presos na disputa hegemônica entre EUA e China. E, dados os laços históricos da UE com os EUA (juntos, compõem o núcleo do “Ocidente”), não há dúvidas de em qual campo ela deve se alinhar. Muito menos quando, do outro lado do Atlântico, está Trump, que, como vimos, está longe de ser um sentimental ou um homem de princípios quando se trata de definir relações bilaterais.
A Europa enfrenta hoje, portanto, um verdadeiro dilema. Por um lado, quer reequilibrar a relação com a China no que diz respeito ao fluxo de importações e exportações, atualmente amplamente deficitário. Mas não pode se dar ao luxo de ameaçar com um rompimento na relação, o que levaria à ruína, por exemplo, todo o complexo automobilístico alemão. Por outro lado, a UE terá que lidar com as medidas que Trump venha a tomar contra seus próprios aliados, entre eles os europeus. Dada a fragilidade de sua dinâmica econômica, a Europa hoje não está em condições de travar uma guerra comercial em dois fronts. Ceder em qualquer um deles trará um alto custo, mas atualmente não há muitas alternativas.
Na seção anterior, vimos as previsões de crescimento para a Europa e o resto do mundo para este ano. Vejamos agora quais são as perspectivas econômicas para a Europa nos próximos cinco anos (a tabela a seguir incorpora o desempenho do período de 2019 a 2023):
O dado da Irlanda é duplamente pouco significativo: primeiro, por se tratar de um país que representa pouco mais de 1% da população do bloco; segundo, porque seus números de crescimento do PIB estão artificialmente inflados por sua política de impostos ultrabaixos, no nível de paraíso fiscal, para seduzir (com sucesso) as grandes empresas de tecnologia dos EUA, que têm sua sede europeia na Irlanda.
A Polônia já é um país mais relevante; ainda assim, levando em conta seu bom desempenho no período anterior, a previsão do FMI equivale a um crescimento médio de 2,7% ao ano, o que certamente não é ruim, mas está longe de entusiasmar como o melhor desempenho do bloco. Economias importantes como Espanha, Países Baixos e Suécia não alcançam uma média de crescimento de 1,4% ao ano. O cúmulo são as três maiores economias do bloco – Alemanha, França e Itália – que, em uma década inteira, não alcançariam dois dígitos de crescimento total, com médias anuais entre 0,4% e 0,75%.
Com essas previsões miseráveis para o conjunto da UE (nos apressamos em esclarecer que as do Reino Unido estão na mesma faixa de mediocridade), não é de surpreender que o estado de ânimo predominante seja o mau humor, a incerteza e o descontentamento. Um cenário que hoje, insistimos, beneficia politicamente sobretudo as formações de direita, mas isso pode ser muito volátil. Antes de passar para uma discussão sobre as possíveis saídas para esses problemas, faremos uma breve análise do país economicamente mais relevante do continente.
A Alemanha já acumula dois anos consecutivos de leve recessão (quedas do PIB de 0,3% em 2023 e de 0,2% em 2024), sentida principalmente em setores produtivos como a construção (-3,8% em 2024) e a indústria (-3,0%). O motor do avanço econômico alemão na década de 2010 foi a reforma trabalhista (Harz), que reduziu consideravelmente o custo do trabalho para a classe capitalista alemã. Mas essa vantagem competitiva em relação ao restante da Europa foi se desgastando. Isso se deve, em parte, ao fator que tanto preocupa a extrema-direita alemã: a imigração. Mas não, ironicamente, por seu excesso, e sim por sua escassez: diante da queda da taxa média de fecundidade, o único fator que sustentava a expansão da força de trabalho era a imigração. Após o forte fluxo migratório de 2015–2016, o fim desse movimento reduziu a oferta de trabalho e antecipa um declínio da população em idade ativa de 0,5% ao ano nos próximos cinco anos, segundo o FMI (a maior queda entre todas as economias desenvolvidas, incluindo o Japão).
Os alemães também estão preocupados com eventuais surtos protecionistas de Trump: a Alemanha ocupa o quarto lugar na lista de países com maior superávit comercial com os EUA (os outros são China, México e Vietnã). Os investimentos alemães nos EUA representam 15% do total de investimento externo.
O limite autoimposto ao déficit fiscal (o “freio da dívida”, ou Schuldbremse) agrava ainda mais o quadro, a ponto de até os conservadores de direita da União Democrata Cristã – favorita nas próximas eleições – estarem procurando formas de relativizá-lo ou até eliminá-lo. De fato, o possível vencedor das eleições alemãs seria o conservador democrata-cristão Friedrich Merz, um dos arquitetos do limite ao endividamento público consagrado na Constituição alemã em 2009; paradoxalmente, poderia caber a ele a tarefa de revogá-lo, sob pena de condenar a economia alemã a mais anos de marasmo como os dois últimos.
Outra razão pela qual a Alemanha se vê pressionada a eliminar urgentemente o Schuldbremse é a necessidade de aumentar os gastos com defesa e infraestrutura – outro ponto crítico da economia alemã. Mas é duvidoso que um governo conservador, tradicional defensor da disciplina fiscal, realize uma guinada drástica no sentido de permitir um endividamento público significativo. Muito mais provável é que sejam dados alguns passos tímidos, negociados, lentos, trabalhosos… e fundamentalmente insuficientes, que não satisfaçam ninguém nem resolvam problema algum. Algo que se repete como horizonte quando se adota uma visão capitalista, porém crua e realista, dos problemas do capitalismo europeu – como veremos em seguida, após duas breves notas sobre a França, a outra grande economia do bloco, e a Espanha, que recebeu elogios como a economia europeia de melhor desempenho em 2024 (crescimento de 3%).
O nível de endividamento da França alcançaria neste ano 115% do PIB, quase o dobro do limite fixado pelo Tratado de Maastricht. A conta fiscal com juros da dívida subiria de 1,9% para 2,9% do PIB – uma cifra que causaria pânico em qualquer país emergente. Por isso, o rendimento do título soberano francês (quanto maior o rendimento, ou seja, a taxa de juros, maior o risco percebido) tem subido sistematicamente em comparação com seus equivalentes não apenas da Alemanha, mas também da Grécia e da Espanha, os antigos “patinhos feios” das finanças europeias. A questão central é o déficit fiscal, que supera os 6% do PIB. Naturalmente, a receita da classe capitalista francesa é implementar um ajuste fiscal em regra, mas como a França ainda é a França, o capital político necessário para realizar tal ajuste está muito além do escasso capital político do governo Macron, que vive de crise em crise e que de forma alguma tem garantido o cumprimento de seu mandato.
Enquanto isso, no que se refere ao desempenho relativamente positivo da economia espanhola, uma lição que poucos aprenderam é que boa parte da explicação está no fato de o país ter se mantido relativamente aberto à imigração. Nos últimos cinco anos, a Espanha aumentou sua população em idade ativa em 1,5 milhão de pessoas. Dessas, 1,2 milhão eram trabalhadores imigrantes (70% provenientes da América Latina). Um quarto das pessoas que trabalham no setor de hotelaria não nasceu na Espanha.
É verdade que, tanto na Espanha como no Canadá, na Austrália e em outros lugares que ainda recebem um fluxo migratório significativo, o aumento da população imigrante pressiona o mercado imobiliário. Isso gera gargalos habitacionais, explorados pelo discurso da extrema-direita xenófoba. Mas uma conclusão permanece: nas atuais circunstâncias do capitalismo global – marcadas pela baixa rentabilidade e por um crescimento ainda muito baixo da produtividade – uma das poucas “soluções” para o crescimento raquítico, dentro do marco do sistema, é aumentar a massa da população suscetível de ser integrada às relações de produção capitalistas. E com a atual crise demográfica (que trataremos mais adiante), não há muita alternativa senão fomentar a entrada de imigrantes, por mais que isso incomode a direita nativista, racista e xenófoba.
4.2 O relatório Draghi e os problemas estruturais da União Europeia
O documento do ex-presidente do Banco Central Europeu e ex-primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, intitulado “O futuro da competitividade europeia”, é incontornável quando se trata de estabelecer parâmetros para avaliar a atualidade do capitalismo europeu e do projeto da União Europeia. Encomendado pela Comissão da UE e com mais de 600 páginas, é um diagnóstico direto e sem rodeios da crise do bloco, que, para Draghi, representa nada menos do que “um desafio existencial”. Se a produtividade não crescer em um ritmo superior ao dos últimos anos, a economia europeia terá, em 2050, o mesmo tamanho que tem hoje. Isso implica, entre outras coisas, a necessidade de um salto nos investimentos, de 22% para 27% do PIB atual. Nas palavras de Draghi: “A UE chegou a um ponto em que, se não tomar medidas, terá que sacrificar ou o seu estado de bem-estar, ou o seu meio ambiente, ou a sua liberdade.” Esse dilema pode ser chamado de “o trilema europeu”.
A distância entre os EUA e a UE aumentou em favor da economia norte-americana nos últimos vinte anos. O PIB da UE era 15% menor que o dos EUA em 2002; em 2023, era 30% menor. Essa diferença pode ser atribuída a vários fatores, com destaque para dois: a menor produtividade e a queda da participação da UE no comércio global.
Outros elementos estruturais também são fonte de problemas adicionais. A UE contava com o fornecimento garantido de energia barata graças ao gás e ao petróleo russos; a guerra na Ucrânia e as turbulências geopolíticas colocaram em xeque todo o esquema energético europeu, que não é fácil de substituir. No campo das novas tecnologias, a Europa está longe de estar na vanguarda: apenas 4 das 50 maiores empresas do setor no mundo são europeias. Em dez anos, a proporção da receita das empresas tecnológicas em relação ao total passou, nos EUA, de 30% para 38%; na UE, caiu de 22% para 18%. Ou seja, a distância em relação aos EUA, que antes era de mais de 70%, hoje é menos da metade.
Aqui também cabe mencionar a crise demográfica: pela primeira vez em sua história, a UE enfrenta a perspectiva de declínio da população em idade ativa, que poderá diminuir em 2 milhões de trabalhadores por ano até 2040. Soma-se a isso o envelhecimento da população, o que leva à queda da produtividade e ao aumento dos gastos com saúde. Tudo isso ocorre em um momento em que as tendências políticas europeias apontam para o crescimento de uma extrema-direita xenófoba e racista, que demonstra profundo repúdio à única saída realista para esse problema: incentivar a imigração de fora do continente.
Isso se reflete no retrocesso de um dos pilares que parecia ter sido definitivamente conquistado: a livre circulação de pessoas dentro do bloco. O Acordo de Schengen, de 1985, eliminava os controles de passaporte entre todos os países da UE e até mesmo alguns de fora dela (os integrantes do chamado Espaço Schengen). Pois bem, cada vez mais países europeus recorrem a uma cláusula de emergência, que permite retomar os controles por seis meses cada vez que for invocada. Friedrich Merz, favorito nas eleições alemãs de fevereiro, propõe reintroduzir os controles de fronteira já no primeiro dia de seu mandato. Países Baixos começou a aplicar essa medida em dezembro passado, com grande alarde do governo de ultradireita. A França renovou os controles “temporários” em outubro, depois de já tê-los usado durante os Jogos Olímpicos.
Em alguns casos, essa medida parece mais um gesto político para agradar o eleitorado xenófobo do que uma ação prática (nenhum país tem pessoal suficiente para implementar controles efetivos em todas as fronteiras). No entanto, o fato de que esse princípio básico da construção europeia seja questionado sem maiores conflitos mostra que o projeto da UE se sustenta sobre bases mais frágeis do que se pensava.
Voltando à questão da produtividade, um estudo do Banco Europeu de Investimentos aprofunda as causas da diferença em relação aos EUA. Embora a distância não seja tão significativa em termos de taxa de investimento, a diferença aparece claramente nos setores priorizados. Enquanto os EUA lideram em propriedade intelectual, patentes e software, as empresas europeias se especializam em “tecnologias maduras” (com menor potencial inovador) e gastam relativamente menos em pesquisa e desenvolvimento Segundo Draghi: “A UE está atolada em uma estrutura industrial estática (…) com poucas novas empresas desenvolvendo novos motores de crescimento. De fato, não há nenhuma empresa europeia com valor acima de 100 bilhões de euros que tenha menos de 50 anos, enquanto as seis empresas dos EUA com valor superior a 1 trilhão de euros (dez vezes mais) foram todas fundadas nesse mesmo período.”
(citado em M. Roberts, “Saving European capital: it’s an existential challenge”, 12-9-24).
Precisamente uma das indústrias mais importantes da Europa, a automobilística, está vivendo uma crise significativa. As cinco grandes (VW, Stellantis – ex Fiat e Peugeot –, Renault, BMW e Mercedes) caíram em seu valor de mercado combinado de 300 bilhões de euros em abril para menos de 200 bilhões em novembro. E não se trata de uma simples oscilação das ações, mas talvez, desta vez, de um declínio mais estrutural, no qual influenciam dois fatores-chave: a concorrência externa e as dificuldades para converter toda a indústria do motor de combustão interna para o motor elétrico.
O elo que une ambos os fatores é a China. As montadoras chinesas estão tirando participação de mercado das empresas europeias dentro da China… e agora também dentro da própria Europa. O retrocesso no mercado chinês é tão acentuado que talvez seja irreversível: em menos de 4 anos, a participação das marcas estrangeiras no mercado automobilístico chinês caiu de 63% para 37%. A maior fatia era da Volkswagen, que foi de 19% para 14%, e estima-se que caia para um dígito até 2030, segundo o banco suíço UBS. Para Mercedes e BMW, a China representa, respectivamente, 37% e 48% dos seus lucros. A Stellantis praticamente deixou de operar na China, mas sente os efeitos da concorrência chinesa na América do Sul e no Oriente Médio. Se somarmos a isso o impacto potencial das tarifas que Trump pode impor, não é surpresa que os sindicatos europeus estejam em alerta, especialmente na Alemanha (onde a VW pode fechar fábricas pela primeira vez), na Itália e na França.
As duas grandes diferenças entre as empresas listadas nas bolsas dos EUA e da Europa são: o tamanho absoluto e o preço relativo. Todo o índice STOXX 600, que reúne essas 600 grandes empresas europeias, não chega a um terço do valor de mercado das sete grandes empresas de tecnologia dos EUA. E o preço das ações das companhias do índice S&P 500 dos EUA equivale a 23 vezes os lucros esperados (price/earnings ratio), contra 14 vezes das empresas europeias. As empresas europeias que, senão em escala, ao menos em dinamismo e valorização recente, estão no mesmo nível de suas contrapartes americanas, são realmente poucas: alguns laboratórios farmacêuticos, marcas de luxo extremo e pouco mais que isso. Na área de tecnologia digital, apenas a holandesa ASML tem relevância global. Curiosamente, é entre as empresas médias (as que vêm depois das mil maiores) que as companhias europeias mostram-se mais competitivas, superando até as dos EUA. Mas a era Trump, por um lado, e o fraco desempenho da economia europeia como um todo, por outro, fazem com que isso seja menos uma vantagem real e mais um salvavidas para alguns diante das emergências que estão por vir.
Também no terreno crucial da transição energética, a Europa não tem muito a oferecer além de problemas. Não por falta de alternativas, mas, ironicamente, por excesso delas. É muito difícil implementar um sistema integrado de rede elétrica que abarque a energia solar da Espanha, a eólica do Reino Unido ou da Alemanha, a nuclear da França… Também aqui, o problema para a UE é que lhe é impossível competir com a escala chinesa na fabricação de painéis solares ou pás eólicas, ou com a enorme produção de gás natural liquefeito dos EUA (que supre metade das necessidades da Europa nesse setor, uma alavanca que Trump não deixará de usar em suas negociações). A substituição do gás natural a preços relativamente baixos que a Rússia fornecia não será rápida, simples nem barata. É mais uma mostra da dependência de um bloco que acordou abruptamente de seus sonhos de autossuficiência e projeção global.
A Segunda Guerra Mundial equivalia a 1,5% do PIB. Isso significa passar de uma taxa de investimento de 22% do PIB para 27%, um salto que não se viu na Europa desde as décadas de 1950 e 1960. Para facilitar esse cenário pouco provável, Draghi propõe uma redução do custo do financiamento — ou seja, principalmente da taxa de juros — em 2,5%. Mas isso não parece muito factível num contexto em que a) a inflação não está controlada, b) a UE como um todo está comprometida com ajustes fiscais maiores, não com uma expansão dos gastos que poderia gerar condições mais favoráveis ao crescimento, e c) a urgência de aumentar substancialmente os gastos militares diante da dupla pressão da “ameaça russa” e do não menos tangível chantagem de Trump.
Uma possível saída, segundo Mario Draghi, seria aumentar o crédito na forma de fundos especiais sob responsabilidade da União Europeia. No entanto, aqui se encontra o mesmo obstáculo que levou à crise do euro entre 2011 e 2012: não há consenso nem homogeneidade suficientes dentro da UE para que alguns países aceitem financiar outros. Isso não é especulação: a primeira reação ao relatório de Draghi (apenas três horas após sua apresentação!) veio do ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, que advertiu que a Alemanha “não aceitará créditos conjuntos”, pois isso “pode ser resumido em poucas palavras: a Alemanha teria que pagar pelos outros”.
Draghi também recomenda maior investimento público na área tecnológica… às custas de outras áreas atuais, ou seja, do gasto social. Assim, a “solução” de quem é provavelmente um dos maiores cérebros da burguesia europeia e global para o declínio da competitividade da UE — em geral, e especialmente nas áreas tecnológicas mais inovadoras — pode ser resumida da seguinte forma: mais facilidades para o capital privado investir e aumentar sua taxa de lucro, por um lado, e mais sacrifícios para a população como um todo, por outro.
Em suma, a estrutura da UE está muito mais fragilizada que em 2017 diante da sua “segunda dose de Trump”. Enquanto a política europeia se fragmenta cada vez mais entre extremos, a economia continua sem trazer boas notícias em relação ao crescimento. Como se alerta no relatório “Falling Stars” (TE 9430, 11/1/25): “A zona do euro pode em breve voltar a um velho debate: devemos usar o déficit fiscal para impulsionar a economia? (…) Muitos dos problemas da UE remetem a questões que estão no centro da política nacional: gasto com defesa, papel do Estado, impostos. Os planos grandiosos de Draghi parecem cada vez mais uma expressão de desejos para um outro mundo. Para a Europa, este será um ano de gestão de crises”. De fato, esse parece ser o destino europeu nos próximos anos – e não apenas no campo econômico: não um retorno triunfal ao protagonismo global, como sonham Draghi ou Macron, mas sim uma dura luta para não perder ainda mais espaço num cenário cada vez mais dominado por outros atores.
4.3 Uma irrelevância crescente a caminho de uma crise política
A União Europeia se encontra num momento em que está desafiada por dois grandes polos de poder: Trump e China, e parece mal equipada para apresentar um perfil próprio. Os motores centrais do projeto europeu, Alemanha e França, enfrentam uma crise dos partidos de centro e centro-direita, ameaçados pela extrema-direita xenófoba. Presos em suas próprias contradições, dificilmente os países do bloco alcançarão a estabilidade e coesão necessárias para traçar uma estratégia própria.
O perigo para a UE num cenário global dominado pelas aspirações dos EUA e da China (e, no continente, pela ameaça da Rússia de Putin) é que a conjugação de a) marasmo econômico em termos de crescimento, b) crescente paralisia política, c) incapacidade para sustentar autonomia militar sem a assistência dos EUA e d) crescente distância tecnológica em relação aos EUA e à China, acabe fazendo com que aquilo que foi o núcleo histórico do capitalismo ocidental perca cada vez mais relevância na mesa das grandes decisões internacionais.
As esperanças de muitos funcionários em Bruxelas de que em 2028 haverá um presidente americano mais proclive a manter a aliança com a UE (ao estilo Biden, digamos) ignoram que é provável que as prioridades dos EUA tenham mudado de maneira mais duradoura, e não que estejam apenas temporariamente sujeitas aos caprichos de Trump. Não é preciso a dissolução da OTAN para entender que o lugar da Europa já não é o da pós-guerra: o eixo geopolítico se deslocou decisivamente para a Ásia e o Pacífico.
O cobertor econômico europeu é, simplesmente, curto demais: não alcança para sustentar simultaneamente um crescimento que dê perspectiva a uma população em crescente descontentamento (e em processo de envelhecimento), um esforço militar maior e permanente (com ou sem fim da guerra na Ucrânia) e um reequilíbrio das contas fiscais sobrecarregadas pelo peso da dívida. Se a isso somarmos o possível impacto de uma guerra tarifária global ou com os EUA, não é de espantar que todas as agências e consultorias projetem para baixo a taxa de crescimento europeia no próximo lustro.
A presença da guerra mais importante em território europeu desde 1945 é um símbolo da nova etapa em que nos encontramos, e também dos problemas da UE no terreno militar, largamente negligenciado pelo bloco sob o manto da certeza de uma “paz perpétua” que se revelou ilusória. À medida que o conflito se aprofundava, ficavam cada vez mais claras as alarmantes carências da capacidade militar da UE. E não só em termos operacionais, mas também de treinamento, coordenação, capacidade produtiva e atualização tecnológica. As necessidades da Ucrânia para sustentar a linha de frente diante da invasão demonstraram estar muito acima das possibilidades de resposta da UE; sem o apoio dos EUA, a Ucrânia não teria conseguido manter suas posições por dois anos após a primeira investida russa.
Isso abriu uma crise no seio da UE, que despertou abruptamente para a realidade de que, em caso de uma aventura semelhante de Putin em outra frente — a mais óbvia sendo os países bálticos — a “autonomia estratégica” que Macron reivindicava ao considerar a OTAN um organismo com “morte cerebral” está infinitamente longe. Hoje, sem os EUA, a UE está condenada à irrelevância, ou pelo menos à insuficiência crônica, militarmente falando. As relações com os EUA estarão atravessadas por essa carência, que Trump não deixará de explorar na hora de negociar em outros campos.
Por isso, ficaram para trás os tempos em que Trump exigia dos parceiros da OTAN que gastassem em defesa pelo menos 2% do PIB. O novo líder da OTAN, o holandês Mark Rutte (ex-primeiro ministro de seu país), antecipando-se aos desejos do próprio Trump, já advertiu que a meta dos 2% está “obsoleta” — embora ainda 9 dos 32 países membros da aliança não a cumpram — e sugeriu que o novo piso deveria ser 3,6-3,7% do PIB. Entretanto, o entusiasmo dos governos europeus em aumentar os gastos é inversamente proporcional à distância que os separa de Moscou. Assim, a Polônia lidera o clube com um gasto militar de 5% do PIB; os três países bálticos já superam os 3%, que parece ser o novo limite para, ao mesmo tempo, satisfazer Trump e preocupar Putin. Mas, como já apontamos, não será fácil convencer uma população a quem se apresentam constantemente planos de austeridade fiscal de que tudo isso é necessário para que Trump não se irrite demais.
Na disputa com a Rússia, a UE sofre de uma assimetria fatal: Putin não precisa prestar contas a ninguém em seu regime autocrático, enquanto toda decisão europeia precisa passar pelo longo, lento e pesado filtro da burocracia de Bruxelas e dos 27 governos. Assim, enquanto a UE ainda não tomou a decisão de aumentar o gasto militar para 2% do PIB, a Rússia destina 40% de seu orçamento e 8% do PIB para esse fim. A UE, como organismo, dedica, por outro lado, um terço de seu orçamento a subsídios agrícolas. Quem vai dizer aos pequenos produtores rurais europeus que precisam abrir mão de subsídios e outros benefícios para renovar a frota de aviões de guerra, tanques e munições do bloco?
Os líderes europeus sabem que evitar a incômoda decisão de se unirem contra a Rússia – em princípio sob a proteção da OTAN e dos EUA, com o custo consequente em gastos militares e ajuda à Ucrânia – só pode significar buscar algum tipo de “modus vivendi” com Putin que lhes economize essa conta, ao custo de enfrentar a fúria de Trump. A esse respeito, as divisões dentro da UE são gritantes: o leque vai desde os mais fervorosos pró-OTAN que detestam a Rússia (Polônia, os bálticos e, fora da UE, o Reino Unido) até os admiradores abertos de Putin (Hungria, Eslováquia, Áustria), com a França como solitária defensora de uma (hoje utópica) “autonomia estratégica” que contenha Putin sem se jogar nos braços de Trump.
Justamente, uma das grandes questões sobre um possível acordo entre Ucrânia e Rússia é qual papel a UE desempenhará… se é que terá algum, pois Trump pode decidir que o acordo é exclusivamente um assunto russo-americano, sem que a UE (e a própria Ucrânia!) tenham muito poder de decisão. Essa seria a pior opção para a UE: que Trump abandone a Ucrânia fechando um acordo unilateralmente com Putin, o que deixaria os países do bloco com os riscos e os custos, além de sofrerem uma humilhação geopolítica.[1]
Na realidade, não há uma boa solução para a UE de hoje. A questão de como reunir os recursos para aumentar os gastos com defesa e tornar viável uma capacidade de dissuasão militar contra a Rússia (hoje inexistente) é, como vimos, tanto um problema econômico – as contas não fecham – quanto político, que pode desgastar ainda mais governos nacionais e europeus já muito fragilizados. Um obstáculo adicional ao aumento dos gastos militares é seu alto grau de fragmentação: praticamente não há empresas capazes de abastecer ao mesmo tempo os 27 membros do bloco, que, além disso, priorizam fornecedores nacionais que não têm escala, tecnologia ou fôlego financeiro suficientes para responder a picos de demanda.
No campo da tecnologia digital, a UE sofre do mesmo problema que a deixa em desvantagem em relação aos EUA e à China: a falta de escala de suas empresas. A própria arquitetura do bloco, que ao mesmo tempo permite a livre circulação de capitais e estabelece um complexo emaranhado de cotas, salvaguardas e regulações nacionais, torna quase impossível o surgimento de uma Tesla ou de um Alibaba. Entre todas as empresas-chave do setor tecnológico a nível global, as europeias no nível de ponta da tecnologia em IA são exceções – como a já mencionada ASML, da Holanda.
Também não está claro como a UE vai lidar com a dupla pressão da China e de Trump, sob a qual é fácil se encrencar com um ou com outro. Ou até com ambos: quando a UE anunciou uma tarifa específica contra a importação de veículos elétricos chineses (que já dominam 20% do mercado europeu nesse setor), a reação negativa não veio só do Partido Comunista Chinês, mas também… de Elon Musk, que entrou com um processo na Corte Europeia de Justiça. Isso acontece porque as tarifas atingem todos os veículos importados da China, inclusive os Tesla fabricados lá.
Musk está longe de ser o único que se levanta contra as medidas da UE. Entre as primeiras coisas que os magnatas da tecnologia vão pedir a Trump está a oposição às regulações europeias às plataformas de redes sociais. A Lei de Serviços Digitais e a Lei de Mercados Digitais impõem limites muito mais rigorosos para funcionamento e competição do que nos EUA, incluindo multas pesadas. Esse marco regulatório já foi visto em algum momento como modelo internacional a ser seguido, inclusive com a aprovação de Biden, conhecido crítico dos gigantes do Vale do Silício.[2] A chegada de Trump mudou o jogo: o próprio vice-presidente, J. D. Vance, chegou a sugerir que os EUA poderiam retaliar via OTAN se a UE tomar medidas contra o X, a rede social de Musk. Numa demonstração brutal do estilo de negociação trumpiano — mais parecido com o de uma máfia siciliana que com o de um estadista —, ele sugeriu de forma nada sutil que “o poder militar dos EUA vem com certas condições”.
Vamos concluir esta parte com breves comentários sobre a situação política no continente, mencionando Alemanha e Reino Unido. Nesta conjuntura, como vimos, a UE enfrenta o problema político da chamada “putinização” de boa parte da Europa Central e Oriental. Hungria, Eslováquia e agora Áustria – onde o recentemente vitorioso Partido da Liberdade, do ultradireitista Kickl, é oficialmente irmão da Rússia Unida de Putin – são admiradores e potenciais aliados do autocrata russo. República Tcheca pode entrar nessa lista se Andrej Babis vencer. Geórgia e Romênia escolheram governos afins a Putin. Só faltaria o Alternativa para a Alemanha (sigla AfD) chegar ao poder na maior economia europeia para que todo o projeto original da UE fique imediatamente em xeque. Sobre o avanço do AfD, vale destacar suas especificidades. Não parece ser uma ultradireita tão “domesticada” como os Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni ou mesmo o Rassemblement National de Marine Le Pen. Suas posições, por enquanto, são mais radicais e menos aceitáveis para o establishment europeu. Não se trata só da retórica anti-UE: um dos pilares da campanha é a chamada “remigração” dos imigrantes, ou seja, a expulsão e devolução para seus países de origem.
A principal candidata, Alice Weidel, foi recebida por seus partidários com o canto “Alice für Deutschland” (Alice pela Alemanha), numa alusão quase homônima ao proibido canto nazista “Alles für Deutschland” (Tudo pela Alemanha). As pesquisas mostram que o eleitor típico do AfD acredita que a) todos os outros partidos e meios de comunicação mentem, b) o país está mais para uma ditadura do que para uma democracia, c) o feminismo perturba a harmonia social, d) portanto, a reação contra os políticos justifica-se até por meios violentos. Tudo isso se parece bastante com uma agenda fascista atualizada para o século XXI.
Por enquanto, os demais partidos tradicionais da Alemanha mantêm um cordão sanitário contra a chegada do AfD ao poder. Mas, novamente, isso pode mudar antes do esperado; o exemplo da Áustria é muito recente, em todos os sentidos. Para não ir muito longe, no final de janeiro o candidato democrata-cristão, Friedrich Merz, já quebrou o tabu de atuar com a extrema direita ao votar no Bundestag (Câmara Baixa do Parlamento) junto com o AfD uma série de medidas para… restringir a imigração. A iniciativa foi do partido de Merz, a CDU, com o evidente objetivo de disputar votos e espaço da extrema direita adotando seu discurso.
Se o maior risco que a UE enfrenta é deslizar para a irrelevância, com muito mais motivo isso pode ser dito do Reino Unido. A uma inflação mais alta que no “continente” (como dizem os britânicos) e um crescimento ainda mais magro, somam-se as consequências negativas do Brexit, que após terem sido declaradas uma “falsa alarme” pelos governos conservadores, agora são inegáveis.
De fato, todas as pesquisas sobre o tema indicam que uma maioria muito clara dos britânicos – quase dois terços, se não contar os indecisos – considera que sair da UE foi um erro e uma decisão prejudicial. Mas já é tarde para lamentações: nem mesmo o atual governo trabalhista de Keir Starmer pensa em alguma forma legal de reverter o Brexit, que é considerado coisa julgada. O máximo que podem esperar as negociações em curso são ajustes formais que aliviem um pouco os problemas dos exportadores de bens e dos estudantes universitários.
Quanto à situação política, não se deixe enganar pelo sistema eleitoral britânico, que é enganoso. A vitória trabalhista do ano passado no Reino Unido foi esmagadora apenas em termos de cadeiras conquistadas, não de votos; o Partido Trabalhista obteve 62% das cadeiras com apenas 35% dos votos. Sabendo disso, será menos surpreendente saber que, para os parâmetros muito estáveis do sistema político britânico, a crise dos partidos é enorme. O trabalhismo está fazendo uma gestão decepcionante e tem apoio médio nas pesquisas de 26%, a mesma cifra dos conservadores. Assim, as duas forças que tradicionalmente dividiam mais de 90% dos votos alcançam apenas metade do apoio do eleitorado. Em terceiro lugar, não muito longe, vem o Reform Party, do ultradireitista e demagogo Nigel Farage, com 21%. A política britânica pode apresentar novidades importantes antes do que muitos esperam.
Dos dois lados do Canal da Mancha crescem as dúvidas e temores sobre o futuro da Europa como projeto e como maior ator histórico da ordem global depois dos EUA. O próprio Emmanuel Macron reconhece que a Europa sofre um “triplo choque”. O primeiro é a crise do esquema de defesa continental após a invasão da Ucrânia: “Se a Rússia vencer na Ucrânia, não haverá segurança para a Europa. Quem vai acreditar que a Rússia vai parar aí? Que segurança haverá para a Moldávia, Romênia, Polônia, Lituânia…?”
O segundo é o deslocamento da Europa pela China no campo da tecnologia digital e, em geral, na produção de bens manufaturados de alta tecnologia. Até os EUA se sentem ameaçados pelo avanço tecnológico chinês, e a resposta americana, já com Biden, não foi tentar recorrer às regras do comércio internacional, mas sim o protecionismo mais agressivo e subsídios massivos. Isso segue as regras da globalização estabelecidas nos anos 90? Claro que não. Mas, admite Macron, “ninguém joga mais de acordo com as regras. A velha ordem está quebrada e nada veio para substituí-la”. Portanto, raciocina ele, é injusto acusar a UE de protecionista, quando ela só está sendo “realista”: é o que todos fazem (“How to rescue Europe”, entrevista com Emmanuel Macron, TE 9395, 4-5-24).
E o terceiro é aquele que já mencionamos: a crise da estrutura de partidos e instituições que constituíam o centro da “democracia europeia”, sob o assédio de uma direita nacionalista e xenófoba numa era em que o debate político é marcado não pela informação esclarecida, mas pela desinformação e pela criação de câmaras de eco ideológicas via redes sociais.
O que Macron omite é a base material da maioria desses desenvolvimentos: o estancamento econômico está por trás tanto da falta de perspectivas para a população – especialmente as gerações jovens – quanto do inegável e crescente atraso tecnológico em relação à China e aos EUA. Não é de estranhar a apatia ou rejeição às forças políticas tradicionais diante do ataque contínuo dos sucessivos governos – que nisso pouco se diferenciam – a todos os pilares do Estado de bem-estar construído desde o pós-guerra, cuja expansão era a condição não escrita para a saúde do projeto europeu. Não está nas mãos de Macron, Starmer, Scholz ou Sánchez, nem muito menos dos demagogos de direita, reconduzir as legítimas esperanças de prosperidade das massas europeias, algo que só faz sentido dentro de um projeto anticapitalista e socialista.
[1] Há quem especule que um possível resultado do fim da guerra seja uma “finlandização” da Ucrânia. A referência é às concessões que a Finlândia teve que fazer após a Segunda Guerra Mundial para manter seu status de nação independente com sistema capitalista. Por exemplo, declarar-se “neutra” entre o Ocidente e a URSS, aceitar uma base soviética na costa finlandesa (até 1956) e fazer vista grossa às operações políticas da KGB. Se a Ucrânia ficar numa posição militar muito comprometida — o que é provável, considerando a situação atual — não seria de surpreender que Trump queira se apresentar como o “grande pacificador” (por mais ridículo que pareça, Trump está desesperado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz) com um acordo rápido às custas da Ucrânia. Porque o saldo dessa paz seria uma Ucrânia diminuída em território, ainda mais afastada da perspectiva de ingressar na UE e na OTAN, e com sua soberania muito mais comprometida e vulnerável. [2] É o que se conhece como “efeito Bruxelas”: uma medida adotada pela UE que, aparentemente equidistante das demandas dos EUA e da China, acaba sendo atraente para o restante dos países e blocos que não querem se ver arrastados a tomar partido abertamente na disputa geopolítica entre as duas grandes potências. Também nesse terreno mais “cultural”, se quisermos (a regulação das plataformas e redes sociais ultrapassa em muito a questão econômica), a UE começa a deixar de ser um ponto de referência e se vê obrigada a ceder às condições da negociação/extorsão de Trump e da China.
Tradução : Martin Camacho

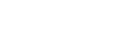












[…] Parte 4 A União Europeia: um projeto estagnado e sob múltiplos ataques […]