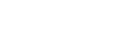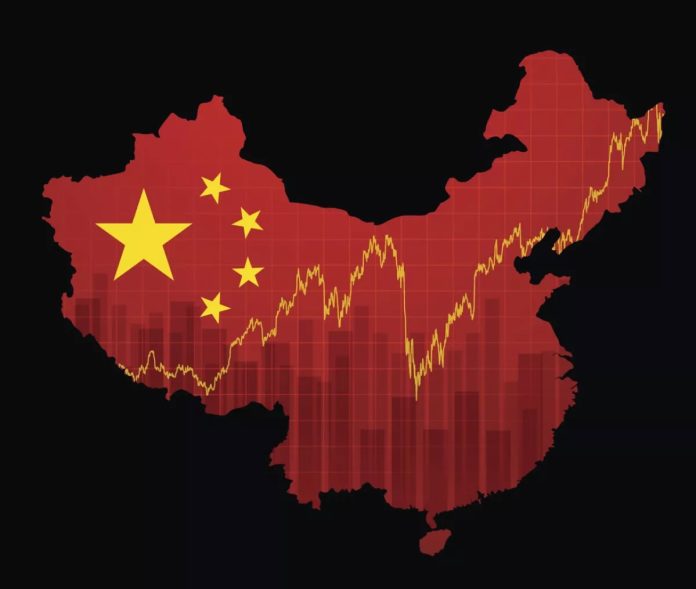Terceira parte do artigo “Economia e política globais em tempos de Trump”.
Por Marcelo Yunes
Em outra oportunidade, abordamos em detalhes o caráter da China e sua posição geopolítica, especialmente em dois ensaios: “China: anatomia de um imperialismo em ascensão” (maio de 2020) e “China hoje: problemas, desafios e debates” (novembro de 2022). No presente estudo, concentraremos a atenção em algumas atualizações de desenvolvimentos que, essencialmente, derivam das tendências analisadas anteriormente, com alguns acréscimos de certa importância.
O contexto geral aqui, como em todo o restante, continua sendo a confrontação estratégica com os EUA pela disputa da hegemonia global em todos os níveis, mas, em primeiro lugar, nos âmbitos tecnológico, econômico e geopolítico, estreitamente interligados entre si.
Mais de um analista descreveu a orientação da liderança do PCCh e de seu secretário-geral, Xi Jinping, como uma “estratégia do caracol”, no sentido de um avanço lento, aparentemente imperceptível, guiado pela paciência e pela perseverança para atingir seus objetivos. De certa forma, como veremos mais adiante, a China obteve sucessos importantes na competição científica, tecnológica e militar com os EUA. A crescente qualidade e eficiência de seus produtos em áreas de desenvolvimento de primeira importância colocam o país em pé de igualdade — em muitos casos, até de superioridade — em relação à maioria de seus pares ocidentais.
Dito isso, no entanto, por razões tanto econômicas quanto políticas e até culturais [1], a liderança chinesa parece aprofundar cada vez mais um rumo de isolacionismo exclusivista. Isso se deve apenas em parte ao evidente, hipócrita e mal-intencionado boicote “estratégico” por parte dos EUA e de vários de seus aliados em áreas tecnológicas sensíveis. O PCCh tenta se preparar para um horizonte de “cerco tecnológico” por parte do Ocidente, do qual acredita poder escapar através de um desenvolvimento autossuficiente, inclusive desvinculando-se dos laços científicos, comerciais ou financeiros que havia cultivado nas últimas décadas de expansão acelerada.
Mas essa orientação — cada vez mais acentuada nas sucessivas reuniões e plenários do PCCh — não faz parte apenas de uma medida elementar de autodefesa, mas também de uma crescente “endogamia” econômica, tecnológica e cultural, que carrega um lado arriscado para a própria liderança chinesa, sem falar para as massas chinesas. Acontece que, à medida que os EUA e seus aliados buscam o “desacoplamento” econômico e produtivo — fim da transferência tecnológica, mudança das cadeias de valor e de fornecimento, etc. —, Xi Jinping se firma em um caminho de autarquia relativa, em que as relações com os parceiros comerciais e políticos se estabelecerão com base na supremacia dos interesses nacionais chineses.
Essa atitude, distante da narrativa de “relações de irmãos” propagada pelo discurso oficial nas relações internacionais, coloca a China em uma posição cada vez mais parecida, paradoxalmente, com a dos EUA sob Trump. Ou seja, a de uma potência que se guia por critérios “transacionais”, pragmáticos, em detrimento de “valores ideológicos” — sejam eles os direitos humanos, a liberdade e a democracia (no caso de Trump), ou a solidariedade, a não intervenção e a prosperidade comum (no caso de Xi Jinping e do PCCh). O caracol tornou-se tão prudente e fechado em si mesmo que virou ostra. E esse fechamento pode ter consequências fatais quando os laços que assim se cortam ou se enfraquecem são justamente aqueles que ligam a burocracia do PCCh a uma sociedade civil onde amadurecem a desilusão e o descontentamento.
Os sucessos geopolíticos nem sempre podem substituir, ou reparar, um consenso político que pode estar se deteriorando de maneira mais profunda do que imaginam os sinólogos “ocidentais” e os panegiristas da burocracia chinesa.
3.1 Continua o fechamento da lacuna tecnológica e militar com os EUA
O atrativo da China tanto como centro de produção quanto como grande mercado para seus próprios produtos vem perdendo força desde a pandemia. Mas essa perda acontece a partir de um patamar muito elevado: o volume da produção manufatureira chinesa é superior ao dos nove países seguintes somados, e equivale a 31% do total global. Enquanto os EUA levaram quase um século para alcançar o topo nesse setor, a China precisou de apenas 15 a 20 anos. Desde 2020, a economia chinesa cresceu 20%, contra 8% da economia norte-americana. A comparação é, claro, ainda menos favorável para os países europeus, alguns dos quais sofreram uma contração do PIB per capita no mesmo período. O verdadeiro peso morto da economia chinesa é o setor imobiliário, que consome uma parte desproporcionalmente grande dos investimentos e do PIB.
É difícil medir a situação econômica real da China, e não apenas pela relativa opacidade de suas estatísticas. Em um país tão vasto, a resposta também depende de quem é perguntado. Na Câmara de Comércio dos EUA em Xangai, por exemplo, não surpreende que o ânimo seja sombrio diante da quase certeza de um conflito comercial bilateral. Mas a desaceleração chinesa não atinge de maneira uniforme: as empresas estrangeiras têm mais a perder do que as locais, e de várias formas. Uma delas é pelas crescentes restrições e regulamentações de um comércio muito mais hostil a um “livre comércio” que não encontra nenhuma reciprocidade por parte dos EUA e da União Europeia. Outra é porque, simplesmente, as empresas chinesas estão em condições de competir com sucesso com as estrangeiras em escala, tecnologia, inovação e design. Isso ocorre ainda mais precisamente nas áreas onde as empresas ocidentais costumavam levar vantagem.
Assim, a Luckin Coffee rouba mercado da Starbucks; a BYD e a Nio ganham espaço da BMW, da VW e de outros gigantes europeus; os robôs industriais chineses já abastecem metade do mercado, quando em 2020 não chegavam a um terço. E com uma economia que já não se expande a taxas elevadas, já não é possível aumentar as vendas mesmo perdendo participação de mercado. Dessa forma, muitas grandes empresas norte-americanas e europeias estão pensando seriamente em bater em retirada antes que Trump complique ainda mais as coisas.
Dito isso, é inegável o avanço da China em reduzir a lacuna tecnológica com os EUA. Dizemos EUA e não mais “Ocidente”, porque nem o Japão nem a Europa estão em condições de competir com a China na maioria dos setores de alta tecnologia. Isso inclui, em primeiro lugar, áreas ligadas a semicondutores, computação quântica e transição energética. Esse avanço se deve, sobretudo, à prioridade que a planificação do PCCh deu à formação científica de altíssimo nível: “Em 2019, The Economist fez um levantamento do panorama da pesquisa científica e se perguntava se a China poderia algum dia se tornar uma superpotência científica. Hoje, a pergunta tem uma resposta inequívoca: sim. Os cientistas chineses levam vantagem em dois campos muito importantes da ciência de alta qualidade, e o crescimento da pesquisa de ponta não dá sinais de desaceleração. A antiga ordem científica mundial, dominada pelos EUA, Europa e Japão, está chegando ao fim. (…) Em 2003, os EUA produziam 20 vezes mais artigos científicos de alto impacto que a China. Em 2013, apenas quatro vezes mais, e, segundo os dados mais recentes, de 2022, a China ultrapassou tanto os EUA quanto toda a União Europeia. (…) Segundo o ranking Leiden de volume de produção em pesquisa científica, entre as dez melhores universidades do mundo há seis chinesas; segundo a revista Nature, sete. (…) A número um do mundo em ciência e tecnologia é a Universidade de Tsinghua” (“Soaring dragons”, TE 9401, 15-6-24).
O famoso plano “Made in China 2025”, que propunha avançar em uma série de metas quantitativas e qualitativas de produção industrial, foi em geral cumprido com sucesso. A China consolida sua posição como centro manufatureiro do planeta, passando de 26% do valor agregado global na indústria em 2015 para 29% em 2023. Uma das metas para 2025 era vender 3 milhões de carros elétricos. Esse objetivo foi superado com folga: o número de 2024 foi superior a 10 milhões, quase dois terços do total mundial. A BYD já vende mais carros que a Tesla. A posição da China no setor de drones é ainda mais dominante: a principal empresa, DJI, vende 90% dos drones do mundo. Na área de energias limpas, o sucesso é ainda mais expressivo: enquanto em 2015 o país produzia 65% dos painéis solares e 47% das baterias correspondentes, as respectivas cifras para 2024 são 90% e 70%. A “transição verde” é liderada indiscutivelmente pela China.
Em pesquisa e desenvolvimento, a meta do plano era passar de um investimento inferior a 1% da renda em 2015 para 1,68% em 2025. A meta foi alcançada já em 2023. Em chips de alta tecnologia, embora a China ainda esteja atrás das melhores, como a taiwanesa TSMC e a sul-coreana Samsung, a diferença continua diminuindo. A Huawei, já em 2023, lançou uma linha de celulares com chips de 7 nanômetros (nm); antes, não baixavam de 12-14 nm, enquanto a TSMC operava em 4-5 nm. Tudo isso foi conseguido em grande parte graças a um aumento da produtividade dos seus 123 milhões de trabalhadores industriais, que cresceu em média 6% ao ano entre 2014 e 2023. No entanto, esse aumento de produtividade se deve menos a avanços tecnológicos e mais a um aumento da exploração do trabalho, tanto pela extensão da jornada laboral (mais-valia absoluta, em termos marxistas) quanto pela intensificação do ritmo de trabalho (mais-valia relativa).
A China domina a produção global de painéis solares, baterias e carros elétricos. Na China, foram registradas três vezes mais patentes de tecnologia para captura e armazenamento de carbono do que nos EUA. O país também está na vanguarda da tecnologia para produção de hidrogênio verde em grande escala e com redução de custos. Shenzhen, um dos centros urbanos e tecnológicos da China, já possui uma frota de ônibus movidos a hidrogênio, e espera-se que este ano a China se torne a “capital do hidrogênio verde”, a ponto de estabelecer os padrões internacionais para a indústria. De fato, economistas e ambientalistas ocidentais veem com preocupação que a transição energética global esteja se tornando cada vez mais dependente da China, [2] num contexto em que os EUA estão liderados por um presidente que nega ou ignora as mudanças climáticas e a necessidade de energias limpas.
A vantagem da China em carros elétricos é simples: são melhores e mais baratos. O uso de tecnologia é muito superior ao de qualquer carro elétrico fabricado no Ocidente, assim como o desempenho técnico.
A idade média dos compradores chineses é de 35 anos, vinte anos a menos do que na Europa, e eles valorizam muito a diferença tecnológica (desde sistemas de direção autônoma até o “modo flutuante”, que permite dirigir na água em emergências) a favor dos veículos chineses. [3]
Outra área crucial da competição tecnológica entre EUA e China é a computação quântica. Os computadores quânticos continuam sendo um domínio reservado a um nicho ultraespecializado; não são fabricados mais do que vinte por ano em todo o mundo. E embora os EUA estivessem à frente da China nesse campo, a distância está diminuindo, tanto em desempenho quanto em capacidade de acesso a insumos como ultrarrefrigeradores (em sensores quânticos, a competição já está equilibrada, e em comunicações quânticas, a vantagem é da China). O avanço chinês provavelmente está ligado ao fato de que, enquanto os EUA se apoiam na pesquisa e no investimento privados (a cargo de gigantes do setor como Google, IBM, Intel e Microsoft), na China o processo é centralizado e controlado pelo Estado, o que facilita a coordenação e as decisões de financiamento.
Entretanto, indiscutivelmente o impacto mais importante na corrida tecnológica entre China e EUA foi o lançamento do DeepSeek, o primeiro modelo de inteligência artificial chinês capaz de desafiar seriamente a supremacia dos EUA em uma área que está na linha de frente da competição: a IA. A surpresa tanto na Casa Branca quanto em Wall Street foi enorme (e, no caso de Wall Street, também gerou um impacto negativo nas ações das gigantes do setor); não esperavam esse tipo de desenvolvimento tão cedo. O boicote tecnológico implementado por Biden contra a China tinha como objetivo principal dificultar e atrasar o máximo possível o desenvolvimento chinês em IA, para preservar e ampliar a vantagem inicial dos EUA nesse campo. Que, apesar dessas medidas, o progresso chinês tenha se acelerado foi — e ainda é — um choque tanto para as autoridades quanto para as empresas norte-americanas.
Dedicaremos uma seção à parte para tratar das questões específicas do desenvolvimento da IA e suas consequências mais gerais. Por ora, basta apontar que entre as implicações do avanço chinês está o fato de que “poderia ser o primeiro a dar o salto para a chamada superinteligência. Se isso acontecer, [a China] ganhará muito mais do que uma vantagem militar. Em um cenário de superinteligência, a dinâmica do ‘vencedor leva tudo’ pode se reafirmar. Mas mesmo que a indústria continue nos trilhos atuais, a adoção da IA chinesa em todo o mundo pode dar ao Partido Comunista Chinês uma influência política imensa, tão preocupante quanto a ameaça propagandística representada pelo TikTok” (“Chinese AI catches up”, TE 9432, 25-1-25).
Encerramos este ponto justamente com um setor que só tende a ganhar ainda mais importância no próximo período: o da tecnologia de aplicações bélicas. A capacidade militar da China, em algumas áreas (ainda que não na área nuclear, como vimos), já supera a dos EUA. Por exemplo, sua marinha é maior (em número de navios de guerra) e, sobretudo, mais nova que a dos EUA: 70% de seus navios foram construídos após 2010.
E segundo a inteligência naval dos EUA, em termos de design e qualidade dos materiais, muitos desses navios já estão no mesmo nível dos norte-americanos. Uma medida do poderio naval é a quantidade de sistemas de lançamento vertical de mísseis (sigla em inglês, VLS). Em 2004, os EUA superavam a China numa proporção de 222 para 1. Hoje a vantagem é de apenas 2,5 para 1, e até 2028 a China deverá ultrapassar os EUA, segundo dois respeitados think tanks especializados, o International Institute for Strategic Studies (IISS) e o Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Na aviação observa-se a mesma tendência: o número crescente de aviões de guerra chineses, com tecnologia que, mesmo que ainda não esteja no nível dos EUA, já se compara à das demais potências da OTAN — e melhora ano após ano. Em áreas como mísseis hipersônicos, tanto em tecnologia quanto em quantidade, a China já é líder mundial. E, de acordo com um relatório de 2024 do Australian Strategic Policy Institute, a China lidera seis dos sete setores mais cruciais da defesa: motores de aviões, detecção e rastreamento hipersônico, robótica avançada, sistemas autônomos e sistemas de lançamento espacial. Os EUA só mantinham a liderança sobre a China na produção de pequenos satélites.
Embora seja verdade que a China ainda esteja longe da experiência e da capacidade comprovada em combate que os EUA possuem, há poucos precedentes históricos de uma escalada de equiparação e modernização militar em tempos de paz dessa magnitude — e ainda com um gasto militar que não supera 2% do PIB (contra 3% dos EUA). Como resumiu o secretário da Força Aérea dos EUA, Frank Kendall: “Estamos em uma corrida pela superioridade tecnológica militar contra um adversário capaz. Nossa vantagem desapareceu. Estamos sem tempo” (“Where China leads”, TE 9422, 9-11-24).
3.2 Nova etapa da economia, novos problemas
Desde o fim da pandemia, parece claro que a economia chinesa entrou em uma nova etapa — não mais caracterizada por taxas estratosféricas de crescimento do PIB, mas por um reequilíbrio das relações entre o circuito externo (investimento estrangeiro direto para e a partir da China, comércio exterior, Nova Rota da Seda) e o interno (infraestrutura, consumo de massas, crise imobiliária). O saldo desse reequilíbrio é um crescimento menos acelerado, agora na casa de “apenas” 5% ao ano, ao mesmo tempo em que a liderança chinesa assume a necessidade de uma maior ação estatal nos planos financeiro e monetário. Tudo isso sem perder de vista o horizonte estratégico de autossuficiência em setores de tecnologia de ponta como semicondutores, IA e computação quântica, no contexto da corrida/competição com os EUA.
O ciclo de crescimento “a taxas chinesas” — do fim dos anos 1990 até a pandemia — baseou-se em um forte aumento da população em idade ativa (não menos de 100 milhões de trabalhadores adicionais) e em um estoque de capital que saltou de 258% do PIB em 2001 para 350% em 2020. Nesse contexto, uma parte importante dessa acumulação assumiu a forma de ativos imobiliários, o que levou à conhecida bolha e crise nesse setor.
O projeto atual de Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês é transferir o foco para as “novas forças produtivas”, expressão fetiche dos discursos oficiais no último ano. O sentido real dessa vaga formulação é a aposta em um sistema de produção de bens manufaturados de qualidade e sofisticação crescentes, com aumento da autossuficiência tecnológica. Em poucas palavras: liderar a próxima revolução industrial, à frente e acima dos EUA.
Diferentemente do plano “Made in China 2025”, que estabelecia metas específicas para algumas áreas selecionadas, a nova estratégia industrial se apoia em “um conjunto de tecnologias interconectadas que se retroalimentam”. A China pretende se tornar uma potência mundial em inovação até a metade deste século (ou seja, para o centenário da Revolução Chinesa [nota do tradutor: MY]). Barry Naughton, da Universidade da Califórnia, considera esse plano como “o maior comprometimento de recursos estatais com uma meta de política industrial da história”. Em e-commerce, fintechs, trens de alta velocidade e energias renováveis, a China já está na liderança ou muito próxima dela. Em uma lista de 64 “tecnologias críticas” identificadas pelo Australian Policy Research Institute, a China é líder mundial em todas, exceto 11 — incluindo comunicações 5G e 6G, biomanuatura, nanomanufatura, manufatura aditiva (impressão 3D [nota do tradutor: MY]), drones, radares, robótica e criptografia pós-quântica (“Hype and hyperopia”, TE 9391, 6-4-24).
Apesar de todos esses avanços reais, os dirigentes do Partido Comunista Chinês não dormem tranquilos — e com razão. Uma das pernas críticas do plano é que esse foco em alta tecnologia apresenta dois problemas: O primeiro é uma reedição da “paradoxo de Solow” dos anos 1980: essa nova era tecnológica ainda não se traduz em saltos na produtividade. O segundo é que esse nível de sofisticação está, por ora, longe de “derramar” para as necessidades cotidianas das massas de consumidores, que expressam crescente descontentamento com a falta de oportunidades de progresso pessoal e profissional. O salto tecnológico chinês gera produtos e serviços que, essencialmente, têm como destino o mercado externo.
De fato, uma das consequências da desaceleração relativa do crescimento chinês é que as grandes companhias do país, que antes contavam com um imenso mercado interno em expansão, agora enfrentam problemas de excesso de capacidade produtiva — o que alimenta um boom de investimentos diretos no exterior. No período de junho de 2023 a junho de 2024, o fluxo desses investimentos atingiu um recorde de quase 180 bilhões de dólares (1% do PIB), dos quais mais de 80% corresponderam a novos projetos iniciados do zero.
A diferença de uma onda anterior entre 2014 e 2016, que foi induzida pelas autoridades, agora o PCCh demonstra preocupação com essa tendência. Também há inquietação nos países que recebem esses investimentos — como Vietnã, Tailândia, Malásia e Indonésia —, em parte devido ao costume das empresas chinesas de empregar, sempre que possível, trabalhadores chineses em vez de locais, que raramente superam metade do quadro de funcionários. Mesmo na Alemanha, 20% da força de trabalho da fábrica de baterias da CATL é de origem chinesa. Isso já está gerando iniciativas para preservar fornecedores locais e aumentar a cota de emprego direto local. Parte desse reequilíbrio também envolve colocar discretamente em segundo plano iniciativas como a Nova Rota da Seda, agora deslocada — como vimos — pelos investimentos diretos de empresas chinesas (estatais ou privadas) que já não necessariamente se inscrevem naquele marco.
Em contraposição a essa onda de investimentos chineses no exterior — que, diferente dos projetos da Nova Rota da Seda, se concentram menos em infraestrutura e extração de recursos naturais e mais na produção de bens manufaturados —, observa-se uma reversão da tendência das últimas décadas, nas quais a China recebia de bom grado investimentos e know-how estrangeiros. Agora, o que incomoda os funcionários chineses é precisamente a transferência de conhecimento chinês para países estrangeiros; a orientação é que sejam exportadas montadoras, e não fábricas com tecnologia de ponta. Em muitas províncias chinesas, os dirigentes locais veriam com bons olhos que até mesmo algumas plantas de baixa agregação de valor que hoje se instalam no exterior fossem construídas no interior pobre da China.
Além disso, a relativa desaceleração econômica convenceu — de maneira lenta, gradual e talvez tardia — a cúpula do PCCh a retomar o estímulo estatal, algo que as potências capitalistas ocidentais utilizaram sem reservas durante a pandemia. Talvez a cautela da liderança chinesa tenha a ver com o fato de que a intervenção estatal anterior de grande escala — durante o pico da crise financeira global de 2008-2009 — também tenha plantado a semente da bolha imobiliária. Xi Jinping, que chegou ao poder em 2012, sempre foi muito cauteloso em matéria de estímulo fiscal. De fato, durante a recessão de 2015, a solução defendida por Xi foi a oposta: não estimular a demanda, mas realizar uma “reforma estrutural do lado da oferta”, focada em reduzir a capacidade industrial excedente, o estoque de produtos e o endividamento das empresas.
Somente agora, na Conferência Econômica de dezembro, decidiu-se que o “vigoroso estímulo ao consumo” seja a primeira das nove prioridades da política econômica. Ao mesmo tempo, a expressão “reforma estrutural do lado da oferta” — presente em todos os informes das conferências anuais desde 2015 — desapareceu do relatório deste ano (“The difficult path ahead”, TE 9248, 21-12-24).
O estímulo à demanda, pela primeira vez em muito tempo, ganhou prioridade sobre os apelos à “disciplina econômica”. Parte desse estímulo pode se concretizar em aumentos (já prometidos) nas pensões e nos subsídios para seguros de saúde. Resta ver se esses sinais se confirmarão, mas a preocupação da burocracia do PCCh com as consequências sociais de um crescimento mais fraco e de um consumo excessivamente cauteloso já é evidente.
Outra fonte de estímulo à atividade econômica — e que também está alinhada com as metas estratégicas de desenvolvimento e de transição energética — é a continuidade de grandes projetos de infraestrutura.
Sobre isso, cabe questionar quão confiável é o dado oficial do déficit fiscal chinês, estimado em torno de 3%. A agência de classificação de risco Fitch afirma que, se ao déficit informado forem adicionados os custos de cobertura da seguridade social, os gastos com infraestrutura baseados na venda de terrenos e as transações das empresas estatais, o déficit fiscal real em 2024 teria sido de 7% do PIB. O FMI, por sua vez, acrescenta a essa lista os “veículos financeiros” dos governos locais, que dependem em última instância do apoio financeiro do governo central. Medido assim — e sempre segundo o FMI —, o déficit fiscal real supera 13% do PIB, e o montante total da dívida pública alcança 129% do PIB.
Embora o ministro das Finanças, Lan Fo’an, afirme que a China ainda tem margem fiscal abundante, quem observa os dados do Ocidente é mais cético. Segundo a Fitch, as receitas do Estado caíram de 30% do PIB em 2028 para 23% em 2024; parte dessa queda é causada pelo quase veto implementado pelas autoridades centrais ao mecanismo de venda de terras, numa tentativa de corrigir a bolha imobiliária. Agora, o instrumento privilegiado proposto pelo Estado chinês aos governos locais não é vender terras, mas comprar as moradias construídas sobre elas. Há cerca de 32 milhões de moradias prontas para venda, e outras 49 milhões em construção. Mas um esquema de compras dessa magnitude certamente levará a uma redução massiva no preço de venda, o que é uma boa notícia para os compradores genuínos de primeira residência, mas é uma perda insustentável para os bancos, que possuem esses ativos supervalorizados como garantia de seus empréstimos. Na falta de uma alternativa melhor em um sistema financeiro altamente fechado – se há algo que a liderança do PCCh teme é a fuga de capitais – os bancos recorrem em massa à compra de títulos do Estado, o que derruba a taxa de juros desses títulos por excesso de demanda e deixa os bancos com o mesmo problema de ativos que rendem menos do que o peso de sua dívida.[4]
Falar em “panorama sombrio”, como faz a imprensa ocidental em uníssono, é possivelmente exagerado, e não leva em conta, por exemplo, que a taxa de juros extremamente baixa – acompanhada de quase deflação – permite que o governo central se financie muito mais barato do que os países ocidentais. E os controles de capitais mantêm firme a demanda pelos títulos com os quais o Estado se financia. O mais realista provavelmente seja que o Estado chinês realmente tem margem fiscal no curto e médio prazo, mas está acumulando problemas mais estruturais (começando pela queda da população em idade de trabalhar e o envelhecimento geral da população) que, eventualmente, trarão custos.
Um problema adicional, que lembra o que acontecia sob a burocracia stalinista nas últimas décadas da URSS, é que as diretrizes do plano central nem sempre são cumpridas com o zelo necessário pelos funcionários de nível médio e local. E não por incapacidade ou dissidência real, mas por temor das contínuas purgas no partido que afetam os “maus funcionários”. Não há instituição mais temida do que a Comissão Central de Inspeção de Disciplina (CCID), encarregada de monitorar, detectar anomalias e punir condutas que vão de “temeridade” e “irresponsabilidade” até “preguiça” ou “inatividade”. O resultado é que os funcionários não sabem se estão correndo o risco de ser excessivamente audaciosos ou excessivamente tímidos, mas o maior perigo geralmente é o primeiro. Na última década, a CCID sancionou seis milhões de funcionários de todos os níveis, com punições que vão desde a advertência escrita (por “erros devido à inexperiência”) até a pena de morte (para casos de corrupção).
O resultado? Cada vez mais funcionários locais e de nível médio preferem adotar um perfil tão baixo que equivale quase à passividade (embora, como vimos, está também possa ser punida). Assim, explica-se que dos 4 trilhões de yuans (550 bilhões de dólares) que o governo central destinou aos governos locais como estímulo para projetos de infraestrutura, até o final de outubro mais da metade não tenha sido utilizada. É altamente irônico que este tiro no pé da burocracia de planejamento replique quase que perfeitamente as práticas do PC da URSS, precisamente o modelo de fracasso que o PCCh mais teme.
3.3 O choque estratégico com os EUA e uma crescente inquietação interna
Como a China se prepara para as tarifas de Trump? A principal linha vermelha não é econômica, mas política: as pretensões da China sobre Taiwan não são negociáveis. Para a liderança chinesa, também é importante preservar o dinamismo econômico interno, o que pressupõe um aumento das exportações diante de um consumo interno enfraquecido. Por isso, também estão em pauta, como mencionamos, medidas de estímulo ao consumo, mesmo que isso signifique aumentar o déficit fiscal de 3% para 4% do PIB, segundo a Reuters.
No plano puramente comercial, a China continua a desfrutar de um superávit externo invejável (992 bilhões de dólares em 2024, cerca de 6% do PIB). Um terço desse valor corresponde ao superávit com os EUA, que, paradoxalmente, depois de tanta água que passou por baixo da ponte, está no mesmo nível de 2018: 340 bilhões de dólares. Como a China depende mais da demanda dos EUA do que o contrário, as medidas de retaliação comercial, embora não descartadas, não seriam a resposta mais eficiente. Dentro do PCCh, há um setor que recomenda deixar o yuan cair frente ao dólar, calibrando o risco de alimentar uma saída de capitais. No entanto, as contramedidas chinesas provavelmente terão mais a ver com o papel estratégico de certos produtos do que com tarifas gerais. Por exemplo, a China pode intensificar as restrições às exportações de minerais-chave para a indústria de tecnologia digital, como o gálio e o germânio, além de precursores de anticorpos para a indústria farmacêutica e outros setores sensíveis. Mas tudo isso permanece na especulação até que se definam com mais clareza quais serão as medidas comerciais de Trump contra a China.
No campo da busca por alianças para conter a ofensiva de Trump, a liderança chinesa se orienta por um sistema de anéis. O mais interno, composto pelos aliados mais próximos, é o que hoje forma o novo “eixo do mal”: Rússia, Irã e Coreia do Norte. Claro, nem todos têm a mesma importância para a China. Também não existe nenhum fórum ou organismo que reúna os quatro; na realidade, as relações entre esses países se constituem mais como uma trama complexa de relações bilaterais entre todos.
O segundo anel – vale esclarecer que, na verdade, todos admitem certas sobreposições – é o dos BRICS, que, ao contrário do anel anterior, é um ente comum, mas com um nível de compromisso recíproco bastante baixo. Por essa razão, é muito mais um fórum de discussão de ideias do que um verdadeiro organismo capaz de tomar decisões que gerem obrigações para seus membros. Os integrantes – tanto os antigos quanto os recém-incorporados – são muito heterogêneos em volume econômico e peso político. Também não estão livres de atritos entre si, começando pelos maiores parceiros, Índia e China, mas também Rússia e Brasil, Irã e os Emirados, e a lista poderia continuar. No entanto, a permanência do fórum segue sendo, em um mundo convulsionado e incerto, um bom negócio para todos seus membros, na falta de entidades mais estáveis e orgânicas.
O terceiro anel de relações exteriores da China abrange os simples parceiros comerciais, começando pelos países vizinhos, e depois os receptores de investimentos chineses, seja no âmbito da Nova Rota da Seda (NRS) ou não. Aqui estão incluídos os países do Sudeste Asiático, Europa Oriental, África e América Latina; o objetivo da liderança chinesa será buscar uma causa comum com os (provavelmente muitos) prejudicados pelas medidas de Trump para se erigir, paradoxalmente, como guardião da ordem comercial global da OMC e do livre comércio.
Como tudo isso afeta a população chinesa e a imensa classe trabalhadora da China? Sem a pretensão de oferecer um panorama geral, o que exigiria muitos mais dados, é possível constatar que uma das preocupações centrais das massas gira em torno das perspectivas de emprego a médio e longo prazo, o que explica tanto a fraqueza do consumo privado no varejo quanto a crise contínua do mercado imobiliário. Principalmente nas grandes cidades, a confiança na possibilidade de desenvolver uma carreira profissional está em um nível muito baixo, o que desestimula a ideia de comprar uma casa e impulsiona duas tendências inesperadas: voltar para o campo (ou para pequenas cidades) ou abandonar diretamente a busca por emprego. De fato, a recente leve queda na taxa de desemprego entre os jovens urbanos provavelmente se deve menos à reativação da atividade econômica e mais à resignação de muitos que acabaram saindo do mercado de trabalho.
Também há uma crescente insatisfação com o péssimo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, imposto pelas extenuantes jornadas de trabalho no setor privado (das quais Xi Jinping é um fervoroso defensor). Isso é especialmente comum nas grandes empresas de tecnologia chinesas. Quando a chefe de comunicação da Baidu (o chamado “Google chinês”) fez um vídeo se vangloriando de esquecer os aniversários de seus filhos ou de não saber em que série escolar estão porque é uma “mulher de carreira” que atende o telefone 24 horas por dia, a reação foi tão intensa que seu pedido de desculpas não foi suficiente, e ela teve que renunciar para que a Baidu pudesse afirmar que suas palavras “não refletem os valores” da empresa. O crescente rejeito a essa cultura de exploração se torna evidente no aumento do número de candidatos por vaga quando são realizados concursos para a administração pública, que prometem menos desenvolvimento de carreira, mas mais estabilidade e horários de trabalho menos desumanizantes. Daí a situação paradoxal, como descreveu o economista Gao Shanwen, da SDIC Securities, em uma conferência recente em Shenzhen (rapidamente censurada online), de que “o país está cheio de idosos entusiastas, jovens apáticos e pessoas de meia-idade desesperançadas”. (“Of doubt and data”, TE 9427, 14-12-24).
A imprensa pró-imperialista provavelmente exagera ao descrever situações como “o contrato social está sob pressão” ou que a liderança chinesa teme estar chegando à “armadilha de Tácito” (o momento em que a descrença no governo é tal que tudo o que ele fizer será lido negativamente pela população). Mas parece indiscutível que há um certo ambiente de abatimento e desorientação, o que talvez explique o surpreendente dado revelado pela empresa chinesa de internet NetEase, de que 80% dos menores de 30 anos usam aplicativos de astrologia e tarô para adivinhar seu destino, uma tendência que acompanha uma moda recente de espiritualismo, religiosidade ao estilo New Age e práticas semelhantes. O PCCh só responde com medidas de censura online e campanhas contra a “superstição feudal”, mas sem muito sucesso.
A contraparte dessa atitude é o aumento lento e subterrâneo, mas real, da disposição dos trabalhadores em protestar, apesar do clima asfixiante contra os sindicatos e da perseguição a qualquer tentativa de organizar os trabalhadores. O aumento no número de delegados-espiões que o PCCh instala em fábricas e grandes concentrações de trabalhadores, com o consentimento das autoridades empresariais, obedece menos à desconfiança nos patrões do que ao medo de que o crescente descontentamento dos trabalhadores encontre canais independentes. Esse, mais do que qualquer birra de Trump, é o cenário que tira o sono da burocracia chinesa.
[1] Ao contrário do que muitos acreditam, o vetor ideológico mais importante do PCCh não é, de forma alguma, o marxismo ou o comunismo, em qualquer versão que seja, mas um nacionalismo chinês exaltado, com tintas claramente excepcionalistas que se diferenciam pouco de outras variantes mais racistas do “destino manifesto”. Todas as comunicações oficiais se encarregam de ressaltar duas questões: que toda comparação com outros países ou regiões deve dar espaço para as eternas “características chinesas” e que a China possui um traço que a torna distinta – e, implícita, superior – a todas as outras nações no fato de que tem “5.000 anos de civilização ininterrupta”, um messianismo que combina muito mal com o suposto “marxismo” do PCCh. [2] Só em 2023, a China adicionou quase 300 GW de capacidade de geração apenas em energia eólica e solar, ou seja, o triplo da capacidade de geração total do Reino Unido. [3] A China não só tem vantagem nos carros flutuantes, mas também nos voadores: na China, são fabricados metade dos “veículos de decolagem e aterrissagem vertical”; nos EUA, apenas 18%. Só em Shenzhen, 600 plataformas de decolagem e aterrissagem de carros voadores serão construídas neste ano. [4] Claro, milhões de pequenos e médios investidores que se aventuraram na bolha imobiliária comprando duas ou três propriedades para “garantir seu futuro” também sairiam perdendo. Além disso, a saída das propriedades como investimento atrativo canaliza a poupança dos particulares para opções menos rentáveis e economicamente menos eficientes, como os depósitos a prazo fixo. Isso é outro péssimo negócio para os bancos, acostumados a que os créditos hipotecários a lares fossem o setor mais importante de suas carteiras. Muitos desses bancos começam a ruir sob o peso das dívidas crescentes e da queda na avaliação de seus ativos; é questão de tempo até termos novidades relacionadas à crise do sistema financeiro chinês.Tradução: Martin Camacho