O artigo que apresentamos abaixo, de Marcelo Yunes, é extremamente educativo em relação a como fazer análise dialética da realidade. Neste caso, partindo das contradições de um mundo polarizado, disseca as eleições norte-americanas de novembro. Demonstrando os diversos lados dos fatos apresentados em narrativas à esquerda e à direita, deixa claro que leituras impressionistas, sectárias, objetivistas, reducionistas e, principalmente, oportunistas somente induzirão ao erro de diagnóstico e à catástrofe nas táticas e estratégias derivadas daí. Outro elemento importante – a partir de falas de setores da própria direita – é o de que somente a mobilização e as ruas, como no caso da Marea Verde norte-americana, produzem resultados favoráveis aos trabalhadores e oprimidos. Yunes, além da analise feita das eleições estadunidenses, nos deixa lições metodológicas e de estratégia para compreender a conjuntura atual do Brasil pós-eleições de outubro, possível processamento e prisão de Bolsonaro e reativação da luta desde baixo contra todos os ataques e pelo fim da escala 6×1. É preciso bradar mais alto: “somente as ruas derrotam a extrema direita e a conciliação de classes”
Redação
Causas e consequências da vitória de Donald Trump
O resultado das eleições nos EUA e o triunfo de Trump foram e continuam sendo objeto de análises, comentários e especulações intermináveis
MARCELO YUNES
Faremos aqui uma primeira avaliação do ponto de vista marxista, o que implica antes de tudo olhar para os fatos com seriedade, objetividade e sem impressionismo. Dizemos isso em primeiro lugar em oposição à resposta desmoralizada e chorosa de não poucos intelectuais de esquerda, que veem no caráter obviamente reacionário de Trump uma razão adicional para estender seu luto por uma alternativa socialista revolucionária neste século. A esse coro fúnebre – de solistas renomados na América Latina e em outras latitudes – juntou-se recentemente o esloveno Slavoj Zizek, que recorre espúriamente a Lênin, nada menos que isso, para argumentar que “a esquerda (ou o que resta dela) deve começar do zero” (compact.mag.com, 8-11-24). Das fileiras de um marxismo militante, sugerimos a Zizek e outros “filhos das lágrimas” que voltem às palavras de um filósofo muito querido a Marx, Baruch Spinoza: “Nem ria nem chore: entenda”.
1- Os números da eleição
Uma vez que entre as muitas vítimas da mais elementar racionalidade nestes tempos de fake news, pós-verdade, análises e opiniões caprichosas está o desprezo olímpico pelos dados básicos. Partiremos desse ponto a fim de apoiar a análise sobre fatos (eleitorais) e não sobre suposições ou expressões de desejo.
Ao contrário de 2016, quando Trump ganhou a presidência tendo obtido quase 3 milhões de votos a menos que Hillary Clinton, desta vez seu triunfo tem a legitimidade adicional do voto popular. Vários milhões de votos ainda precisam ser contados, especialmente na Califórnia, o estado mais populoso do país, onde a contagem é de apenas 59% (!). No entanto, é fato que a vantagem de Trump de 73,4 milhões de votos contra os 69 milhões de Kamala Harris é intransponível, e a distância final será próxima de 3 milhões de votos a seu favor.[1]
Se compararmos com a eleição anterior (2020), Biden obteve 81 milhões de votos (51,1%) contra 74,2 milhões de Trump (46,9%), com uma participação eleitoral de 67%, a maior nos EUA desde a eleição de 1900, há mais de um século. Em 2024, a participação foi um pouco menor: 64,5%, o que ainda é alto para os EUA, e ainda maior do que a participação eleitoral nas eleições deste ano no México e no Reino Unido (“How Did Voter Turnout Compare?”, Anusha Rathi, Foreign Policy, 6-11-24). Portanto, a primeira diferença é que, embora Trump tenha obtido aproximadamente o mesmo número de votos da eleição anterior, Harris obteve cerca de 10 milhões de votos a menos do que Biden em 2020.
De qualquer forma, sabe-se – e comentamos longamente em nosso texto anterior às eleições – que nos Estados Unidos a soma total de votos no país, ao contrário do que acontece em qualquer sistema eleitoral normal, não decide nada.[2] O que importa é o número de eleitores obtido em cada estado, já que a eleição é indireta. Quem vence em um estado leva o número total de delegados correspondentes a esse estado (sem qualquer proporcionalidade para quem fica em segundo lugar). O número de delegados por estado é muito vagamente proporcional à população. E em quase todas as eleições, os estados que importam são os poucos onde há paridade; os outros são estados “seguros” para um partido ou outro.
Antes da eleição, os estados “seguros” eram estimados em 44, com a seguinte distribuição de eleitores:
Estados Delegados
Harris 20 226
Trump 24 219
Em disputa 7 93
Total 51 *538 (mínimo para ganhar: 270)
*Os 50 estados mais a capital, Washington (Distrito de Columbia), que tem 3 delegados.
Dos sete estados indecisos, em 2020 Biden venceu seis e Trump um. O resultado final em termos de número de delegados foi muito simples: os estados “seguros” permaneceram assim (para ambos), e Trump venceu nos sete estados em disputa, levando esses 93 delegados:
Estados Delegados
Harris 20 226
Trump 31 312
Assim, no Colégio Eleitoral – que é o que importa em termos institucionais – a vitória de Trump foi muito confortável, muito mais do que o esperado e até mais ampla do que a de Biden. A possível contradição entre o “voto popular” e a distribuição de delegados (que ocorreu nas eleições de 2000 e 2016) não se concretizou.
Dito isso, vale a pena notar uma das muitas disfunções a que nos referimos em nossa nota anterior. Prima facie, o triunfo de Trump é claro e inquestionável: ele venceu na maioria dos estados, no voto popular e no número de delegados. E, no entanto, uma variação minúscula em apenas três estados teria sido suficiente para a vencedora ser Kamala Harris. Lembremos que ela já tinha 226 delegados de seus 20 estados seguros e que precisava de apenas mais 44 eleitores para chegar aos 270 que lhe dariam a presidência. Vejamos a margem de votos com a qual Trump conquistou a vitória nesses três estados-chave:
Estados Vantagem de Trump Delegados
Wisconsin 29.500 10
Michigan 81.500 15
Pensilvânia 136.000 19
Totais 247.000 44
Como se pode ver, mesmo que perdendo por 3 milhões de votos no voto popular, Harris poderia ser a presidente eleita hoje se apenas 125.000 pessoas tivessem votado nela em vez de Trump nesses estados (com a distribuição correta, é claro). Desnecessário dizer que esse chiste entre o voto popular e o aperto da margem teriam sido exatamente o cenário de pesadelo, de indignação, alegações de fraude e mobilização da base republicana que muitos temiam. O triunfo de Trump também dissipou esse fantasma.
Outra medida da natureza retumbante da vitória de Trump é que ele ganhou a chamada “tríade”: Presidência, Câmara dos Senadores e Câmara dos Representantes (deputados). Na verdade, a margem em ambas as câmaras já era muito pequena: o Partido Democrata tinha 51 senadores em 100 e o Partido Republicano controlava a câmara baixa por apenas quatro deputados (222 em 435). O cenário atual é que os republicanos já tenham uma maioria de 53 senadores (ainda há dois em disputa) e na Câmara dos Deputados, com vários distritos pendentes de definição, estão à frente dos democratas por 211 a 200, mas a projeção é que alcancem por pouco a maioria absoluta de 218.
Quando os resultados por estado desta eleição são comparados com o anterior, um padrão emerge muito claramente: além de reverter a derrota em nada menos que seis estados, Trump aumentou o percentual de vantagem sobre seu rival em absolutamente todos os outros estados (25) onde havia vencido em 2020. Em contraste, Harris reduziu a vantagem percentual de Biden sobre Trump não apenas, obviamente, nos estados onde ele perdeu, mas em 20 dos 21 estados (ou seja, todos, exceto Washington – não confundir com a capital – onde ele foi apenas 0,3% maior). Os dados não deixam muito espaço para análise: de forma não avassaladora, mas muito consistente, Trump melhorou a eleição republicana e Harris piorou a eleição democrata em todo o país e em cada um dos estados.
Finalmente, uma pergunta recorrente após cada eleição, principalmente nos EUA: as pesquisas falharam? O triunfo de Trump foi realmente uma surpresa? A resposta é que não realmente, ou nem tanto. As pesquisas davam a Trump uma vitória confortável, enquanto seu candidato era Biden. Quando este último desistiu da luta para ungir sua vice-presidente Kamala Harris, o impacto inicial parecia ter apagado a vantagem de Trump, impressão que foi reforçada após o (único) debate entre os dois, do qual o republicano saiu muito mal. No entanto, à medida que a data da eleição se aproximava, a maioria das pesquisas registrou uma estagnação para Harris e uma recuperação para Trump. E na véspera da votação, embora por prudência quase todos os pesquisadores falassem de paridade ou disputa pelo resultado – já vimos que as voltas e reviravoltas do sistema eleitoral dão origem a qualquer surpresa – vislumbrou-se uma eleição melhor para Trump. É significativo que The Economist, que durante grande parte da campanha deu uma ligeira vantagem a Harris, na primeira página da edição imediatamente antes da votação colocou uma imagem de Trump com o título “O que pode dar errado?” e dedicou o primeiro editorial a ele, como se sua vitória fosse quase uma coisa natural. E, de fato, as casas de apostas – que podem ser mais confiáveis do que as pesquisas, com tanto dinheiro envolvido… – davam a Trump o favoritismo por uma margem não muito ampla, mas notória.[3]
De qualquer forma, a surpresa foi a rapidez da definição, graças ao fato de que a vantagem de Trump em todos os estados decisivos, embora longe de ser categórica, foi suficiente para projetar sua vitória. Digamos que o establishment político e econômico, independentemente de em quem seus membros tenham votado, soltou-se um óbvio suspiro de alívio quando se viu que já na madrugada de 6 de novembro a eleição estava praticamente resolvida. Nada lhes gerava mais angústia e horror do que um cenário de prolongada indefinição.
2- Por que venceu Trump (I): as múltiplas clivagens de identidade
A divisão e polarização do país não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos, é claro, mas sem dúvida adquire uma profundidade e multidimensionalidade que está ausente em outros casos. Nos Estados Unidos, há uma combinação de várias clivagens que afetam toda a população de uma forma ou de outra. Vamos listar rapidamente antes de entrar em detalhes: a divisão por gênero (aprofundada pela questão do aborto, muito presente na eleição), setores étnicos (“brancos” vs. outros, e dentro deles, as particularidades do voto de afro-americanos e latinos, sobretudo), faixas etárias (jovens e idosos tendem a votar de forma muito diferente), a diferença de nível educacional (outro forte preditor de votação), orientação sexual (a comunidade LGBT se inclinou esmagadoramente para o candidato democrata), a lacuna entre os condados urbanos e rurais (este último, esmagadoramente pró-Trump) e a lista poderia continuar.
Infelizmente para os marxistas, uma das clivagens quase ausente na polarização político-eleitoral é a da classe social: o nível de renda ou tipo de emprego é um elemento que diz muito menos – em termos técnicos, é um fator menos preditivo – sobre a orientação do voto do que qualquer um dos outros. Se a questão da classe social é eleitoralmente importante, é no fato de que tanto a classe trabalhadora branca quanto a nata dos multimiilionários (bilionaires: pessoas com mais de 1.000 000.000 de dólares em riqueza) votam esmagadoramente em Trump.
Tomemos em primeiro lugar, então, a questão demográfica e, em seguida, adotemos uma abordagem mais propriamente política das razões para o resultado das eleições. As mulheres votaram principalmente (54%) em Kamala Harris, uma porcentagem que foi maior entre as mulheres jovens e com mais de 65 anos de idade. No caso das mulheres afro-americanas, o percentual é de esmagadores 92%, algo que estava longe de acontecer com as mulheres latinas, onde a vantagem de Harris era ainda menor do que a que Biden havia obtido naquele grupo. Mas entre as mulheres brancas, Trump prevaleceu (“Como o gênero moldou os resultados das eleições”, Christina Lu, Política Externa, 6-11-24).
O problema para a candidata democrata era que ela aspirava alcançar uma diferença maior entre as mulheres, em parte contando com referendos estaduais sobre a questão do aborto, que ocorreram em nove estados. Destes, sete (quatro deles claramente republicanos) conseguiram garantir esse direito inscrevendo-o na Constituição estadual, com exceção de Nebraska que a emenda que permitiria o aborto até a viabilidade do feto (como era sob a lei federal Roe v. Wade) foi derrotada, mas foi provisoriamente aceita para o primeiro trimestre de gravidez. Em contraste, em Dakota do Sul, a emenda foi rejeitada por pouco, e na Flórida a proposta que restaurou o direito ao aborto teve uma aceitação de 57%, mas um mínimo de 60% era necessário para aprová-la.
Houve casos em que a divisão de gênero superou a étnica: os homens latinos, que apoiaram principalmente o Partido Democrata em 2016 e 2020, agora se inclinavam para Trump. Em outros, a divisão etária prevaleceu sobre a de gênero: Trump venceu em todos os grupos do voto masculino, exceto entre os jovens de 18 a 29 anos e entre os homens afro-americanos.
No geral: o padrão demográfico do voto é altamente discernível: Trump tem uma vantagem entre os homens (em primeiro lugar); depois entre os eleitores rurais, brancos em geral e pessoas com mais de 30 anos. Contanto que sejam heterossexuais, é claro.[4] Por outro lado, uma maioria muito clara de afro-americanos, uma maioria não tão firme de latinos (latinas, melhor) e mulheres, jovens em geral, pessoas com ensino superior e pessoas não heterossexuais se inclinaram para Harris.
A polarização social também tem uma dimensão geográfica que é claramente discernível quando se analisa os mapas de cada estado, com suas divisões em municípios. Não importa se Trump ou Harris venceram naquele estado, o padrão cartográfico é sempre o mesmo: uma enorme mancha vermelha (voto republicano) na grande maioria dos condados rurais, com ilhotas azuis (voto democrata) nas grandes concentrações urbanas de cada estado. Para piorar a situação, essas vitórias geralmente não são mais ou menos disputadas, mas muito retumbantes, muitas vezes com 70 ou 80% dos votos para o partido vencedor, algo que se mantém desde as duas últimas eleições.
De qualquer forma, tudo isso, com toda a relevância que sem dúvida tem, é, como dissemos, apenas o aspecto demográfico da questão, no qual se concentrou a maioria das análises da mídia ianque (e outras), com a paixão tipicamente americana pela estatística. No entanto, supor que são apenas as questões identitárias que fornecem o cerne da explicação é esvaziar de conteúdo a esfera política como tal, com suas determinações econômicas, sociais e ideológicas.
3- Por que Trump ganhou (II): “é a economia, estúpido!” (e política)
Assinalamos em nosso texto de outubro passado que não estava totalmente claro se o estado da economia ianque seria um fator que beneficiaria ou prejudicaria o partido no poder. Normalmente, e de acordo com a expressão agora clássica de James Carville de 1992 para explicar a vitória de Bill Clinton, o voto americano é definido em primeiro lugar pelo bolso (“É a economia, estúpido!“).
A esse respeito, a primeira coisa a notar é que o elogio excessivo e o entusiasmo delirante da “imprensa ocidental” pelo progresso da economia dos EUA não impressionaram nem um pouco os americanos comuns. Lemos manchetes como “A economia dos EUA está voando” (!), “Economia gloriosa” (!!), “A inveja do mundo” (!!)… tudo sobre o crescimento do PIB para 2023 de 2,5%, com uma estimativa de 2,7% para este ano. Números ruins? Depende do com que você compara: se é com o G-7 (EUA, Canadá, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália), ou com o habitual crescimento atrofiado da União Europeia, é visto como uma locomotiva. Mas é necessário ter um nível muito baixo, ou comparar apenas com os países desenvolvidos, para justificar os panegíricos desproporcionais que são feitos da economia ianque. Sem falar naqueles que zombam da China, que com uma economia desacelerada e tudo vai crescer quase 5% este ano.[5]
A questão subjacente é também uma das razões centrais para o debate político-econômico do século XXI: a desigualdade. O crescimento econômico dos Estados Unidos, seja o muito moderado que vemos ou o supersônico com o qual os panegíricos imperialistas deliram, em todo caso, decididamente não “transborda” para a base da sociedade, mas é apropriado pelas elites, em primeiro lugar as grandes corporações tecnológicas e financeiras.
É verdade que a inflação desacelerou e que o mercado de trabalho nos EUA não está em um momento ruim; com uma participação de 84% de pessoas entre 25 e 54 anos, está próximo de recordes históricos, enquanto o desemprego mal ultrapassa 4%. Mas grande parte do estrago já foi feito durante a pandemia, e não é apenas uma percepção “ideologizada” ou inoculada pela mídia de direita que faz com que a esmagadora maioria dos entrevistados diga que o país está indo “na direção errada”. E de acordo com a AP Votecast Survey, imediatamente após a votação, quatro em cada dez eleitores consideraram a economia e os empregos como os problemas mais importantes para o país. Isso levou muitos a supor que Trump é “mais confiável” no campo econômico do que os democratas, como indicaram as pesquisas anteriores.
Claro, nada que Trump promete ou o que vai fazer vai endireitar esse curso, mas nas eleições é uma questão de quem acredita, em quem governa ou em quem critica o governo. E a gestão Biden-Harris se tornou pouco crível para muitos americanos.
Por outro lado, esse quadro de pessimismo econômico é ao mesmo tempo parte do clima universal: Roberts lembra que “quase todos os governos que estiveram à frente do Estado durante o período da recessão pandêmica e da inflação subsequente foram despejados do poder” (idem). O descontentamento social gerado pela economia pós-pandemia, de fato, não se dissipou, mas se aprofundou: o mundo desenvolvido está crescendo a taxas miseráveis – já vimos como 2,5% nos EUA é suficiente para o establishment entrar em êxtase – enquanto crises, recessões e ajustes espreitam na periferia capitalista. O próprio The Economist foi forçado a reconhecer que “um dos maiores enigmas dos últimos tempos permanece igualmente pertinente: apesar da força da economia, o sentimento público tem sido persistentemente sombrio. (…) Isso agora aparece como um dos indicadores econômicos mais importantes que prejudicam Harris.” No entanto, depois, e contra todas as evidências, insiste que “se Trump vencer em 5 de novembro, será apesar da economia” (“In a new light”, TE 9421, 2-11-24). O que esses analistas inteligentes parecem ignorar é que, na política e na economia, bem como na vida social, a percepção da realidade pelos sujeitos é em si parte integrante da realidade.
Muito mais sensível a esse respeito é o que apresenta o economista marxista britânico Michael Roberts: “Uma citação resume porque um número significativo de eleitores mudou de votar em democratas para republicanos: ‘Fui democrata toda a minha vida e não vi nenhum benefício nisso. Os democratas colocam dinheiro em guerras e dão recursos aos imigrantes antes dos americanos em apuros. Confio em Trump para nos colocar em primeiro lugar.’ O problema – aponta Roberts – é que Trump vai colocar milionários, grandes corporações e empresas de combustíveis fósseis em primeiro lugar” ((“US election result: first thoughts”, 6-11-24)).
Essa reflexão de um típico eleitor democrata desiludido com os “parcos benefícios” trazidos a ele pelo governo Biden-Harris também apresenta uma das razões determinantes para a eleição: a questão da imigração. É claro que postulá-lo como um “problema” já faz parte de uma agenda reacionária, que por outro lado não é especificamente americana, mas global, especialmente na União Europeia.
A realidade é que nenhum dos países desenvolvidos – hoje em crise demográfica devido à queda vertical da taxa de fecundidade das mulheres “nativas” – poderia sustentar seu mercado de trabalho, seu ritmo de desenvolvimento econômico e até mesmo seus esquemas de bem-estar social no médio prazo sem a contribuição dos imigrantes.[6] Mas a visão de amplos setores das massas sobre o assunto está contaminada pela agenda reacionária da direita ou da ultradireita: “eles roubam nossos empregos“, “eles se aproveitam dos benefícios do Estado“, “eles mantêm os recursos que os americanos [ou britânicos, franceses, alemães, etc.] precisam“, ou, na versão particularmente brutal de Trump, com ressonâncias abertamente nazistas, “Eles envenenam o sangue do nosso país.” Infelizmente, essa pregação encontra um eco muito além da base nativista da ultradireita xenófoba, conspiratória e terraplanista que constitui o elemento típico de participação nos eventos de campanha de Trump e toca fibras profundas até, como vimos, nos eleitores tradicionais do Partido Democrata.
Se a economia é, então, uma fonte de desencanto e frustração em amplos setores do eleitorado (de ambos os partidos), o Partido Democrata também é responsável por outras fontes de desilusão, desta vez em sua própria base. Um deles é o movimento pelo direito ao aborto.
A revogação da lei federal que legalizava o aborto (“Roe vs Wade”) foi, naturalmente, uma questão para a Suprema Corte ultraconservadora, um terço de cujos membros foram nomeados a pedido de Trump. Mas nem o Partido Democrata nem seus sucessivos candidatos (Biden primeiro, depois Harris) ousaram aproveitar a imensa indignação das mulheres em todo o país para pressionar pela rejeição deste revés sem precedentes na história americana. Toda a atividade e responsabilidade recaiu e ainda recai sobre o ativismo de base, o mesmo que se organizou para coletar assinaturas e lançar uma onda de referendos – seis deles, meses antes da eleição; outros dez, coincidindo com ela – para proteger o direito ao aborto nas constituições estaduais, geralmente com sucesso, mesmo em estados muito conservadores, como Kansas ou Kentucky.
Esse ímpeto foi tão poderoso que, ao contrário das tentativas de Harris de se mover para o centro – ou melhor, para a direita – em questões como imigração, forçou o próprio Trump a moderar sua retórica sobre aborto e saúde reprodutiva em geral, o que lhe rendeu críticas de sua base de extrema direita. O colunista do The Economist para os EUA – irmão de um senador democrata, por outro lado – não está errado quando observa que “muito mais do que outros movimentos de protesto deste século [nos EUA], o movimento popular para restaurar o direito ao aborto está provando ser duradouro e eficaz” (“American exception”, TE 9421, 2-11-24). Mas tal movimento não pode se resignar a ser “forragem de voto útil” a cada dois anos, porque existe o risco de que os setores mais conscientes e militantes se fartem… e não votem.
Ou até mesmo votar em outra coisa. Vejamos um exemplo de outro sapo para a base democrata, a cumplicidade do governo democrata com o genocídio israelense contra o povo palestino. Para um amigo de Israel, ninguém melhor do que Trump; as tentativas de Biden-Harris de se acertar com Deus e o diabo só conseguiram exasperar os democratas sionistas e os democratas pró-palestinos, sem ganhar um único voto republicano. Foi assim que em um estado-chave, Michigan, Trump venceu na cidade de Dearborn, onde 55% da população é de origem árabe. Trump ganhou 42% contra 36% de Kamala Harris e 18% para a candidata do Partido Verde, Jill Stein, que havia falado abertamente a favor da causa palestina. Com Stein ganhando 0,5% dos votos em todo o país, fica claro que a população árabe de Dearborn preferiu votar nela em vez de Harris, ou nem mesmo se preocupar em votar. A cidade tinha sido o centro do Uncommitted Movement, que fez campanha durante as primárias democratas para pressionar Biden a mudar sua postura pró-Israel.
Esse descontentamento por parte da base democrata ocorreu neste caso como uma resposta ao apoio ao sionismo, mas algo semelhante aconteceu com outras questões caras à (não muito grande) militância de base democrata, do movimento feminista e LGBT ao ativismo sindical. A política sistemática da direção do partido de dar como certo o apoio, mesmo que crítico, da “esquerda” do partido, enquanto seu discurso e sua campanha estavam cada vez mais orientados para a confluência da centro-direita para “seduzir” um voto inexpugnável, terminou como essas manobras de progressismo lavado geralmente terminam: mal. Dar como certo o ativismo para tentar corroer a base eleitoral de Trump foi um duplo erro: o voto republicano foi muito mais consolidado, ou blindado, do que o voto próprio, que ao mesmo tempo começou a sofrer de uma perplexidade e desencanto que explicam pelo menos parte desses quase dez milhões de votos a menos.
Em suma, havia uma diferença crucial entre as duas campanhas. Trump desfrutou das vantagens de que a) uma parte de seu eleitorado há muito é fanática e totalmente acrítica, e b) a outra parte de seus eleitores, incluindo muitos democratas desiludidos, mais pensativos e menos seduzidos por seu estilo hiperbólico e egocêntrico, deu-lhe o benefício da dúvida como um possível gerente mais eficiente de uma economia que, sem estar em crise, não atende às expectativas populares, Compare isso com Kamala Harris, herdeira forçada de uma candidatura fracassada, vice-presidente de um governo com baixos índices de popularidade, com pouco carisma pessoal, sem conquistas econômicas convincentes para mostrar e que deliberadamente diluiu os perfis políticos potencialmente mais fortes para tentar se mover para o centro. Perto do final da campanha, o verdadeiro argumento central de Harris era o medo de Trump, quase reconhecendo-o como a figura mais importante da eleição. Mas a votação de 2024 não foi um plebiscito sobre as bagunças passadas de Trump ou possíveis absurdos futuros, mas sobre o presente desconfortável, medíocre e ineficaz de Biden-Harris.
4- E agora? “Trumponomics” e um mundo muito diferente daquele de 2016
Há muito tecido a ser cortado em vários níveis, desde o futuro perfil do Partido Republicano (trumpiano?) até a questão do crescimento das tensões polarizadoras dentro da sociedade ianque, que há quem tema que possa colocar em risco a convivência civil. Mas vamos nos limitar aqui a sublinhar alguns elementos já antecipados em nossa nota anterior: a política econômica e a política externa de Trump.
Em questões econômicas, nem é preciso dizer que Trump vai decepcionar as expectativas de seus eleitores, mais cedo ou mais tarde. Os cortes de impostos que ele propõe irão, como sempre, beneficiar as grandes empresas e as pessoas mais ricas, não os assalariados (exceto pela eliminação quase simbólica dos impostos sobre gorjetas). Quanto às tarifas de importação, além das consequências nas relações internacionais que veremos em breve, em termos econômicos elas não terão o efeito de reduzir o déficit comercial dos EUA, mas de aumentar os preços ao consumidor.
De fato, como muitos analistas – incluindo admiradores de Trump – alertam quase em conjunto, é quase inevitável que as tarifas, mesmo no caso altamente improvável de estimular a produção e o emprego em casa, resultem em inflação acelerada. De duas maneiras distintas: o aumento do preço dos produtos importados e o superaquecimento do mercado de trabalho se houver um renascimento industrial devido à substituição de importações. Ironicamente, foi a má gestão da inflação que corroeu, mais do que qualquer outra coisa, a imagem de Biden.
Além disso, como observamos anteriormente, o buraco fiscal que os cortes de impostos corporativos deixariam não poderia de forma alguma ser compensado por tarifas, de modo que o atual déficit fiscal já alto de cerca de 7% do PIB deverá até aumentar. Se somarmos a isso os conflitos político-institucionais aos quais Trump é tão propenso – desde uma tentativa de intervir no Federal Reserve até alguma tentativa nos moldes do perigoso Projeto 2025 – temos um coquetel de política doméstica que é tudo menos reconfortante. Lembremos que quando Trump assumiu o cargo em 2016, ele vinha de um longo período de taxas de juros muito baixas e sem risco de inflação, condições que não são as de hoje.
Quanto a uma das políticas emblemáticas da campanha e do discurso de Trump, a “deportação em massa de imigrantes ilegais“, todas são perguntas básicas que ninguém pode responder hoje. Em ordem de importância: quantos imigrantes serão deportados, de quando, por quais razões exatamente, com que meios e de que maneira e, dependendo de todos os itens acima, com que impacto político. Por enquanto, já existem prefeitos e governadores democratas que deixaram claro que resistirão a qualquer tentativa de deportação por todos os meios legais, que não darão a menor assistência às autoridades e que recorrerão à justiça para obstruir a medida, sem mencionar a dimensão óbvia, embora hoje imprevisível, da onda de resistência ou desobediência civil que ela geraria.
Mesmo que parte do plano de Trump seja executada com sucesso – e coloque-se aí um enorme “se” – o impacto econômico de tal medida ainda está para ser visto. Privar os mesmos empresários que hoje empregam imigrantes em setores como agricultura, construção, serviços de saúde e hoteis de mão de obra barata que é difícil ou impossível de substituir imediatamente não causará a menor graça.[7] Além disso, uma redução repentina na oferta de trabalho só pode aumentar os salários e alimentar a espiral inflacionária. Portanto, todos os olhos estão voltados para o volume, a forma e os prazos do plano de megadeportação, incógnitas que ninguém sabe como despejar.
As perspectivas não são menos obscuras na arena internacional. Pelo contrário, se há uma área em que a conduta de Trump tem sido particularmente indecifrável, é a das relações exteriores, que ele considera o ambiente ideal para a projeção de sua personalidade exuberante. O primeiro teste será justamente as tarifas: se a promessa de uma tarifa universal (e diferencial para a China) for cumprida, haverá tensão com países aliados, como os do USMCA (Canadá e México) e os da UE. A questão é saber se haverá reciprocidade e em que termos. Em todo o caso, seria quase o epitáfio da Organização Mundial do Comércio; o resultado paradoxal de uma guerra tarifária é que a China poderia ser deixada como a única campeã do livre comércio …
Em seu mandato anterior, Trump desfrutou de uma estrutura internacional atravessada pelas consequências da crise financeira de 2008-2009, mas não por tempestades geopolíticas. De fato, com exceção do Brexit, os maiores foram gerados por sua própria gestão, com a guerra comercial contra a China e suas ameaças de dinamitar a OTAN. Não é a situação hoje, com a guerra na Ucrânia, o genocídio em curso em Gaza (além dos ataques de Israel ao Líbano, Irã, Síria e Iêmen) e a crescente tensão com a China em tudo, desde semicondutores a carros elétricos, TikTok, Mar da China Meridional e Taiwan.
Já dissemos que a fanfarronice da política externa de Trump foi quase folclórica no contexto de 2016-2019, que é o mais leve em comparação com o atual. Operetas como o “plano de paz para Israel e Palestina” ou travessuras como as reuniões com Kim Jong Un estariam completamente fora de lugar em um cenário mortalmente sério como o que já temos e, acima de tudo, o que está por vir. Para piorar a situação, o principal instinto de Trump em questões internacionais – e nisso ele tem um consenso crescente em seu partido – não é mediar ou intervir em um mundo cada vez mais atravessado por conflitos cada vez mais graves, mas isolacionismo. “America first” não é apenas uma profissão de fé de protecionismo econômico, mas também de desistência, desde que não afete a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. O interesse de Trump não é pensar em grandes estratégias internacionais, mas aparecer como um herói providencial com soluções improvisadas que cortam nós górdios com um machado.
Por exemplo, seu plano para a “paz entre a Rússia e a Ucrânia em 24 horas” nada mais é do que uma rendição quase incondicional da Ucrânia. O que a União Europeia, que ao contrário dos EUA é vizinha da Ucrânia e a Rússia, a grande vencedora dessa “paz”, tem a dizer sobre isso? E a OTAN? Netanyahu vai receber luz verde para continuar o genocídio em Gaza? a invasão do Líbano e o bombardeio de vizinhos próximos e distantes? Quem mede o custo? E quanto à China, até onde irão os critérios de “segurança nacional”? Proibir o TikTok sim, mas dar garantias a Taiwan em caso de ataque da China continental não? Até que ponto a guerra comercial e tarifária aumentará?
O maior problema não é que o próprio Trump provavelmente não tenha a resposta para essas perguntas. O que alarma os céticos e entusiastas de Trump é que, ao contrário de seu primeiro mandato, as verificações partidárias e institucionais para limitar os danos de eventuais surtos de egomania de Trump são muito mais limitadas. O Partido Republicano não é mais uma estrutura ligada ao estreito círculo de confidentes de Trump e pode chamá-lo à razão com especialistas profissionais: o próprio partido foi expurgado de críticos e transbordando de fanáticos leais. A lista de futuros funcionários não está mais cheia de republicanos que votam em Trump, mas têm seus próprios critérios, mas com aqueles que passaram no teste de lealdade dos think tanks capturados pela ala trumpista do Grand Old Party. Os circuitos judiciais estão lotados de juízes nomeados por Trump. E a Suprema Corte decidiu este ano, justamente em relação ao julgamento de Trump, que os presidentes não podem ser acusados de crimes relacionados ao exercício do cargo. A pergunta de um milhão de dólares, então, não é tanto o que o gato pode quebrar, mas quem vai colocar o guiso nele se ficar fora de controle. Porque, como ele mesmo disse, ele tem o maior painel de botões de armas nucleares do mundo.
NOTAS:
[1] Na Califórnia, indiscutivelmente o estado com o maior número de votos democratas em todas as eleições, Harris ficou 1,9 milhão de votos à frente de sua rival (6,1 milhões a 4,2 milhões). Se essa diferença for projetada para o total de votos do estado, Harris descontaria outros 1,3 milhão de votos. Os estados onde mais de 10% dos votos ainda não foram contados são nove, sete deles democratas (e em cinco faltam mais de 25%, embora apenas a Califórnia ultrapasse 30%). Mas de todos eles, o mais populoso é a Califórnia; os outros não vão mudar muito a diferença em números absolutos.
[2] “Un mar de dudas electorales, políticas e institucionales“, izquierdaweb, outubro de 2024.
[3] No entanto, vale destacar um fenômeno que vem ocorrendo nas pesquisas nas últimas eleições não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros países, como Europa e América Latina. Ou seja, que as pesquisas tendem a ter um certo viés contra os candidatos mais à direita, neste caso Trump. Tanto em 2020 quanto – especialmente – em 2016, as pesquisas não conseguiram medir bem o voto em Trump, embora em princípio por razões diferentes. Em 2016, as amostras tenderam a super-representar o voto com maior nível de escolaridade, fator que favoreceu os democratas, como veremos. E em 2020, as consultorias corrigiram esse problema, mas encontraram outro imprevisto, o chamado “viés de não resposta“: os eleitores republicanos são, em média, mais relutantes em responder, então tendem a ser desproporcionalmente deixados de fora da amostra. E esse viés, aparentemente, é ainda mais acentuado em estados decisivos, onde a ansiedade dos pesquisadores é maior: “Em média, o tamanho da diferença entre as previsões das pesquisas e a margem real de vitória é de 2,7 pontos nacionalmente e 4,2 pontos em certos estados individuais” (“Miss calculation”, The Economist 9421, 2-11-24).
[4] As tentativas da campanha republicana de armar grupos de apoio como “Gays For Trump” ou “Black Women for Trump” foram altamente ridicularizadas nas redes sociais com cartazes de grupos fictícios de “Vegans for meat” (veganos a favor de carne), “Palestinians for Netanyahu”, etc. O auge do desprezo bestial e indisfarçável de Trump pelas minorias étnicas e sexuais foi quando, em um de seus últimos eventos de campanha, um “comediante” subiu ao palco onde fez “piadas” como apelidar Porto Rico de “uma ilha flutuante de lixo”. A indignação que gerou – muitas celebridades latinas, como a atriz Jennifer Lopez, saíram para fulminar esse e, por extensão, Trump – no entanto, não foi suficiente para persuadir muitos “machos latinos” a votar em uma mulher. Não há necessidade de cobrar tinta sobre o assunto, mas não há dúvida de que a misoginia e o machismo foram elementos muito presentes na campanha e na votação.
[5] Na tabela de indicadores econômicos das 42 principais economias publicada semanalmente pelo The Economist, a taxa de crescimento anual estimada do PIB para 2024 dos EUA tem 14 países acima, incluindo 9 dos 12 países asiáticos da lista, além de Rússia, Polônia, Turquia, Brasil e Peru. Dado que a última reportagem especial dessa revista, dedicada à economia dos Estados Unidos, se intitula “A inveja do mundo” (The envy of the world), deve-se supor que para o The Economist “o mundo” está limitado aos 15 países do Ocidente desenvolvido, com a exclusão muito arrogante e imperialista dos outros 180.
[6] Não há exagero: sem imigrantes, e com uma taxa de fecundidade consistentemente inferior à “taxa de reposição” de 2,1 filhos por mulher em idade fértil, o nível populacional de todos os países desenvolvidos – e de vários países não desenvolvidos, como a Tailândia ou a Índia – cairá inexoravelmente em termos absolutos (como já está acontecendo no Japão) e também em termos da população em idade ativa (como já está acontecendo hoje na China). Além disso, a população não está apenas encolhendo, mas envelhecendo. A combinação de menos trabalhadores ativos para cada aposentado ou pensionista e o aumento dos anos de vida pós-aposentadoria (mas com os problemas de saúde lógicos e crescentes devido à idade) imporão uma forte pressão adicional sobre os sistemas de pensões e saúde dos países em questão. Somente o influxo de mão de obra imigrante jovem, saudável e fértil pode interromper essa espiral demográfica descendente. Mas, paradoxalmente, os países com maior necessidade de imigrantes são também aqueles com os níveis mais elevados de xenofobia e racismo.
[7] Digamos que a União Europeia enfrente um dilema semelhante. Muitos dos países onde o discurso racista e xenófobo anti-imigrante é difundido estão percebendo que o trabalho imigrante é essencial não apenas para o futuro, como dissemos acima, mas hoje. Por exemplo, um terço da força de trabalho agrícola da UE é composta por trabalhadores migrantes de dentro e de fora do bloco. Paradoxalmente, como grande parte da base eleitoral das forças de extrema direita está em estabelecimentos rurais, eles “foram forçados a fazer concessões em seus slogans anti-imigração. (…) O ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida, pregou aos cidadãos para terem mais filhos ou a serem “substituídos” por estrangeiros. Na prática, no entanto, Lollobrigida pressiona por mais vistos de trabalhadores rurais estrangeiros. (…) Um terço do milhão de trabalhadores agrícolas [italianos] são estrangeiros. Mas entre aqueles entre 18 e 35 anos, quase todos estão. (…) Na Alemanha, Polônia e Holanda (…) a maior fonte de trabalhadores agrícolas são os poloneses. E os agricultores poloneses se voltam para as mulheres ucranianas. (…) [Na Holanda,] o governo quer desencorajar os empregadores de empregar migrantes de baixa renda e propõe subsidiar fazendas que usam robôs” (“The immigrants Europe wants”, TE 9241, 2-11-24).

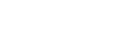












[…] Causas e consequências da vitória de Donald Trump, por Marcelo Yunes […]
[…] a maioria absoluta dos votos foi algo inesperado. Esperava-se que, se ganhassem, seria por obter a maioria no Colégio Eleitoral, o que também conseguiram. Apenas uma vez desde os anos 90, em 2004, os republicanos conquistaram […]