
Por Víctor Artavia
São Paulo, 05 de outubro de 2024
Nas semanas recentes aconteceram vários atos contra as queimadas em todo país. Segundo publicação da Coalizão pelo Clima, entre 20 e 22 de setembro, houve manifestações pela justiça climática em catorze cidades do Brasil, incluindo algumas das principais capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Mas os protestos não acabaram nesse final de semana e, nos dias seguintes, realizaram-se novos atos, demonstrando que o repúdio aos incêndios ainda não terminou.
A seguir, faremos uma breve avaliação em torno das potencialidades desta jornada de luta ambiental, ao mesmo tempo que apontaremos alguns dos limites que precisam ser superados para aprofundar e radicalizar a luta contra o agronegócio ecocida, uma tarefa indispensável para construir um novo movimento ecologista e começar a reverter a crise ambiental no Brasil.
Atos desiguais, mas que expressam o potencial da luta ambiental
Embora os protestos fossem de vanguarda e desiguais em tamanho (variaram de centenas a milhares de pessoas), em seu conjunto constituíram uma importante jornada de luta espalhada por vários pontos do país.
Em São Paulo, por exemplo, foi realizada a maior manifestação do país, reunindo entre 4 e 5 mil pessoas que marcharam da Avenida Paulista até o Monumento às Bandeiras. Além de ativistas ambientais e militantes de esquerda, houve a presença de muitas pessoas jovens e independentes com vontade de se somar à luta ecologista. Igualmente, foi importante a participação do povo indígena de Jaraguá, que tomaram as ruas da cidade para denunciar sua oposição ao nefasto Marco Temporal, assim como o constante assédio do agronegócio em seus territórios históricos, a ponto de matar vários de seus membros, como foi o caso de Neri Ramos, de 23 anos, assassinado em 18 de setembro pela Polícia Militar durante uma operação na Terra Indígena Nhanderu Marangatu (Mato Grosso do Sul).
A simultaneidade de catorze atos em distintos estados e cidades, é indicativo de que existe um sentimento de repúdio à destruição da natureza pelo agronegócio. No Brasil acontece uma situação particular: há uma convergência dos extremos climáticos com uma extrema-direita negacionista e ruralista ecocida. Por conta disso, os efeitos do Antropoceno são particularmente pronunciados no país e as catástrofes ambientais ocorrem repetidamente, como pode ser visto ao ler qualquer jornal ou assistir ao noticiário.
Devido à frequência e o impacto cada vez maior dos eventos climáticos extremos, nas principais capitais do país as mudanças climáticas passaram a ser vistas como um risco imediato por grande parte da população. De acordo com Datafolha,o percentual mais elevado de percepção do risco foi registrado em Belo Horizonte (76%), seguido por São Paulo (71%), Rio de Janeiro (66%) e Recife (59%). Também, no caso dos mineiros e dos paulistanos, 40% disseram que sua saúde foi muito afetada pelas queimadas, enquanto no Rio de Janeiro o índice foi de 29% e no Recife de 27%.
O acima exposto mostra que houve uma alteração na percepção da crise ambiental, pois deixou de ser vista como uma pauta das futuras gerações para ser assumida como um problema cotidiano que atinge ao conjunto da população. Isso, a nosso ver, gera as condições para construir um novo movimento ambientalista a nível nacional que, para estar à altura do desafio, terá que ser anticapitalista e independente de qualquer governo ou setor burguês.
Construir a unidade dos explorados e oprimidos no campo e na cidade
De acordo com o ecossocialista canadense Ian Angus (2023), o Antropoceno se impõe porque as atividades humanas impactam e alteram a totalidade do sistema terrestre. A humanidade se tornou um importante fator geológico e suas ações passaram a ter consequências globais e sincrónicas. Por isso, a destruição da natureza causada pela lógica ecocida do capital deu um salto de qualidade e, em termos ecológicos, não há mais um “exterior” para onde as contradições da pilhagem ambiental possam ser transferidas espacialmente; portanto, a crise ecológica afeta todo o planeta, como demonstra o aquecimento global ou, mais recentemente, a enchente no Rio Grande do Sul ou as queimadas que atingiram vários países da América do Sul.
No caso do Brasil, assistimos a uma maior sincronia entre os ecocídios no campo e nas florestas com os efeitos da crise ambiental nas cidades. Assim, o que acontece na Amazônia ou no Pantanal, repercute em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, etc.
Além disso, por causa da injustiça climática e do racismo ambiental[1], a crise ecológica tem como alvo principal os setores explorados e oprimidos da sociedade, isto é, os trabalhadores, as mulheres, as pessoas negras e os povos indígenas.
Isso fica claro pelo contraste das realidades entre o bairro favelizado de Paraisópolis e o bairro nobre do Morumbi (São Paulo), sendo que o primeiro é até 9°C mais quente que o segundo em decorrência da superlotação, construções sem planejamento e falta de árvores. Como resultado, Paraisópolis é considerada uma “ilha de calor”, enquanto o Morumbi é uma “área de frescor”. Segundo Camila da Silva, auxiliar de limpeza e moradora da favela, a comunidade está cada vez mais quente “porque lá dentro as casas são muito coladas umas nas outras” e, durante a última onda de calor, “as ruas ficaram cheias de pessoas tentando se refrescar, e os postos de saúde lotaram em consequência das altas temperaturas”.
No campo a situação não é mais confortável. Um exemplo são as dificuldades que experimentam as comunidades ribeirinhas localizadas no interior da floresta amazônica que, por causa das secas extremas e da diminuição do fluxo dos rios, passam meses isoladas, sem poder pescar, transportar mercadorias ou se deslocar para os centros de saúde.
Ademais, dada a expansão contínua da fronteira extrativista pelo agronegócio e outras indústrias do setor (mineração, exploração madeireira, etc), o Brasil se tornou o segundo país mais letal para ambientalistas em 2022. As companhias precisam desmatar novas terras para incorporá-las à esfera da produção de commodities. Como resultado, os territórios indígenas estão sob constante cerco de fazendeiros e mineradores, estabelecendo uma dinâmica sangrenta que reproduz a lógica de conquista/colonização. De acordo com a ONG Global Witness, 34 ambientalistas foram assassinados no país, sendo 36% indígenas, 22% pequenos agricultores e 7% afrodescendentes.
Além disso, os crimes contra ambientalistas, quilombolas e indígenas ficam frequentemente impunes. Esse é o caso de Ana Yanomami Xexana, em Boa Vista (RR), que levou dois tiros na cabeça em 2022 e cujos assassinos permanecem desconhecidos. Mas, segundo o vice-presidente da Hutukara Associação Yanomami (HAY), Dário Kopenawa, os autores do crime foram os garimpeiros bolsonaristas, para os quais parece “que somos pessoas que não têm vida (…) É por isso que eles atacaram, alguém matou, atacaram meus parentes e eu sei que são os bolsonaristas do Estado de Roraima, os garimpeiros. Eu penso isso, mas eu não tenho prova. Percebo isso por o Estado ser anti-indígena”.
O que foi dito acima, ao mesmo tempo que ilustra a profundidade da destruição da natureza pela barbárie do agronegócio ecocida, também representa a possibilidade de impulsionar a unidade entre o mundo urbano e o rural pelas pautas ambientalistas. A luta contra a destruição da natureza pode “furar a bolha” da vanguarda e se transformar em bandeira de amplos setores da população, mas isso exigirá de um trabalho paciente na base das categorias trabalhistas, no movimento estudantil e nas comunidades urbanas e rurais, assim como a construção de um programa de consignas que combine reivindicações imediatas com as mais estratégicas, que vincule as medidas para diminuir o impacto das mudanças climáticas (arborização, adequação climática de prédios, etc.) com as tarefas anticapitalistas e revolucionárias que sejam necessárias para reverter a crise ambiental (expropriação do agronegócio, reforma agrária, nova matriz energética).
Anticapitalismo com “A” maiúsculo para superar o campismo
Também, foi chamativo que a maior parte dos atos tiveram um posicionamento abertamente anticapitalista, mesmo que seja em um nível muito reivindicativo ou anti-corporativo que, portanto, tem problemas para atingir um plano político geral. Devido a isso, o movimento ambientalista denuncia fortemente o agronegócio por ser uma indústria ecocida e ser base da extrema-direita bolsonarista, mas tem dificuldade para identificar a conciliação de classes como parte do problema. Ou seja, é um anticapitalismo com “a” minúsculo.
Por exemplo, ainda é fraca a denúncia do governo pela cumplicidade com o agronegócio que, justamente neste ano, foi premiado com o maior Plano Safra da história (R$400 bilhões!) e, de acordo com o Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (representante do agronegócio), vai autorizar aos “produtores” (ou seja, os latifundiários) o “acesso à linha de crédito para recuperação de áreas degradadas” pelas queimadas…que eles mesmos provocaram!
A passagem da denúncia anti-corporativa para uma abordagem mais política ou totalizadora da crise ambiental não vai acontecer de forma automática. Inclusive, torna-se mais difícil pela política da esquerda da ordem que, sob a justificativa de derrotar a extrema-direita, se recusa a ser oposição do governo Lula e, por conseguinte, bloqueia o desenvolvimento da consciência anticapitalista do ativismo ambiental. Assim, a tarefa real de derrotar o bolsonarismo é instrumentalizada para abandonar a independência de classe e capitular à frente ampla de Lula com a burguesia.
Vejamos os casos do Movimento Esquerda Socialista (MES) e da Resistência, duas correntes que fazem parte do PSOL (e da sua direção) e compõem a Coalizão pelo Clima.
Comecemos pelo MES. Essa organização emprega “discursos vermelhos” para ocultar sua política oportunista. Por exemplo, fazem alguns apontamentos críticos ao governo federal, mas continuam dentro do PSOL que é base da frente ampla de Lula 3, sob o critério eleitoralista de manter suas representações parlamentares. Ao ler seus artigos e declarações políticas, fica claro que suas “diferenças” com o governo são formais e descritivas, pois não tem como objetivo construir uma oposição de esquerda para lutar contra a extrema-direita e a conciliação de classes.
Assim, por exemplo, em um artigo escrito por dois de seus dirigentes, argumentam que estão construíndo “forças e alianças a serviço de duas tarefas: criar um muro contra a extrema direita, mas também apontar para o futuro para um programa capaz de colocar a sociedade em movimento, e assim, mudar a relação de forças também na política”. Nessas poucas linhas fica evidente a dissociação que o MES estabelece entre lutar contra a extrema direita (presente) e desenvolver um programa para “colocar a sociedade em movimento” e mudar a correlação de forças (num futuro sem definir e sem nomear nenhum governo). É um posicionamento etapista sem uma ponte entre as tarefas do presente e do futuro; hoje e amanhã são duas temporalidades que não dialogam entre si e, em consequência, a tática do presente carece de qualquer perspectiva estratégica e se impõe como o critério que ordena toda a práxis política e militante dessa corrente.
Apesar disso, o MES é um mestre na camuflagem de sua capitulação à conciliação de classes. No artigo acima citado, eles argumentam que estão “construindo, de forma militante, a partir da campanha de Luana Alves para reeleição, um polo anticapitalista presente na campanha de Boulos, com um programa nítido para mobilização”. Basta assistir qualquer debate para a Prefeitura de São Paulo e escutar as falas de Boulos para compreender o absurdo dessa afirmação, pois dito candidato é incapaz de se posicionar pela legalização das drogas ou pela defesa do aborto legal; tampouco fala sobre expropriar os quase 600 mil imóveis que a especulação imobiliária mantém abandonados, para assim garantir casa as quase 80 mil pessoas em situação de rua. Na verdade, Boulos rebaixa seu perfil para ser mais “agradável” aos olhos da burguesia paulistana. Por isso, é impossível construir um “polo anticapitalista” sendo parte de uma campanha cujo candidato principal defende um governo liberal-social e um programa moderado para ser aceito pela burguesia da frente ampla. Além disso, o MES definiu a votação da federação partidária com a REDE, um partido “ecocapitalista” que recebe financiamento do Banco Itaú.
No que diz respeito à luta ecologista, a esterilidade do etapismo do MES fica exposta numa outra nota onde a organização critica Lula por ter recebido representantes da Shell e defendeu as reivindicações do agronegócio em reunião com representantes da UE. Mesmo que apontem a ambiguidade de Lula em querer organizar a COP da Amazônia em 2025, sua defesa dos interesses do agronegócio e sua insistência em produzir combustíveis fósseis, os psolistas não apresentam nenhuma exigência ou medida concreta para enfrentar essa postura do governo. Em outras palavras, sua crítica é um exercício retórico que não tem ligação com política alguma.
Quanto à Resistência, vale notar que sequer tratam de esconder seu campismo, a ponto de se tornar uma corrente que “teoriza” sobre a impossibilidade de construir uma oposição de esquerda ao governo Lula. Essa visão foi colocada abertamente por Valério Arcary, para quem “surgiu no mundo e no Brasil um movimento de extrema-direita com liderança neofascista que influencia metade do país e se apoia em uma relação social de forças desfavorável para os trabalhadores” e, por conta disso, “seria um erro passar para o campo de oposição ao governo. Uma localização na oposição imporia uma crítica intransigente, o que seria imperdoável. Não há qualquer possibilidade de ‘ultrapassagem’ do governo Lula pela esquerda. Na oposição ao governo, quem ocupa todo o espaço político é a extrema-direita”.
Surpreende que essas palavras fossem escritas pelo dirigente de uma organização que ainda se reivindica trotskista. Arcary parte de um fato real, a saber, a perigosa ascensão da extrema direita no mundo e no Brasil; mas usa esse argumento para justificar sua capitulação à frente ampla de Lula com a burguesia que tenta esconder usando um nome mais vermelho (“frente única de esquerda”…com o PT!). Sob essa lógica campista, a tarefa da “esquerda combativa é criticar” os limites do governo, quer dizer, posicionar-se como um “conselheiro” de esquerda de um governo burguês e liberal-social (algo como o “grilo falante” de Pinóquio sussurrando conselhos no ouvido de Lula!).
As posições campistas da esquerda do PSOL são, contraditoriamente, favoráveis aos interesses dos ruralistas e dos bolsonaristas, pois deixam o caminho aberto para que a extrema-direita se posicione como a única corrente “anti-sistêmica”, ainda que defenda a continuidade da dominação do capital e a consequente exploração do trabalho e espoliação da natureza[2]. O campismo do MES e da Resistência obstaculiza o desenvolvimento de um anticapitalismo consequente no movimento ambientalista, pois atuam como uma barreira à crítica ao governo Lula e à estratégia de conciliação de classes.
Ademais, a lógica eleitoralista do PSOL alimenta a anti-política entre setores do ativismo que, com toda razão, não gostam que os movimentos sociais sejam instrumentalizados. Isso aconteceu na manifestação pela justiça climática em São Paulo, quando várias correntes do PSOL a utilizaram como um palco para impulsionar suas campanhas que não confrontam a ordem burguesa, em vez de transformá-las em ferramentas para impulsionar a mobilização nas ruas.
Nós do SoB e da juventude Já Basta!, acreditamos que é necessário que as organizações da esquerda revolucionária sejam um ponto de apoio para impulsionar a consciência do movimento ambientalista, articulando as pautas ecológicas imediatas com a luta a fundo contra o agronegócio, sem abrir mão da independência de classe em relação ao governo Lula que, como mostram os dados, é incapaz de combater o agronegócio e, ao contrário, investe enormes quantias do orçamento federal no Plano Safra. Igualmente, defendemos que toda pessoa ou organização tenha o direito de expressar livremente suas opiniões e opções políticas, mas isso deve ser feito no âmbito da construção do movimento e não instrumentalizando os eventos para transformá-los em palanques eleitorais. Só assim será possível que o movimento ambientalista avance em direção ao anticapitalismo com “A” maiúsculo.
A radicalização da luta ambiental exige o enfrentamento da conciliação de classes
Como já foi dito, no movimento ambientalista há consenso em que o agronegócio é uma indústria ecocida que precisa ser destruída. Isso dialoga com a reivindicação histórica de reforma agrária defendida pelas organizações camponesas como o MST. Mas, contraditoriamente, ainda prevalece uma excessiva cautela sobre denunciar abertamente o papel do governo federal na crise ambiental, sob o argumento de que isso ajudaria a extrema direita.
Discordamos totalmente dessa avaliação e, pelo contrário, acreditamos que não denunciar categoricamente as responsabilidades do governo Lula é um erro estratégico. Já se passaram dois anos de um governo de conciliação de classes que, em vez de promover uma nova estrutura fundiária no campo, continua investindo grandes quantias do orçamento federal para desenvolver o agronegócio, como ficou claro no Plano Safra deste ano, o maior da história!
Enquanto Lula premiava o agronegócio, cortou em 24% o orçamento do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para combate aos incêndios. Isso afetou a capacidade do instituto para responder rapidamente às queimadas e, o que é mais importante, diminuiu a fiscalização sobre as áreas de conservação, uma medida central para prevenir os crimes ambientais. De fato, o Ibama reconheceu que só cobra 5% das multas que impõe e não consegue lidar com todos os recursos administrativos e judiciais pendentes para cobrar dezenas de bilhões em multas. Para piorar a situação, o governo cortou 18% dos recursos destinados para a transição energética, comprometendo as metas de enfrentamento das mudanças climáticas. Isso é consequência da lógica de austeridade imposta pelo arcabouço fiscal, um fato concreto que se impõe sobre as falas de Lula em pró do meio ambiente.
Assim, a combinação do maior Plano Safra da história e o descaso do governo com o Ibama, encorajou os “barões” do agronegócio para continuar com a destruição da natureza; com o agravante de que este ano o Brasil experimenta a pior seca dos últimos setenta anos, um fator que potenciou a escala ecocida das queimadas.
Questionada sobre a reação lenta do governo federal diante dos incêndios, a Ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, respondeu: “o que nós estamos descobrindo agora é que [o planejado] não foi suficiente” e que a “humanidade tem que chegar à conclusão de que não está preparada e que não está preparada porque não ouviu os reclames da ciência”. Ademais, acrescentou que confia que “a gente tenha uma curva de aprendizagem que nos coloque no caminho de ajudar, que todos possam contribuir para resolver esses problemas. Todos, independente de esquerda, direita ou centro, têm que assumir a agenda da sustentabilidade. Só os negacionistas é que vão insistir que não existe mudança do clima”.
Essa resposta é significativa por três motivos. Primeiro, porque demonstra o despreparo total do governo diante o perigo anunciado da seca e o aumento das queimadas. Segundo, porque a ministra joga a responsabilidade da crise ambiental sobre a humanidade toda, quando na verdade os principais responsáveis são os capitalistas e, no caso do Brasil, os latifundiários do agronegócio. Terceiro, porque reflete a impotência da conciliação de classes para lutar a fundo contra as causas da crise, ao extremo de não conseguir verbalizar o caráter de classe que originou a catástrofe das queimadas e, ainda pior, porque confia em “uma curva de aprendizagem” que ajude a construir arranjos no parlamento, isto é, “conversando” e se apoiando no Centrão.
O negacionismo é a expressão ideológica de um sistema econômico irracional, sustentado na exploração do trabalho e na espoliação da natureza. Os bolsonaristas e a Bancada Ruralista são os maiores expoentes disso no Brasil, mas também são negacionistas os capitalistas “progressistas” que, mesmo que com palavras lindas e elegantes, tratam de embelezar o capitalismo para apresentá-lo como sustentável e se posicionam contra a reforma agrária ou apoiam o Marco Temporal. Também, é negacionista um presidente que, ao mesmo tempo que faz discursos “verdes” na ONU e nas conferências internacionais, quando volta ao seu país defende a extração de petróleo na foz do Rio Amazonas e a construção de estradas no meio da floresta.
Quando esses elementos são colocados na discussão, as correntes que compõem a esquerda da ordem alegam que criticar publicamente o governo Lula é um “tiro no pé” porque alimenta a extrema direita. Ademais, acrescentam que a situação poderia ser pior se Bolsonaro continuasse no governo. Inclusive, essa posição é repetida por setores do autonomismo que, mesmo que chamem a radicalizar a luta e criticam um setor do movimento por seus métodos institucionais, no plano político não se diferenciam do campismo das correntes do PSOL e não superam os limites de um anticapitalismo contra o agronegócio.
O fato concreto é que o presidente atual é Lula, e a crise ambiental piorou durante seu governo. Como dizia Marx, “ser radical é agarrar as coisas pela raiz”. É por isso que, para radicalizar a luta ambiental, precisamos lutar contra a extrema direita e o agronegócio, mas também denunciar a esterilidade política da conciliação de classes representada pelo governo de frente ampla Lula-Alckmin que, como um bom governo burguês, não questiona a propriedade privada dos grandes capitalistas agropecuários e ecocidas.
Por um ecologismo anticapitalista e com independência de classe!
Como apontamos ao longo deste artigo, no Brasil, a crise climática e ambiental é reforçada pela convergência de extremos climáticos com uma extrema direita ruralista e negacionista ecocida. Entretanto, contraditoriamente, essa manifestação de barbárie cria possibilidades para a construção de um novo movimento ambientalista e, como resultado, estão surgindo debates sobre os rumos a seguir.
Lembrando o grande lutador sindical e ambiental Chico Mendes, a “Ecologia sem luta de classes é jardinagem”. Hoje isso se traduz na necessidade de articular um movimento que seja capaz de identificar a seus inimigos estratégicos, isto é, ao conjunto da burguesia brasileira e os imperialistas, seja em sua forma “bolsonarista” ou “democrática”. Certamente, no plano tático a abordagem de cada setor é diferente (por exemplo, nós chamamos o voto ultra crítico por Lula contra Bolsonaro no segundo turno em 2022). Mas a chave é que o movimento ecologista seja independente de qualquer setor burguês e de seus representantes no Estado, confiando unicamente na luta nas ruas para combater o capitalismo ecocida.
Só assim será possível construir a unidade entre os explorados e oprimidos do campo e da cidade. As pautas para organizar o ecologismo terão que responder às necessidades reais desses setores e não ficar suspensas sob critérios de “conveniência” política do governo de turno. Por exemplo, teremos que lutar contra a exploração petroleira que Lula quer desenvolver na Amazônia com a mesma força que lutamos contra o agronegócio que é base do bolsonarismo.
Para finalizar, é fundamental que os espaços ecologistas sejam democráticos e com liberdade de expressão para todas as correntes políticas e movimentos que o compõem. Essa é a única maneira de construirmos espaços unitários e impulsionar a luta nas ruas. Não acreditamos que seja correto dividir as frentes ambientais por diferenças táticas sobre os métodos de luta, os quais podem mudar segundo o momento e a correlação de forças. A chave, insistimos, passa pela radicalização política do ecologismo num sentido anticapitalista que aponte contra a totalidade do sistema capitalista.
Fogo nos ecocidas!
Pelo fim do agronegócio! Expropriação dos latifúndios e reforma agrária radical!
Derrotar o Marco temporal pelas ruas!
Fim do Plano Safra!
Abaixo o arcabouço fiscal! Aumento do orçamento do IBAMA!
Não ao pagamento da dívida pública! Utilização desses recursos no combate a crise ambiental!
Por um movimento ecologista anticapitalista e com independência de classe!
Fontes
ANGUS, Ian. Enfrentando o Antropoceno. São Paulo: Boitempo, 2023.
[1] A injustiça climática é um termo que destaca como os impactos ambientais são distribuídos de maneira desigual entre diferentes classes sociais e regiões do mundo. O racismo ambiental descreve a discriminação e injustiças sociais que minorias étnicas sofrem devido à degradação ambiental e as mudanças climáticas.
[2] De fato, isso aconteceu após as enchentes no Rio Grande do Sul, quando a extrema direita se posicionou pela anistia total da dívida pública do estado, enquanto as bancadas do PT e do PSOL votaram contra e impulsionaram uma pausa ou congelamento do pagamento por três anos. A extrema direita ficou mais à esquerda que o PSOL! Ver Barbárie ambiental no RS é perigosa janela ao futuro.

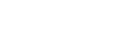











[…] A luta contra as queimadas e os desafios para construir um novo movimento ecologista, por Victor Artavia […]