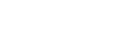Quinta parte do artigo “Economia e política globais em tempos de Trump”.
Por Marcelo Yunes
Tornou-se um lugar-comum falar de “mundo multipolar”, mas essa expressão é imprecisa e enganosa. Remete a um fato real — o desaparecimento da bipolaridade da Guerra Fria e da aparente “unipolaridade” do período imediatamente posterior a 1989 (os anos 90 e o sonho imperialista de uma pax americana para todo o século). Mas esses “múltiplos polos” não são simétricos nem têm o mesmo peso. O imperialismo ianque continua sendo categoricamente dominante sobre todo o mundo — e ainda mais sobre seus pares ocidentais —, com os quais a distância relativa só aumenta (algo que não acontecia com tanta clareza nas primeiras décadas do pós-guerra). Frente a esse polo, a única força realmente aspirante a disputar a hegemonia global em condições relativamente equivalentes é a China, embora parta de muito mais atrás. A Rússia é uma superpotência nuclear no mesmo nível dos EUA, mas isso por si só não basta; sua estrutura econômica, baseada na exportação de matérias-primas, está longe de mostrar o dinamismo produtivo e tecnológico da China, que, como vimos, só é comparável ao dos Estados Unidos.
Dito isso, é verdade que a crescente perda de controle dos EUA sobre os acontecimentos internacionais abre espaço para que outros atores — diferentes dos tradicionais imperialismos europeus, cada vez menos relevantes e mais dependentes dos EUA — tentem se afirmar na arena global com pretensões de se tornarem “novas” potências regionais com alguma projeção.
Esse processo ainda é tão inicial que, em nossa opinião, não permite definir a arquitetura geopolítica do mundo como “multipolar”, mas sim reconhecer seu desenvolvimento, seus alcances e seus limites. Neste capítulo, tentaremos também fazer um breve panorama da atualidade econômica das regiões do “sul do mundo”, onde se concentram a maioria dos países pobres e atrasados do planeta.
5.1 Os recém-chegados dos BRICS: aspirações e realidades
Aqui vamos nos referir a alguns dos países mais importantes dos chamados BRICS, bloco que inicialmente agrupava os “emergentes” de maior peso econômico: China, Rússia, Índia e Brasil, aos quais se juntou, pouco depois, a África do Sul. Em sua última reunião, foi aprovado o ingresso de outros países — já de menor peso econômico —, mas que compartilham um traço comum: o de se postularem como atores com aspirações a exercer influência na arena global.[1]
No entanto, apesar das fantasias de diversos populistas que querem entronizá-los como o próximo substituto da hegemonia estadunidense no plano global, a espuma dos BRICS baixou rapidamente. É verdade que, se somarmos o PIB (calculado por paridade de poder de compra) de seus membros, ele supera o do G7, que reúne as principais potências do Ocidente. Mas medir sua influência a partir disso, como fazem alguns comentaristas apressados, é um grave erro de visão unilateral.
Para começo de conversa, falar de “bloco” já é quase uma exageração.[2] Não apenas pela disparidade de tamanho, população e nível de desenvolvimento entre seus membros originais — e ainda mais se incluirmos os novos aspirantes, como Irã, Arábia Saudita, Etiópia, Egito e Emirados Árabes Unidos —, mas também pela quase nula coordenação de objetivos econômicos comuns (sem falar nos geopolíticos). De fato, vários dos atuais ou futuros membros têm conflitos de diversas naturezas entre si (China com Índia, Irã com Emirados e Arábia Saudita, Brasil com Rússia e outros).
Muito menos se pode supor que a existência dos BRICS represente uma ameaça séria ao papel dominante dos EUA e de sua moeda no comércio mundial (a ideia de “desdolarização”). Não é preciso acreditar na imortalidade da moeda americana ou da hegemonia ianque para compreender que a estrutura comercial e financeira do capitalismo globalizado atual não será substituída de um dia para o outro. Nesse sentido, a criação de “Bancos do Sul”, como o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), ou as meras declarações em cúpulas como a de Kazan, na Rússia — sede do último encontro do bloco ampliado —, ficam como moções de desejo. Assim reconheceu um ex-funcionário do Banco Central da África do Sul: “A ideia de que as iniciativas dos BRICS, das quais a mais proeminente até agora foi o NBD, possam substituir as instituições financeiras multilaterais dominadas pelo Ocidente é um sonho impossível [pipe dream]”. Como resume Roberts: “Os BRICS são um grupo heterogêneo cujos governos não têm uma perspectiva internacionalista — muito menos baseada no internacionalismo operário —, sendo, em muitos casos, liderados por regimes autocráticos onde os trabalhadores têm pouca ou nenhuma capacidade de decisão, ou por governos fortemente atrelados aos interesses do bloco imperialista” (“IMF and BRICS: no return to Bretton Woods”, 20-10-24).
Índia
Uma vez que ficou claro que a China representa muito mais que o maior dos emergentes — e que, na verdade, em todos os níveis, joga em outra categoria em relação aos demais sócios do bloco —, o maior destaque passou a ser o chamado “ascenso da Índia como potência”. A estrutura econômica e social da Índia apresenta bolsões tão grandes e profundos de atraso e pobreza que tal definição chega a ser risível; o novo lugar que a Índia ocupa na cena internacional deve ser medido com parâmetros muito mais matizados. Não podemos aqui repetir os desenvolvimentos e conclusões sobre os aspectos estruturais do país de um amplo estudo recente que publicamos sobre a realidade do segundo gigante asiático (“Índia: sonhos e realidades de uma aspirante a potência global”), por isso faremos apenas alguns breves apontamentos.
Disse-se, com razão, que é apenas questão de pouco tempo (dois anos ou menos) até que a Índia supere o Japão como a terceira maior economia do mundo em tamanho de PIB. No entanto, outra coisa é que desempenhe um papel dinâmico na economia global. Com a mesma população da China, sua força de trabalho é apenas 75% da do outro gigante asiático — diferença que se explica, em parte, pela escassez de mulheres no mercado de trabalho, uma das muitas marcas do atraso cultural do país. Por isso, está longe de ocupar o lugar da China como centro manufatureiro do mundo.
A esse respeito, mesmo as previsões mais otimistas situam as exportações de bens da Índia em 2030 em não mais que 3% do total global. Para se ter uma ideia, trata-se de uma cifra que a Coreia do Sul, com uma população quase 30 vezes menor, alcançou há uma década. É verdade que, em serviços, essa proporção pode ser o dobro, mas mesmo assim, a força de trabalho empregada nos centros de serviços tecnológicos — um dos pontos fortes da economia indiana — não ultrapassaria 3,4 milhões de pessoas, segundo a consultoria PriceWaterhouseCoopers. Nesse, como em outros aspectos, os panegiristas da “nova Índia” tomam uma realidade limitada a nichos muito específicos e a generalizam de forma tão abusiva que inevitavelmente induz ao erro.
A característica número um da economia indiana é a brutal desigualdade em tudo: nos desenvolvimentos regionais, na incorporação de tecnologia digital (e em seu impacto relativo), na renda per capita, na distância entre setores de ponta e o mundo rural (e urbano) atrasado, etc. Por isso, é sempre preciso tomar com cautela os costumeiros surtos de entusiasmo da imprensa ocidental, sempre disposta a tentar comparar o “capitalismo bom” da Índia com o “ruim” da China, quando descreve as novidades indianas.
Entre outras razões, porque as estatísticas da Índia “pró-Ocidente” são muito mais arbitrárias e questionáveis que as da China “totalitária”. De forma sistemática, as autoridades indianas descartam todo estudo ou relatório que traga à luz indicadores negativos do país como sendo baseados em “metodologia duvidosa” (como o relatório da OMS que estima em dez vezes mais os mortos por covid do que as cifras oficiais), com “graves problemas metodológicos” (como o relatório do Global Hunger Index sobre desnutrição, que coloca a Índia em 115º lugar entre 125 países), com “métodos não científicos” (como o índice ambiental que coloca a Índia em 176º entre 180 países), e assim por diante. Desemprego juvenil em 16%, e 41% entre universitários recém-formados? “Importantes fragilidades metodológicas”. Às vezes, o governo chega a desmentir suas próprias estatísticas, como quando o jornal Hindustan Times publicou que apenas 56% dos indianos fazem três refeições por dia.
Outro exemplo recente do viés informativo foram os aplausos da imprensa ocidental ao falar sobre como a “modernização financeira” da Índia teria chegado às massas, que abraçariam com paixão o “capitalismo popular”. A parte da massificação não é falsa: um em cada cinco lares indianos possui ações de empresas, contra um em cada 14 há apenas cinco anos. O caminho para que surjam tantos “investidores populares” foi a expansão e digitalização de instituições financeiras como fundos de pensão e mútuos, que oferecem valores de entrada tão baixos quanto 3 dólares. Influenciadores e influenciadoras de destaque recomendam investimentos em instrumentos como derivativos e futuros. Há mais de 200 milhões de contas em fundos mútuos, quase todas digitais.
Nos EUA, onde a quase inexistência de um sistema estatal de pensões obriga muitos cidadãos a se tornarem, voluntária ou involuntariamente, “investidores de Bolsa” (via fundos de pensão privados ou semipúblicos), comentadores norte-americanos celebraram com euforia o desenvolvimento de um sistema com características semelhantes (ainda que em condições muito piores para a população indiana comum, é claro). Não surpreende, para quem tem formação marxista, constatar que o resultado dessa febre é o mesmo de sempre: um relatório de setembro da autoridade reguladora financeira da Índia revelou que 90% dos investidores individuais perdem dinheiro nessas operações. A relação entre preço e lucro das empresas listadas na Bolsa da Índia é de 23, um índice que se aproxima de níveis de bolha (a média dos países emergentes é 12). Naturalmente, os milhões de novatos aspirantes a investidores chegaram justamente no fim da bolha, quando os investidores reais já estavam se retirando.[3] Esse episódio, embora previsível, é altamente simbólico dos sonhos e realidades de um capitalismo que ainda tem muito mais sombra do que substância.
Encerramos com a posição da Índia como ator global, uma questão de certa complexidade. Como já apontamos no estudo anteriormente mencionado, a Índia busca projetar a imagem e o corpo de um ator global, especialmente em regiões como o Sudeste Asiático e a África — continente que se tornou um verdadeiro palco de disputa entre potências reais e aspirantes por influência econômica e política. A Índia duplicou seu número de embaixadas na África em dez anos e já é o quarto parceiro comercial e a quinta fonte de investimento estrangeiro direto no continente. Mas ainda está muito distante da China, que é o principal parceiro comercial de 120 países e exerce maior influência que os EUA em 61 dos membros do antigo G77, além de ser o mais influente de todos em 31 desses países (a Índia, apenas em seis).[4]
A Índia define sua política externa como “multi-alinhamento”. Essa deliberada ambiguidade significa que é possível manter, simultaneamente, por exemplo, boas relações com os EUA — embora um tanto manchadas pelas desastradas tentativas de espionagem e assassinato de separatistas sikhs em território americano e canadense —; cooperação no Quad com os EUA, Japão e Austrália; tensões com a China nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, contenção no longo conflito de fronteiras; e excelentes relações comerciais com a Rússia, da qual a Índia compra petróleo barato (ignorando as sanções dos EUA) e, sobretudo, armas.
A estratégia dos EUA de aproximar a Índia do “bloco ocidental” por meio de sua entrada no Quad (sigla para Quadrilateral Security Dialogue, criado em 2007), visando explorar a rivalidade com a China — que vê o Quad como uma “OTAN asiática” — teve resultados bastante limitados. Por exemplo, o Quad divulgou no início do ano uma declaração — impulsionada pelos EUA — que aludia veladamente às pretensões da China sobre Taiwan. No entanto, isso não se traduziu em uma aliança firme ou formal entre os EUA e a Índia, que não tem intenção de romper com a China (os dois países, por exemplo, acordaram recentemente em retomar voos diretos) nem de enfraquecer seus laços históricos com a Rússia.
Rússia
Sabe-se que a importância geopolítica da Rússia se sustenta principalmente em seu imenso arsenal nuclear, só comparável ao dos EUA. Mas, fora desse critério, e apesar dos avanços relativos de Putin na invasão à Ucrânia, a posição internacional da Rússia não está em ascensão, mas sim em decadência e retrocesso, especialmente diante do protagonismo crescente da China.
Qualquer análise do estado da economia e da sociedade russas — algo que não tentaremos aqui — só pode partir hoje do impacto da guerra com a Ucrânia, que atravessa e distorce os parâmetros habituais. Os gastos de defesa da Rússia atingem 6% do PIB, o máximo desde o fim da Guerra Fria; para se ter uma ideia, os gastos de defesa dos EUA durante a guerra do Vietnã ficaram em média em 9% do PIB. Mas a economia russa atual é muito mais frágil do que a dos EUA nas décadas de 60 e 70, de modo que o esforço bélico está dando lugar quase ao que poderíamos chamar de economia de guerra, que representa um choque geral para toda a sociedade.
A taxa de juros do Banco Central russo supera os 20% ao ano, um recorde das últimas duas décadas. Uma taxa tão alta, que afeta a capacidade de crédito, desta vez terá consequências na atividade econômica, com uma forte desaceleração do crescimento em 2025 para menos de 1,5%. Embora a Rússia venha desmentindo os prognósticos sombrios sobre sua economia, e o governo tenha tomado medidas para suavizar o impacto da guerra no cotidiano — por exemplo, por meio de subsídios às taxas de empréstimos hipotecários —, isso não pode se sustentar por muito mais tempo. A Rússia leva vantagem sobre a Ucrânia no front de batalha e no desempenho econômico, mas Putin não pode se dar ao luxo de manter indefinidamente uma guerra de desgaste. A promessa de Trump de encerrar o conflito em 24 horas pode não ser literal, mas é inegável que, por razões e com consequências distintas, tanto Putin quanto Zelensky — e a população russa e ucraniana em geral — suspirariam aliviados com a assinatura de um acordo politicamente digerível.
Um estudo do Public Sociology Laboratory, no interior da Rússia, revela que o estado de ânimo da população em relação à guerra é de desafeição e falta de entusiasmo, mas isso ainda não se traduz em críticas abertas a Putin e ao seu regime. Os nacionalistas-militaristas pró-Putin são uma minoria, e uma minoria ainda menor se opõe — com os devidos cuidados — à guerra. Existe uma espécie de patriotismo moderado e não a qualquer custo, com pouco mais da metade esperando que a guerra termine uma vez que a Rússia tenha “atingido seus objetivos”, uma fórmula deliberadamente vaga que Putin costuma utilizar.
Enquanto isso, uma inflação um pouco mais alta (cerca de 10%) e um desemprego muito baixo (2,4%, como era de se esperar dado o recrutamento para o exército) mostram uma economia que não está à beira do colapso, mas que já começa a sofrer um sério desgaste. Durante os dois primeiros anos da guerra, o Estado russo conseguiu manter os gastos militares sem comprometer os subsídios e créditos às empresas. Mas essa margem se esgotou, e em 2025 haverá aumentos nos impostos sobre os lucros das empresas. A União dos Shoppings da Rússia — um dos setores mais favorecidos por medidas de crédito barato — advertiu que, se os apoios não continuarem, mais de 200 shoppings irão à falência.
A isso se soma o custo econômico da perda de vidas, com números nada desprezíveis: estima-se cerca de 200 mil mortos e meio milhão de feridos. Há cerca de 700 mil soldados no front, e outros 650 mil russos fugiram do país e da convocação militar. O recrutamento mantém-se em cerca de 30 mil homens por mês, com um bônus por alistamento que passou de 200 mil rublos (cerca de 2 mil dólares) no início da guerra para 1,2 milhão (algo acima de 10 mil dólares) atualmente (“All disquiet”, The Economist 9425, 30-11-24). Com uma taxa de fertilidade de 1,4 (muito abaixo da taxa de reposição populacional de 2,1), tanto o número total de habitantes (144 milhões) quanto a população em idade ativa (75 milhões) estão em queda em termos absolutos. Trata-se de um problema que, como veremos mais adiante, está longe de afetar apenas a Rússia, mas que, no contexto da continuidade da guerra, afeta de forma desproporcional as perspectivas de dinamismo econômico.
5.2 As “potências intermediárias”
A ampliação dos BRICS em 2024 incorporou sobretudo países muçulmanos: Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, além da Etiópia (cuja população é composta em um terço por muçulmanos). Esses países, somados, representam aproximadamente o PIB da Itália, ou 2,4% do PIB mundial, e cerca de 350 milhões de habitantes.
Entre eles, os que tentam — e têm condições de — exercer alguma projeção e intervenção internacional são Irã, Arábia Saudita e Emirados. A essa lista cabe acrescentar, no máximo, mais dois países, nenhum membro dos BRICS e ambos com maioria muçulmana: Turquia e Indonésia. Os demais “aspirantes a aspirantes” são países com peso populacional, mas com sérios problemas econômicos (caso do Egito) ou mais estruturais (caso da Etiópia), ou ainda países com folga econômica, mas demasiado pequenos (como o Catar, que por sua vez mantém relações conflituosas com seus “irmãos maiores” da Península Arábica).
Irã
Comecemos pelo Irã, o peso-pesado do grupo. Essa categorização se deve a várias razões: a) o tamanho da economia, da população e a localização geográfica do país no Golfo Pérsico; b) a influência política e religiosa do regime xiita, com aliados políticos e militares no Iraque, Iêmen, Líbano e Síria; c) suas relações fluídas com China e Rússia; e d) o desenvolvimento de sua tecnologia nuclear, que o coloca à beira de se tornar o décimo país do mundo com armas atômicas.
Dito isso, o regime iraniano está longe de atravessar seu melhor momento. Aos reveses sofridos por seus aliados Hezbollah no Líbano e Hamas em Gaza, soma-se o fato de que o ataque aéreo israelense do ano passado destruiu boa parte de suas defesas antiaéreas e plataformas de lançamento de mísseis convencionais. As sanções impostas pelos EUA dificultam a exportação do petróleo iraniano e contribuem para uma economia em crise, o que, por sua vez, gera grande descontentamento político em uma população já pouco afeita a um regime política e culturalmente muito opressivo. De fato, é possível que a teocracia imposta desde 1979 esteja em seu momento de maior fragilidade em décadas.
A carta forte de que dispõe o regime é sua crescente capacidade de produção de material nuclear. Quando Trump decidiu, em 2018, retirar os EUA do acordo Joint Comprehensive Plan of Action, firmado em 2014 por Obama com as assinaturas de China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha, o Irã sentiu-se livre para aprofundar o plano nuclear que o pacto visava retardar. Em 2024, o Irã produzia 7 kg por mês de urânio enriquecido a 60% — próximo do nível para uso bélico e longe de qualquer uso civil —, material suficiente para construir duas bombas nucleares por ano.
Essa perspectiva alarma profundamente Israel, que há tempos tem decidido que a melhor opção é simplesmente bombardear todas as instalações nucleares, até não deixar pedra sobre pedra. Para isso, precisa de duas coisas dos EUA. Uma, o fornecimento de bombas anti-bunker de 900 quilos — significativamente, Trump acaba de aprovar essa medida. A outra é, evidentemente, a autorização do “amo ianque” para realizar, em seu nome, o trabalho sujo.[6]
O que adiciona dramatismo à situação é que a janela de tempo para tomar decisões está se estreitando: é possível que, dentro de alguns meses, o Irã já esteja em condições de exibir capacidade nuclear, o que mudaria toda a equação. Inclusive, há quem pense que hoje já seja tarde demais para destruir a infraestrutura nuclear iraniana com bombardeios, porque o decisivo é que o know-how (conhecimento técnico) já existe. Como disse uma fonte israelense citada pela The Economist, “agora há pelo menos cinco ou seis Fakhrizadehs, e eles são muito mais inacessíveis” (“Dashing all the way”, TE 9433, 1-2-25).
Em consequência, qual política Trump adotará em relação ao Irã é uma incógnita que pode virar vários tabuleiros. Uma nova onda de sanções que impeça o Irã de acessar as divisas de que precisa urgentemente pode disparar reações extremas, como o bloqueio do Estreito de Ormuz, o gargalo do Golfo Pérsico por onde passa 30% do petróleo e 20% do gás natural transportado por navios no mundo. A liderança iraniana já antecipou que não quer tomar essa medida, mas que, se o Irã não puder exportar, ninguém mais exportará. Trump poderia responder enviando uma frota para desbloquear o estreito, e a escalada pode continuar. O presidente norte-americano deve saber que pode negociar duro, mas, como diz o provérbio inglês, se você encurrala um rato, até ele será capaz de lutar.
As monarquias do Golfo Pérsico
As monarquias petrolíferas do Golfo Pérsico, agrupadas no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês) e historicamente aliadas dos EUA, encontram-se numa situação incômoda e paradoxal: enquanto no primeiro mandato de Trump buscavam instigá-lo a enfrentar o Irã, agora provavelmente terão de conter seus eventuais impulsos belicistas. E não porque tenha havido uma reconciliação séria entre essas monarquias sunitas e o regime xiita iraniano, mas porque as primeiras preferem acordos mais previsíveis e de longo prazo. Os dois países mais populosos do GCC, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, têm ambições de potências regionais e buscam projeção internacional, o que em certa medida estão conseguindo. Portanto, têm mais a perder se uma trapalhada de Trump – da qual depois ele se desvincularia – incendiar uma região que já tem problemas de sobra. A reconstrução de Gaza, a estabilização da Síria pós-Assad e – o grande prêmio para Trump – a eventual normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita dependem de muitos fatores. Hoje, a expectativa das monarquias do Golfo não é que Trump seja uma grande ajuda, mas sim que ele não se torne um obstáculo.
Entre as apostas mais importantes para a diversificação do perfil econômico dos países hegemônicos do Golfo (Arábia Saudita e Emirados Árabes) estão os fortes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tecnologias digitais, robótica, design aeroespacial e ciências aplicadas em geral. Para isso, ambos os países assinaram inúmeros acordos tanto com universidades ocidentais quanto com empresas chinesas. Isso pode ser um calcanhar de Aquiles dessa iniciativa: no futuro, talvez não tão distante, é possível que sejam forçados a escolher um lado.
Quanto à intervenção internacional, a Arábia Saudita é uma aliada histórica dos EUA e conta com uma ampla margem financeira graças aos seus fundos soberanos; no entanto, suas ações externas às vezes têm sido bastante desajeitadas. Um exemplo claro é a guerra no Iêmen, que, após se prolongar por quase uma década, deixou em melhor situação do que antes os rebeldes houthis, xiitas com vínculos estreitos com o Irã, que chegaram até a se dar ao luxo de atacar instalações petrolíferas árabes e prédios emiratenses.
A Arábia Saudita é aliada histórica dos EUA e possui grande margem financeira graças a seus fundos soberanos; no entanto, suas ações externas têm sido, às vezes, muito desastradas. Um exemplo claro é a guerra no Iêmen, que, após se prolongar por quase uma década, deixou os rebeldes houthis – xiitas com laços com o Irã – em melhor posição do que antes, a ponto de se darem ao luxo de atacar instalações petrolíferas sauditas e prédios dos Emirados.
Os Emirados Árabes, por sua vez, agem com mais cautela e profundidade. Aliados da Arábia Saudita contra os houthis no Iêmen, suas tropas demonstraram muito mais eficiência e profissionalismo do que as sauditas. Logo perceberam a futilidade do conflito e se afastaram discretamente, deixando os sauditas atolados numa guerra que acabaram abandonando sem vitória.
Os Emirados estão redirecionando seus laços comerciais e de investimento do Ocidente para o Oriente, principalmente para a Ásia e, dentro dela, a China. O investimento estrangeiro direto em novos projetos dos países do Golfo na Ásia se multiplicou por seis em apenas cinco anos, na maioria dos casos em áreas como infraestrutura e manufatura.
Também é muito significativa a presença dos Emirados na África, aproveitando o recuo de investimentos e empréstimos chineses no continente. Isso ocorre não apenas em termos de investimentos em infraestrutura energética e logística – a DP World (Dubai Ports) administra portos em nove países da África Subsaariana; o Abu Dhabi Ports Group, ainda mais – mas também como fornecedor de armas e até apoio político. É muito notória, por exemplo, a relação dos Emirados com Hemedti, líder das Forças de Apoio Rápido do Sudão. Essa formação militar irregular, que enfrentava o antigo exército do Sudão, tem múltiplas denúncias de violações de direitos humanos, ataques à população civil e até limpeza étnica contra populações não árabes e não muçulmanas do país. Os emires também firmaram fortes laços com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed; com o presidente do Chade, Mahamat Déby; e com Khalifa Haftar, chefe de uma das facções que controlam parte substancial da Líbia. Em geral, essas relações envolvem fornecimento de armas. Por fim, Dubai se tornou uma praça ideal para que políticos corruptos (da África e de outras regiões) lavem dinheiro sujo, geralmente por meio de ativos imobiliários, ou como centro de recepção de exportações de ouro de origem duvidosa, sem que muitas perguntas sejam feitas.
Indonésia e Turquia
Entre os muitos questionamentos que surgem hoje contra a globalização de livre mercado, tal como foi concebida desde os anos 1990, está a renovação do velho paradigma da “política industrial” — ou seja, o “dirigismo estatal”, que intervém no mercado para favorecer a criação ou consolidação de setores industriais em países não desenvolvidos. A política industrial teve poucos, mas importantes sucessos, como a recuperação do Japão e a industrialização da Coreia do Sul. Depois veio o caso mais conhecido: a China.
Seguindo esse exemplo, cada vez mais países buscam sustentar suas pretensões de afirmação na arena geopolítica mundial questionando o modelo de inserção na globalização com base nas “vantagens comparativas”. Esse modelo significava, para quase todos os países periféricos ou “emergentes”, simplesmente concentrar-se na exportação de commodities, o que desestimulava a diversificação das estruturas produtivas. Algo que os aspirantes mais sérios a “potências intermediárias”, como Arábia Saudita, Emirados Árabes ou Indonésia, querem evitar — e com razão, pois consideram esse caminho como um beco sem saída para o desenvolvimento.
Um caso particular é o da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo (280 milhões de habitantes) e o país com a maior população muçulmana do planeta. Com uma projeção política ainda limitada, mencionaremos aqui alguns aspectos do seu peso econômico. Trata-se de um dos países de crescimento mais rápido da Ásia e do mundo. Comparado a seus vizinhos Malásia e Filipinas, o PIB da Indonésia era um pouco menor que a soma dos dois no ano 2000; em 2023, superava essa soma em 63%. Nos últimos dez anos, multiplicou sua infraestrutura graças aos recursos provenientes das commodities: a Indonésia produz dois terços do níquel bruto e quase metade do níquel refinado de todo o mundo. O níquel é um insumo essencial para as baterias de carros elétricos, mas a liderança indonésia, longe de se contentar com esse quase monopólio, proibiu em 2014 a exportação de níquel bruto com o objetivo de desenvolver uma cadeia local de refino (downstreaming), que passou de apenas duas plantas em 2013 para 30 no fim de 2023. O plano é alcançar a fabricação local de baterias para carros elétricos com capacidade total de 140 GW em 2030, quase o equivalente à produção global em 2020.
É claro que, mesmo que esse plano tenha sucesso, isso não resolveria a questão do lugar da Indonésia na globalização. Não se pode falar de verdadeira industrialização nem de mudança no perfil da estrutura produtiva quando nem o emprego industrial nem a redução da pobreza deram saltos significativos com essas políticas. Além disso, o custo ambiental é muito alto — tanto pela destruição da floresta nativa quanto pelo uso do carvão como principal fonte de energia. Sem falar das condições de trabalho: os EUA colocaram o níquel da Indonésia na lista de produtos fabricados com “trabalho forçado”. Como resume a The Economist, “o risco é que a Indonésia esteja gastando vastos recursos estatais para conquistar uma pequena fatia de uma indústria que pode se saturar, criando uma quantidade modesta de empregos industriais a um alto custo ambiental” (“Back to the future”, TE 9430, 11-1-25).
Por sua vez, a posição da Turquia no contexto atual é uma das mais complexas e exige um estudo mais aprofundado do que estamos em condições de fazer aqui, de modo que aqui nos concentraremos apenas em sua projeção (geo)política, não em sua economia.
O primeiro ponto a destacar é que, em sintonia com os critérios étnico-religioso-nacionais de outros aspirantes a potência, o governo de Erdogan — cujo partido está no poder há mais de 20 anos — também recorre a uma veia expansionista, neste caso a da “Grande Turquia”. O elemento — espúrio, como na maioria dos outros casos — que sustenta esse discurso é a suposta unidade étnico-linguística dos “povos túrquicos”, recentemente agrupados na Organização dos Estados Túrquicos, que inclui Turquia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e, como observador, o Turcomenistão. Além dos Estados nacionais, há também etnias de origem turca na Rússia (tártaros e outros) e na China (uígures); em ambos os casos, esses grupos são vistos com desconfiança ou até com hostilidade por parte das autoridades.
Diante dos países da Ásia Central, a Turquia aparece como um “irmão mais velho”, e Erdogan como uma figura que projeta força regional. As sanções impostas à Rússia — o parceiro comercial e político “natural” dos países da Ásia Central — os forçaram a buscar rotas comerciais e acesso a financiamento (e armas) junto à Turquia. E, embora essas ex-repúblicas soviéticas muçulmanas não estejam em condições de realizar uma mudança brusca de alinhamento geopolítico da Rússia para a Turquia, elas veem com bons olhos a possibilidade de ampliar o leque de parceiros possíveis, o que chamam de política externa “multivetorial”. [7]
A projeção internacional da Turquia não se limita, de forma alguma, aos países ligados etnicamente. A modalidade sunita do Islã praticada na Turquia a afasta do Irã, mas também não a aproxima do Egito e da Arábia Saudita. As relações com os maiores países sunitas da região foram tensas enquanto a Turquia foi promotora da Irmandade Muçulmana. Mas especialmente após a pandemia, Erdogan anunciou uma “nova era” nas relações com o Egito e as monarquias do Golfo, em parte pela consolidação do regime de Al Sisi e em parte pelas necessidades de financiamento.
Além disso, a Turquia é um ator decisivo na Síria pós-Assad: é o apoio mais confiável de que dispõe o novo e frágil governo de Ahmed al-Sharaa (ainda que, em outro momento, o pragmático Erdogan tenha reatado relações com o ditador sírio). Uma das moedas de troca desse apoio é o compromisso de Sharaa de não oferecer refúgio aos curdos, que controlam toda a região norte da Síria — onde estão localizados os principais campos de petróleo, terras cultiváveis e represas hidrelétricas. Sabe-se que Erdogan considera os curdos — sobretudo os grupos separatistas que atuam dentro e fora da Turquia — como seu principal inimigo.
E embora a projeção turca na Europa seja limitada — também prejudicada pelas péssimas relações com a Grécia e com a metade grega da ilha de Chipre —, a Turquia é hoje um ator reconhecido na política africana, desde seu apoio a Khalifa Haftar na Líbia até seu recente envolvimento na guerra civil no Sudão, passando pelo florescente negócio de venda de armas a diversos países africanos. Justamente por conta do desenvolvimento de sua indústria bélica, a Turquia mantém há anos um importante programa espacial, com astronautas pioneiros, satélites, planos de pouso na Lua em cooperação com Rússia e China (para horror dos EUA), e um projeto de construção de um porto espacial na Somália para testes de mísseis de longo alcance. Sendo, em termos de população, PIB absoluto e capacidade militar, um dos 20 países mais importantes do mundo, o papel da Turquia na política global tende a ser cada vez maior, e não menor, em comparação às últimas décadas — independentemente do destino do semissultanato de Erdogan, enfraquecido nas últimas eleições.
5.3 O Sul do mundo: todas duras, nenhuma madura
América Latina
Desde aproximadamente 2013 ou 2015 (dependendo da região) até hoje, os países do chamado Sul do mundo — anteriormente chamados, sem tantos pudores, de países subdesenvolvidos ou, diretamente, pobres — viveram uma década desastrosa, comparável ao que na América Latina se chamou de “década perdida”.
O espécime do “catch up” (redução da distância em relação aos países desenvolvidos), que havia iludido os movimentos populistas nos primeiros quinze anos do século XXI, revelou-se uma ilusão muito antes do que previam os apologistas da globalização como “era de oportunidades”. Alguns números ilustram esse cenário: ainda existem 800 milhões de pessoas em pobreza extrema e, o que é ainda pior, 2,8 bilhões de pessoas vivem em regiões que, em vez de se aproximarem progressivamente dos padrões dos países desenvolvidos, estão se distanciando deles. Assim, em 2023, nem a África, nem a América Latina, nem o Oriente Médio se aproximaram um milímetro sequer do PIB per capita dos países desenvolvidos.
Um artigo de um conhecido especialista em temas de desenvolvimento na periferia, o indiano Arvind Subramanian, reconhece que: “Mesmo com as ótimas taxas de crescimento do início dos anos 2000, o país periférico médio levaria 170 anos para alcançar apenas a metade da renda per capita dos países desenvolvidos. Com as taxas de crescimento atuais, o progresso seria consideravelmente mais lento”
(“End of the road”, The Economist, edição 9415, 21-9-2024). “Consideravelmente mais lento” que 170 anos! Se ainda restava alguma dúvida de quão orgânica é a estrutura do capitalismo imperialista, em sua arquitetura assimétrica e funcional de relações entre Estados, aqui ela é dissipada pelas palavras de seus próprios defensores. A “corrida pelo desenvolvimento” para os países periféricos pode estar chegando ao fim, e, mesmo sob condições ideais mantidas durante séculos, esse desenvolvimento levaria entre um terço e metade de um milênio. Como promessa da globalização capitalista, seus defensores terão de admitir que exige dos crentes ingênuos uma dose descomunal de paciência franciscana…[8]
Depois daquele breve interregno nos primeiros anos do século, já mencionado, a região como um todo retornou à “normalidade”: taxas de crescimento econômico abaixo da média global, aumento do endividamento público e maior instabilidade política, o que se traduz no fato de que quase nenhum governo tem conseguido se reeleger. Esses fatores também ajudam a explicar o surgimento de personagens rocambolescos como Javier Milei, Dina Boluarte, Nayib Bukele ou o filho do magnata das bananas Álvaro Noboa no comando de países importantes da região.[9]
Por mais que os porta-vozes do establishment queiram vender como “histórias de sucesso” os governos que simplesmente abriram suas portas ao investimento estrangeiro, os resultados sociais são devastadores: nenhum país da região conseguiu, nos últimos dez anos, avanços substanciais no crescimento do PIB per capita, no desenvolvimento econômico ou na redução da assustadora desigualdade social, um estigma secular do continente — e que segue sendo a mais acentuada do mundo. De fato, a década 2013–2023, ecoando a conhecida definição do FMI sobre os anos 1980 na região, pode ser considerada outra “década perdida”, com crescimento raquítico ou quase nulo como consequência do fim do boom das commodities.
Uma análise mais profunda e detalhada das tendências da região, mesmo com o passar de dois anos, continua sendo a de Víctor Artavia, da Corrente Socialismo ou Barbárie, em “Apontamentos sobre a situação da América Latina” (izquierdaweb, outubro de 2022). Por isso, aqui apenas registramos alguns problemas relacionados à nova etapa política (e econômica) que se abre, sobretudo com relação aos gigantes da região, Brasil e México. Esses países, como os demais do continente, não parecem ter colhido os frutos das gestões supostamente “progressistas”, que mantiveram inalterada a posição de seus países na divisão internacional do trabalho. Tanto Lula quanto López Obrador limitaram-se a reafirmar o papel de seus países: o Brasil, como fornecedor de matérias-primas e alguns nichos industriais, e o México, como fornecedor de mão de obra barata e local de montagem para a indústria dos EUA.
No caso do Brasil, esse perfil se fortalece com o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que ainda aguarda ratificação por parte dos europeus, e cujo foco foi mudando aos poucos. Concebido inicialmente como mais um passo na liberalização do comércio e como forma de promover o aumento do intercâmbio e das exportações, o acordo agora tem outra importância, com o início do segundo mandato de Trump. Segundo uma ex-membro da Comissão de Comércio da UE, Cecilia Malmström: “Para a União Europeia, [o acordo com o Mercosul] é importante economicamente, mas é sobretudo uma decisão geopolítica. Com uma possível guerra tarifária no horizonte, a Europa precisa de amigos e aliados” (“Good for trade, better for geopolitics”, The Economist, edição 9427, 14-12-2024). De fato, o conteúdo do acordo inclui exceções importantes e longos períodos de adaptação, em geral de até 12 anos.
Para a União Europeia, o Mercosul passaria a ser o maior parceiro comercial depois do Japão e do Reino Unido. Para o Brasil, principal interessado dentro do bloco sul-americano, significa ampliar a gama de opções comerciais diante da pressão combinada dos EUA e da China, que tentam forçar a escolha de um lado em detrimento do outro. Desde já, o acordo provavelmente reforçará o papel do Mercosul como fornecedor de minerais e alimentos. Também não é garantida sua ratificação; enquanto Alemanha e Espanha lideram a lista de entusiastas, há forte oposição na França e profundas dúvidas na Itália e na Polônia.
A situação do México é diferente e particular, pois é hoje, com a única possível exceção da China, o país mais vulnerável às decisões de Trump, não apenas na política comercial (tarifas), mas também na política migratória. No primeiro aspecto, os bens que o México exporta para os EUA representam 80% do total e equivalem a 27% do seu PIB (para a China, esses valores são apenas 15% e 3%, respectivamente). No segundo aspecto, é impossível exagerar o impacto que deportações em massa teriam sobre o fluxo de remessas: o México recebe por esse conceito 60 bilhões de dólares anuais, um montante maior que todo o investimento estrangeiro direto. Muito pior ainda seria a situação de Guatemala, Honduras e El Salvador, para os quais as remessas equivalem entre 18% e 25% do PIB e representam, de longe, a principal fonte de renda.
O choque para o México é ainda mais sério considerando que o país esperava ser um dos principais beneficiários do desacoplamento e do consequente friendshoring / nearshoring das multinacionais americanas em relação à China. Porém, Trump não se contenta que os investimentos saiam da China e sejam direcionados a países amigos ou vizinhos: ele quer que retornem aos EUA e gerem empregos lá, seja com empresas americanas ou estrangeiras.
A relação do México com a China é uma das grandes preocupações de Trump, que vê o país norte-americano como um “cavalo de Troia” para as exportações chinesas. Em 2023, o México superou a China como principal exportador de bens para os EUA; ao mesmo tempo, as exportações chinesas para o México dispararam. Em 2002, menos de 5% do valor dos componentes das exportações mexicanas para os EUA era chinês; em 2020, já representavam 21%. Desde então, esse percentual continuou crescendo. Em 2018, havia oito fábricas chinesas de autopeças no México; em 2023, já eram mais de 20.
Isso se reflete no fato de que as exportações do México para os EUA não são essencialmente “mexicanas”: 70% são controladas por companhias não mexicanas (principalmente americanas). Isso significa que a General Motors e a Ford possuem as peças chinesas muito integradas em suas cadeias de suprimentos, o que desagrada tanto Trump quanto Claudia Sheinbaum, prefeita da Cidade do México. Mas desmontar ou recompor essa cadeia para reduzir sensivelmente o “componente chinês” não é algo que se possa fazer da noite para o dia, mesmo que a tolerância política e econômica dos EUA e do México para com a China só possa decrescer.
África
Embora todos os think tanks de economia internacional insistam na importância do continente africano para o futuro, especialmente em termos demográficos — afinal, África é o único continente com crescimento populacional expressivo e taxas de fertilidade muito acima da taxa de reposição —, o presente e o futuro próximo não permitem muito otimismo. O FMI, em seu prognóstico para 2025, estima que quase metade dos 20 países com maior crescimento do PIB neste ano serão africanos. No entanto, esse dado auspicioso esconde sombras mais longas.
A população total da África dobrou em 30 anos; hoje é de 1,5 bilhão de habitantes, ou seja, 19% do total mundial e quase 50% a mais que os EUA e Europa juntos. Mas para 2050, a população chegará a 2,5 bilhões e representará um quarto da população global. Sua condição de continente mais pobre do planeta não melhorou; na verdade, piorou em termos relativos: em 1960, o PIB per capita africano, ajustado pelo poder de compra, era metade da média mundial; hoje, é apenas um quarto.
O FMI divide os países da África Subsaariana, do ponto de vista econômico, em dois grupos: os de “intensidade de recursos” (petróleo, ouro, diamantes e outros minerais) e os menos dependentes de commodities. Todos os países com maior crescimento do continente pertencem ao segundo grupo, liderados por Ruanda, Etiópia, Costa do Marfim e Tanzânia, todos com crescimento estimado em 6% ou mais para este ano. Em contraste, os países dependentes de commodities, como África do Sul, Nigéria e Angola, têm hoje um PIB per capita real mais baixo do que há uma década. Esse quadro é influenciado pela queda nos preços das commodities, após o boom dos primeiros dez a quinze anos do século, mas também pelo nível de má gestão política e corrupção, que são mais endêmicos na África do que em qualquer outra parte do mundo.
A divisão interna do continente entre países com bom ritmo de crescimento e países estagnados é profunda, e a maioria fica do lado negativo da comparação. Por exemplo, os três países com melhor desempenho desde 1960 são Botsuana, Seychelles e Maurício… que juntos têm a mesma população que o Uruguai, 3,5 milhões de habitantes.
Apesar do bom desempenho de alguns países, a má notícia é que, no conjunto, a África continua com seu destino econômico atrelado às commodities. Do total do PIB africano, os cinco países árabes do Magrebe representam quase 40%. Entre os demais 48 países do continente — que constituem propriamente a África Subsaariana —, metade do PIB é composta por apenas três países (Nigéria, África do Sul e Angola), os mesmos que mencionamos como estagnados há uma década.
E não é só estagnação: a Nigéria, país mais populoso do continente — um a cada seis africanos é nigeriano —, enfrenta graves problemas de subsistência (10% da população sofre de desnutrição crônica), desertificação, conflitos étnicos entre pastores e agricultores, movimentos separatistas em pelo menos duas regiões e falta de controle real sobre parte importante das províncias do norte, devastadas por milícias jihadistas. Tudo isso apesar — ou por causa — de ser o principal produtor de petróleo do continente.
Apesar do seu estado penoso atual, a África está destinada a cumprir um papel cada vez mais importante na dinâmica do capitalismo global. Isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de que será um fornecedor-chave de força de trabalho. Em 1950, a África representava 9% da população mundial; em 2000, 13%; e estima-se que em 2035 chegue a 21%. Entre agora e 2030, mais da metade dos jovens que entrarão na força de trabalho global será africana.
Esse é o futuro. O presente, porém, é que a África não é só o continente mais pobre (e com maior crescimento populacional), mas que a distância econômica que a separa do resto do mundo é ainda maior. Em 2000, a renda média do africano era um terço da do resto do mundo; em 2023, é apenas um quarto. Para 2026, a renda per capita será igual à de 2015. A densidade de estradas, em vez de se aproximar da do resto do planeta, piorou, sendo apenas um quinto da média mundial; além disso, só um quarto das estradas está pavimentado. Metade da população dos países subsaarianos não tem acesso ao serviço de eletricidade.
Assim como no resto do mundo, a população urbana da África aumentou muito. Em 1960, 85% da população era rural; em 2024, a população urbana já é 43%, e em 2035 ultrapassará a rural. Mas essa urbanização não implica necessariamente progresso ou maior modernização econômica. O processo de urbanização não seguiu o padrão de outras regiões, como Ásia ou mesmo América Latina, que tiveram um desenvolvimento relativo da produção manufatureira em substituição ao trabalho rural. Na África, o padrão de trabalho é muito diferente.
A população urbana tem um nível muito baixo de emprego na indústria (11,5% do total, pouco acima dos 10% em 1991) ou nos serviços mais produtivos. 80% do emprego é informal, e metade desse emprego informal é por conta própria, que nada mais é do que desemprego disfarçado. Os defensores do “capitalismo popular” evitam usar o exemplo da África, onde 70% dos jovens tentam “montar um negócio”. Mas, claro, para esses jovens “ter um negócio geralmente é resultado da desesperança, não de uma escolha. (…) A maioria dos africanos adoraria ter um emprego estável. (…) [Um estudo de] Oriana Bandeira, da London School of Economics, (…) constatou que os jovens africanos não têm mais chances que os africanos mais velhos de conseguir um emprego assalariado. Os empregos de muitos jovens africanos não diferem daqueles da geração de seus pais” (“The Africa gap”, TE Special report, 11-1-25).
Na verdade, no caso da África poderia falar-se em acumulação fracassada; no continente, o processo de acumulação capitalista clássica ou não ocorre ou apresenta distorções que reproduzem os piores traços da economia. As empresas africanas carecem de escala porque, enquanto o mercado interno é insuficiente, os problemas de infraestrutura são quase intransponíveis quando tentam produzir para o mercado mundial. Não há nenhuma empresa africana entre as 500 maiores do mundo; é o único continente não representado nessa lista. E enquanto a dinâmica capitalista obriga a maioria das empresas a crescer (isto é, acumular) ou morrer (ser deslocadas pela concorrência), na África as empresas podem passar muitos anos sem crescer, sem contratar trabalhadores, sem aumentar a produção e sem desaparecer, vivendo em uma existência anêmica, improdutiva e sem perspectivas.
Essa baixa produtividade nas cidades se replica no campo, onde a típica exploração rural não supera duas hectares e se cultiva com métodos que pouco diferem dos do século XIX, e menos de 4% da terra cultivada recebe irrigação. A falta de energia elétrica significa que não existem cadeias de frio; na Nigéria, o país mais populoso do continente, 45% da produção de alimentos se perde por deterioração. Também não contribui para a produtividade que 60% dos jovens entre 15 e 17 anos não estejam estudando, e que a taxa de alfabetização, embora tenha melhorado, não ultrapasse 75% entre os jovens de 15 a 24 anos.
Na realidade, provavelmente o melhor negócio na África é estabelecer algum tipo de aliança com o poder político e o Estado. Não porque este seja economicamente forte: se algo caracteriza os aparatos estatais africanos é sua fragilidade e falta de presença em áreas chave, decorrente da baixíssima arrecadação tributária, da ordem de 13% do PIB. A África Subsaariana tem menos empregados públicos em relação à população do que qualquer outra região do mundo, sendo incapaz de garantir serviços básicos, desde fornecimento de eletricidade até o registro populacional (mais da metade dos nascimentos não é registrada; o quarto país mais populoso da África, Congo, não realiza censo há mais de 40 anos).
A relação com o Estado, geralmente via financiamento privado a políticos e suas campanhas, dá acesso ao que se chama “estados sombra” (shadow states), onde tudo se transforma num troca-troca opaco entre políticos profissionais e empresários. O resultado mais flagrante disso é que tanto políticos do sistema quanto capitalistas optam por acumular riqueza e guardá-la fora do continente: um cálculo do economista Gabriel Zucman, especialista em desigualdade, estima que 30% da riqueza líquida da África está depositada fora da África (a média global é de 8%). Não é preciso dizer que, nesse esquema, a maior parte fica com as grandes multinacionais, seguidas dos governantes corruptos e alguns de seus parceiros locais no setor privado.
Nesse cenário, é evidente que a “acumulação” que possa ocorrer deve vir essencialmente de fora, seja na forma de empréstimos de países soberanos e suas empresas (com a China como principal credora, seguida dos EUA, UE, Emirados e Turquia) ou de organismos multilaterais. Em muitos países, também é forte a dependência das remessas dos nacionais no exterior ou simplesmente da ajuda externa de ONGs, fundações privadas e órgãos ligados à ONU.
Com 19% da população mundial, a África representa 3% do PIB mundial. Se essa situação de distanciamento dos países menos pobres não mudar, e se a desigualdade continuar aumentando, a África concentrará a grande maioria da população em extrema pobreza do mundo e, segundo alerta o FMI, será a mais vulnerável às mudanças climáticas. Esse é o cenário para o continente que fornecerá a maior parte da nova mão de obra necessária ao funcionamento do capitalismo.
Às mazelas econômicas estruturais do continente soma-se uma nova preocupação: o aumento do “desordem política” e o retrocesso do já lento e contraditório processo de democratização das sociedades. Embora a África tenha a maior proporção de autocratas do mundo (muitos no poder por mais de três ou quatro décadas, seja pessoalmente ou via dinastias familiares), nas duas primeiras décadas do século houve em muitos países, pela primeira vez, transferências pacíficas de poder entre partidos diferentes, resultado de eleições. Contudo, no último lustro, o continente foi testemunha de uma onda de golpes de Estado, especialmente no Sahel, além do recrudescimento ou renovação de guerras civis, levantes armados, movimentos separatistas e atividades jihadistas. Essa crescente violência, somada à tradicional falta de perspectivas econômicas, é o principal fator que impulsiona a migração desesperada, seja para países vizinhos mais estáveis ou para a Europa. Também não ajuda o fato de que, em muitos países, a política seja dominada não por partidos com ideologias coerentes, mas por forças políticas altamente personalistas, de base étnica, ou ambas.[10]
Essa desordem política agora vem acompanhada da novidade do questionamento das fronteiras estabelecidas há décadas, o que na África tem exemplos mais recentes do que em qualquer outro continente. Para mencionar apenas os mais flagrantes:
- A guerra civil no Sudão ameaça uma nova desintegração do país (Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo, se tornou independente em 2011);
- A integridade territorial da Somália é uma ficção; o governo baseado na capital Mogadíscio não controla nem 10% do território, enquanto Somaliland, uma região que ocupa quase 30% do país, é de fato um estado independente há 30 anos, e agora busca um acordo com a Etiópia: reconhecimento soberano em troca de uma saída para o mar; o resto do país é repartido entre outra província separatista, Puntland, e as áreas controladas pela milícia jihadista Al Shabaab;
- A recente captura de Goma, principal cidade do leste da República Democrática do Congo, pelas mãos da milícia M-23, armada e patrocinada por Ruanda, é amplamente vista como uma espécie de “operação Donbás” de Ruanda contra seu vizinho, com a possível meta de ampliar o pequeno território de Ruanda às custas do ex-Zaire, o 11º país mais extenso do mundo.[11] O presidente de Ruanda desde 1994, Paul Kagame, fez explícito seu desejo de uma “Grande Ruanda”; o território que hoje controla o M-23 (que, insistimos, é muito menos uma milícia independente real que um proxy do Estado ruandês) na província congolesa de Kivu do Norte é quase igual em extensão ao próprio Ruanda.
A África sempre foi o elo mais fraco da estrutura internacional de Estados do sistema capitalista global. A população mais pobre e os países menos desenvolvidos do mundo devem padecer agora um reforço das tendências ao caos político, à anomia e até à desintegração territorial, no marco de violentos conflitos sociais, étnicos, religiosos e nacionais que os estados mais frágeis do mundo não conseguem canalizar. É altamente paradoxal que esse continente sofrido seja, ao mesmo tempo, apontado como a maior esperança do sistema capitalista para superar suas contradições demográficas, problema que trataremos no capítulo seguinte.
[1] Tendo tratado EUA, China e UE, esclarecemos que não pudemos incluir neste estudo o lugar do Japão. Apenas registramos aqui que, ao mesmo tempo em que não sai de um marasmo econômico que dura mais de 30 anos, com taxas de crescimento anêmicas, os últimos desenvolvimentos políticos — ainda que não totalmente disruptivos — indicam que a ideia do Japão como bastião da estabilidade política regional e global está deixando de ser válida. Os tempos de Shinzo Abe e do Japão como aliado incondicional de Trump e dos EUA na Ásia acabaram após seu assassinato em 2022. Desde então, o Partido Liberal Democrático do Japão, a força que governou o país durante quase todos os anos desde a guerra, tem enfrentado lutas internas, rumo político incerto e crise de popularidade, e já teve três primeiros-ministros em menos de cinco anos, justamente desde que Abe deixou o cargo. [2] O que se diz dos BRICS vale ainda mais para o conjunto do que se chama “Sul global” ou “países emergentes”. Uma definição marcante é a do Quincy Institute for Responsible Statecraft: “O Sul global não existe como um agrupamento coerente e organizado, mas como um fato geopolítico”. [3] Podemos dizer que o mesmo fenômeno se replica na China, onde, com um cinismo mais consolidado, operadores experientes asseguram que o ativo mais valioso do mercado acionário são… os investidores minoritários. Ou seja, os pobres incautos que jogam de capitalistas e perdem o pouco que tinham. Nada que Marx em O Capital e Henryk Grossmann em A Lei da Acumulação e o Colapso do Sistema Capitalista não tenham alertado: o sonho libertário de uma sociedade onde “todos são capitalistas” é uma utopia tão reacionária quanto, francamente, estúpida. [4] Os dados são do Pardee Centre for International Futures (PCIF), de Denver, EUA, que elaborou um índice da capacidade de influência das diversas potências sobre os países do antigo grupo dos “Não Alinhados” (o chamado G-77), que agrupava aquela quantidade de países do “Terceiro Mundo”, e onde hoje se encontram (informalmente) mais de 130 países. Segundo o estudo, embora os EUA mantenham o lugar de país mais influente em “influência bilateral formal”, a China os superaria por volta de 2038, enquanto a Índia tomaria o (distante) terceiro lugar da França por volta de 2040 (“Who’s the boss of the global south?”, TE 9392, 13-4-24). [5] Ao menos recebem algo, o que não se pode dizer dos novos recrutas ucranianos. The Economist cita as reclamações de um alto oficial de que os homens que recebe têm todos mais de 45 anos, estão desmotivados e muitos com atestados médicos declarando que não estão aptos para servir na linha de frente. “Às vezes sinto que estou no comando de um asilo diurno em vez de uma unidade de combate”, lamenta. Nessas condições, muitos estimam que uma retirada significativa do exército ucraniano é inevitável (“Bracing for a surge in the south”, TE 9245, 30-11-24). [6] Quando se trata do Irã, normalmente os EUA preferem não terceirizar as decisões-chave para Israel, mas assumir a responsabilidade direta. Uma coisa é aceitar que Israel tenha assassinado em 2020 Mohsen Fakhrizadeh, físico nuclear-chave do programa atômico iraniano; outra distinta é tomar a decisão de assassinar um dos generais mais importantes do esquema militar iraniano, Qassem Soleimani, também em 2020. [7] Esse conceito de “multivetorialismo” aplica-se também, em particular, a muitos países asiáticos, com tradicionais e novos laços econômicos com a China, que aguardam ansiosamente o desenvolvimento da contenda geopolítica entre EUA e China com a esperança de não serem obrigados a escolher um lado. E, mesmo no melhor dos casos, de se beneficiarem de um jogo de seduções e equilíbrios entre ambas as potências. [8] Não tratamos neste item, por questões de espaço, o restante dos países asiáticos “emergentes” e pobres. Apenas faremos referência a outro dos supostos “milagres econômicos” da era dourada da globalização, Bangladesh, o oitavo país mais populoso do planeta. O caso é particularmente instrutivo sobre o nível de seriedade dessas “histórias de sucesso” vendidas pela literatura e academia econômica dominante. Um relatório oficial publicado recentemente, após a queda do governo autoritário de Sheikh Hasina — no poder desde 2009 — começa a colocar as coisas em seu lugar. Não se trata apenas de que o “milagroso” crescimento em torno de 7% do PIB anual “derramava” pouco ou nada para uma população com níveis muito baixos de renda. O relatório conclui que o relato do desenvolvimento econômico bengalês estava “embelezado” (hyped up) e que os números do PIB estavam maquiados. Usando critérios alternativos do Banco Mundial, o relatório estima que a taxa real de crescimento desde 2018-2019 foi de 3%, ou seja, menos da metade da oficial. Mas há mais: essa taxa de crescimento muito mais moderada também não beneficiava a população comum em razão do escandaloso nível de corrupção: entre 2009 e 2023 estima-se que saíram ilegalmente do país cerca de 234 bilhões de dólares, o que equivale a… 3,4% do PIB por ano. Todo o crescimento real, e mais, evaporava nas contas offshore de empresários, amigos e capangas do regime! [9] A decomposição do sistema tradicional de partidos, outro fator que abre a porta para desenvolvimentos políticos inesperados, é tão profunda que em 13 das últimas 17 eleições presidenciais na América Latina, o partido vencedor tinha menos de dez anos de existência. Trata-se de um sinal inequívoco de que “a democracia está sob maior pressão do que em qualquer outro momento desde as ditaduras militares dos anos 60 a 80 (…). Uma tendência anti-oficialista onipresente (…) [faz com que] hoje os ciclos políticos e as ‘luas de mel’ para os governos recém-empossados sejam notavelmente breves, (…) [com] protestos de rua em massa, às vezes violentos, amplamente conhecidos como ‘estalos sociais’” (Michael Reid, “Between stagnation and angry streets”, The Economist Special Report on Latin America, 18-7-22). [10] Logicamente, as escassas conquistas econômicas da “democracia” e seu nível de captura por políticos e empresários corruptos explicam que para a maioria dos africanos ela não esteja entre seus interesses mais valorizados. Uma pesquisa da Afrobarómetro de 2023 registra que há mais africanos que aceitariam uma ditadura do que os que a rejeitariam; somente 38% expressaram satisfação com a democracia em seu país. As baixas taxas de participação nas eleições (cerca de 30% na Nigéria e na África do Sul) também são uma manifestação dessa desconfiança ou desinteresse. De longe, o problema mais sentido na pesquisa é a falta de bons empregos. [11] The Economist observa que “as ações de Ruanda não são apenas erradas e ilegais; são um sintoma preocupante de uma ordem internacional em decadência. (…) O M-23 já havia capturado Goma antes, em 2012. Mas (…) uma força de paz da ONU praticamente desfez esse grupo. Hoje, a ONU é mais fraca no Congo, as potências estrangeiras estão ocupadas com outras coisas e Ruanda tem mais patrocinadores do que em 2012, como China, Turquia e Catar. (…) Se permitir que continue esse flagrante violação das fronteiras de um país, haverá mais no futuro” (“Rwanda does a Putin in Congo”, TE 9433, 1-2-25). Mas são precisamente essa impotência da ONU e o desinteresse de Trump em prevenir esse tipo de ação em áreas que não lhe são estratégicas que alimentam o colapso da “velha ordem internacional”, que incluía o respeito às fronteiras estabelecidas (salvo quando os EUA decidissem o contrário, claro).
Tradução: Martin Camacho