Este artigo é uma primeira introdução a um texto mais amplo, em processo de elaboração: Economia e política globais em tempos de Trump. Esta primeira parte é um esboço inicial das consequências econômicas e geopolíticas do segundo governo de Trump. Serão publicados em sete partes que iremos traduzir e disponibilizar em nosso site. O texto completo abordará muitos outros elementos de análise: a situação da economia capitalista mundial, os BRICS, a União Europeia, o “Sul Global”, etc.
Retorna a vocação para a conquista territorial?
Marcelo Yunes
A categoria de “imperialismo” no marxismo sempre teve um status diferente do uso coloquial, jornalístico e sem rigor do termo. Por isso, é curioso que, ao se referirem ao segundo mandato de Trump, seja quase um lugar-comum em meios de comunicação e publicações totalmente alheias ao marxismo falar de “presidente imperialista” ou de “retorno do imperialismo”. O que se quer dizer, logicamente, é que Trump ameaça colocar em prática a concepção de que os EUA “devem ser uma nação que cresce”, isto é, que “aumente sua riqueza e expanda seu território”, conforme formulado nada menos que em seu discurso de posse.
A fala sobre “expansão de território” não foi um lapso nem um comentário passageiro. O único presidente dos EUA que Trump mencionou em seu discurso não foi Biden, nem Obama, nem nenhum dos Bush, nem Kennedy, mas alguém obscuro e desconhecido para a maioria: William McKinley, que assumiu em 1897 e foi assassinado por um anarquista em 1901. Tão representativa da visão de mundo de Trump é a figura de McKinley que ele chegou a mudar, por decreto, o nome da montanha mais alta dos EUA — o monte Denali — devolvendo-lhe o nome de McKinley, que havia sido retirado em 2015. [1]
A presidência de McKinley foi marcada por duas políticas: a expansão territorial e a imposição de tarifas protecionistas. A segunda é conhecida como uma bandeira de Trump e não é novidade. Mais interessante é lembrar que, sob McKinley, ocorreram as maiores incorporações de território aos EUA desde a aquisição do Alasca em 1867. A guerra contra a Espanha (uma provocação aberta e deliberada por parte dos EUA) resultou na incorporação das Filipinas, de Guam e de Porto Rico, além do protetorado de fato sobre Cuba — sem contar a anexação prévia do Havaí.
Não é preciso dizer que McKinley era o favorito dos dois maiores plutocratas da época, John D. Rockefeller e J.P. Morgan, que fizeram generosas doações à sua campanha. Isso não é coincidência — é um padrão.
A política de McKinley esteve relacionada com o desespero dos EUA, então uma potência emergente, ao perceber que estava ficando de fora da corrida pela partilha de territórios em que estavam engajadas as outras nações imperialistas europeias — especialmente Inglaterra, França e Alemanha. Salvo pequenas regiões pobres, de difícil acesso, e algumas ilhas do Pacífico, quase toda a África e a Ásia, no final do século XIX, já estavam sob domínio de alguma potência europeia. Os EUA chegaram tarde demais a essa corrida e, por isso, só conseguiram roubar de um imperialismo em decadência, o espanhol, o pouco que ainda restava a este.
Dessa forma, o período do imperialismo clássico tem como ponto de partida a divisão territorial entre as potências coloniais existentes, algo assinalado por todos que estudaram o fenômeno, como Hobson (1902) e Lênin em seu célebre panfleto de 1915. No entanto, essa partilha já estava basicamente concluída em 1918. Nem mesmo as duas guerras mundiais mudaram isso — exceto, logicamente, pelas perdas territoriais dos países derrotados.A descolonização do pós-guerra, que deu origem a quase dois terços dos países atuais, parecia ter colocado um ponto final nas disputas por posse direta de territórios.
De fato, um dos princípios fundadores da ONU, a organização internacional que sancionou a nova ordem global como saldo da Segunda Guerra Mundial, era o respeito à integridade territorial de todas as nações, mesmo em caso de conflito armado. As únicas exceções passaram a ser os resquícios coloniais, como Gibraltar, Malvinas e mais alguns poucos casos.
Eis aqui a novidade com Trump: ele volta a colocar sobre a mesa a possibilidade de gerar uma nova partilha de territórios, desta vez, evidentemente, em benefício dos EUA. Nem é preciso dizer que se trata de uma utopia reacionária: a hegemonia dos EUA está em decadência e cada vez mais questionada, e, salvo comoção global gigantesca, não há como o lema “Make America Great Again” significa incorporações territoriais significativas.
Ainda assim, e mesmo sem se atrever (ainda) a questionar diretamente a soberania territorial em geral, Trump mira astutamente certas “zonas cinzentas”, ou espaços onde essa soberania é menos clara, menos indiscutível, ou onde se trata de países muito menores. É o caso do Canal do Panamá, da Groenlândia e agora, o cúmulo dos cúmulos, a absurda pretensão de transformar Gaza em uma espécie de protetorado ianque.[2]
A ideia a reter aqui é que, longe de se tratar apenas dos caprichos de Trump, que viriam com ele e com ele iriam embora, ou mesmo de uma política estratégica exclusivamente do imperialismo norte-americano, estamos diante de uma tendência global da atual fase do capitalismo imperialista — e, como tal, diferente dos “consensos geopolíticos” que caracterizaram todo o período desde o pós-guerra até hoje.
Todas as potências que acreditam poder começar a questionar soberanias, fronteiras e territórios alheios em benefício de sua própria expansão estão tentando fazê-lo. É verdade que no período anterior essas situações também existiam, mas a grande diferença é que geralmente se tratava de atores localizados, com pretensões específicas, que tinham de ser “chamados à ordem” pelas grandes potências, lideradas pelos EUA, para lembrar-lhes o princípio da inviolabilidade territorial. Isso foi o que ocorreu ao longo de todo o pós-guerra e até depois do fim da Guerra Fria — da Guerra do Golfo contra Saddam Hussein “por invadir o Kuwait” até a intervenção norte-americana contra a Sérvia, após a dissolução da Iugoslávia. Nem é preciso dizer que os EUA se consideravam exceção a essas normas que os outros países deviam cumprir.
O principal conflito bélico atual é a guerra na Ucrânia, desencadeada pela Rússia em razão de suas pretensões sobre a Crimeia ou sobre os oblasts russófonos da Ucrânia, ocupados manu militari por Putin simplesmente porque podia fazê-lo sem ter, até agora, grandes consequências. Mas isso não é tão diferente do caso de Israel, que fala de maneira cada vez mais escancarada de um “Grande Israel”, que englobaria não apenas Gaza e a Cisjordânia, mas também o Líbano, a Jordânia, a península do Sinai e partes da Síria e do Iraque — invocando uma mitológica geográfica política do Antigo Testamento.
Sua superioridade militar, somada ao guarda-chuva protetor dos EUA, é tão esmagadora em relação aos vizinhos que o único cálculo real a ser feito é o custo político internacional de dar esse passo. Por outro lado, a relação da China com Hong Kong e Taiwan é muito diferente e extremamente complexa — especialmente no caso da ilha. Ao contrário dos EUA, da Rússia ou de Israel, a China pode argumentar com a carta da “reunificação nacional”. No entanto, o gigante asiático também avalia essa possibilidade com base em suas capacidades militares e nos custos políticos, não com base em “valores consensuais” a serem respeitados — algo que se torna especialmente evidente em relação às suas reivindicações no Mar do Sul da China.
As tentativas de projeção militar internacional por parte de aspirantes a potências como a Turquia ou os Emirados Árabes mostram que, se esta corrida por influência e por territórios “vulneráveis” não tem mais concorrentes, não é por falta de vontade, mas porque outros pretendentes europeus e asiáticos ainda não estão à altura.[3] Os primeiros (europeus), porque ficaram eclipsados por muito tempo pelo poder e hegemonia dos EUA na OTAN. Além disso, precisam lidar com seus próprios problemas de construção de um projeto continental, e até com restrições orçamentárias em defesa. Os segundos (asiáticos), com exceção da China e talvez do Irã (embora atualmente em baixa, após os golpes sofridos por seus aliados e grupos armados ligados), também estiveram tempo demais sob o guarda-chuva militar dos EUA para poder aspirar a grandes ambições (casos de Japão e Coreia do Sul) ou ainda enfrentam pesadas hipotecas sociais e de desenvolvimento econômico a superar (como Índia, Paquistão, Indonésia).
Em resumo, a ordem imperialista anterior está sendo questionada e encontra-se em estado de fluxo; todos os atores percebem isso, e ninguém quer ser o último a se preparar para o que sem dúvida virá: uma reconfiguração dessa ordem ou a constituição de uma nova, cujos termos serão definidos não pela adesão a valores ocidentais, mas pela força bruta. Trump só se diferencia dos demais por reconhecer esse fato de forma mais escancarada e brutal.
A nostalgia por essa ordem perdida e o medo e a incerteza sobre a que pode surgir são palpáveis nesta definição angustiada: “O segundo mandato de Trump não será apenas mais disruptivo que o primeiro; também substituirá uma visão de política externa que tem sido dominante nos EUA desde a Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, os líderes dos EUA sustentaram que seu poder vinha acompanhado da responsabilidade de ser o defensor incondicional de um mundo mais estável e benigno, graças à democracia, ao respeito pelas fronteiras e aos valores universais. Trump jogará esses valores no lixo e se concentrará em construir e usar o poder. (…) Trump propõe uma ruptura com as últimas décadas por meio de métodos heterodoxos, pela acumulação e uso oportunista de influência, e por sua crença de que apenas o poder garante a paz. (…) [Mas] quando o uso do poder não está vinculado a valores, o resultado pode ser o caos em escala global. (…) Trump não está acostumado a separar seus próprios interesses dos de seu país, especialmente quando está em jogo seu dinheiro e o de seus parceiros, como acontecerá com o de Elon Musk na China. Ao se afastar dos valores que construíram os EUA do pós-guerra, Trump estará abandonando o ponto mais forte que seus adversários não têm.” (“The Trump doctrine”, The Economist nº 9431, 18-1-25)
A definição da The Economist de que o mundo está “em seu momento mais perigoso desde a Guerra Fria” não é uma hipótese analítica, mas sim a constatação de um fato. Consolida-se uma brecha crescente entre, por um lado, os desafios de um mundo menos controlado, mais anárquico e menos sujeito a regras, e, por outro, a incapacidade crescente — e no caso de Trump, até a falta de interesse — dos EUA em fazer respeitar os critérios de organização política e econômica do mundo pós-1989.
Um dos sintomas mais alarmantes disso é o fim da “desescalada nuclear” que ocorreu logo após o fim da Guerra Fria. Entre 1986 e 2023, o número de ogivas nucleares no mundo caiu de 70.000 para 12.000. Longe do sonho de Barack Obama, em 2009, de “um mundo sem armas nucleares”, essa espiral descendente chegou ao fim: no futuro próximo haverá mais ogivas nucleares — e, sobretudo, muito menos controle e consenso sobre como lidar com o aspecto mais delicado do arsenal global. O tratado de contenção nuclear mais importante ainda em vigor, o START, expira em 2026. A Rússia já suspendeu sua participação, e nada indica que Trump esteja interessado em convencer Putin a retomar as negociações.Como resume um alto oficial do Pentágono, Vipin Narang: “Há uma mistura sem precedentes de atores nucleares que não estão interessados no controle de armas ou na redução de riscos; todos estão ampliando e modernizando rapidamente seus arsenais nucleares. (…) O quarto de século de ‘trégua nuclear’ chegou ao fim.” (“On the eve of escalation”, The Economist nº 9410, 17-8-24)
China aumenta seu arsenal; Irã busca obtê-lo; Coreia do Sul e Japão têm profundas dúvidas sobre a disposição de Trump em manter de forma eficaz o guarda-chuva nuclear dos EUA,[4] o que poderia levá-los à ambição de ter sua própria capacidade nuclear (em contraste com décadas anteriores, hoje 70% dos sul-coreanos veem com bons olhos que seu país possua armas nucleares). Nos EUA, não está claro quanto consenso bipartidário existe para negociar o quê, e até que ponto.
Acontece que toda a estrutura institucional construída desde 1945 está ruindo por todos os lados. Começando pela crescente irrelevância da própria ONU, que Trump despreza abertamente, o que levou a uma paralisia até mesmo de seu órgão mais executivo, o Conselho de Segurança. Mas algo semelhante acontece com a Corte Internacional de Justiça, cujas decisões deixam de ser vistas como dotadas de autoridade global e são questionadas pelos EUA, como ocorreu com as condenações a dirigentes israelenses. Ninguém mais acredita na sagrada “separação de poderes”; as tentativas de intervenção e manipulação na composição da Corte e em suas decisões são das mais grosseiras. A Convenção sobre Refugiados, assinada em Genebra em 1951 e que garantia asilo a quem fugisse de guerras ou perseguição política ou religiosa, é hoje flagrantemente violada por seus próprios signatários. A Organização Mundial do Comércio, herdeira de décadas de tentativas de criar entidades globais de livre comércio (como o GATT e a Rodada Uruguai), navega atualmente na irrelevância; seus protagonistas mais entusiastas, a União Europeia e a China, se ameaçam mutuamente com barreiras e sanções comerciais.
O isolacionismo, a falta de regras claras, o oportunismo e a degradação das alianças estratégicas ao nível tático, que parecem marcar a política externa de Trump, ocorrem em um mundo onde os conflitos e operações se intensificaram, e onde predomina mais a dinâmica local ou regional do que uma estrutura de contenção global liderada pelos EUA. Esses conflitos ameaçam se converter em “terras de ninguém”, sem regras nem limites claros, onde apenas prevalece a força bruta. É o que ocorre não só na Ucrânia ou no Oriente Médio, mas também no Sudão, na Somália, no Afeganistão, no Líbano, no Sahel africano, em Mianmar, na República Democrática do Congo e em outros pontos do globo onde a hegemonia dos EUA não é completamente respeitada nem completamente superada.
É um péssimo momento histórico para que os EUA sejam liderados por uma figura cujos critérios de política externa são tudo, menos consistentes, orgânicos e sustentados por consensos sólidos, tanto internamente quanto com seus aliados tradicionais do Ocidente capitalista. A capacidade dissuasiva dos EUA para manter uma ordem internacional em crise se apoia hoje menos do que nunca em uma superioridade militar que já não é tão indiscutível, seja em armamentos nucleares, convencionais ou mesmo na superioridade tecnológica, que há tempos enfrenta um desafio real vindo da China. O talento de Trump para pressionar e negociar a partir de uma posição de força é um substituto muito pobre e insuficiente para essas capacidades.
Maior confrontação com a China… e também com os aliados?
A competição estratégica, ou nova Guerra Fria entre os EUA e a China, acontece em todas as frentes, desde a produção industrial até a influência cultural, ou o chamado “poder brando”. No entanto, ambos os lados reconhecem que o centro da disputa está em duas corridas: a tecnológica (inteligência artificial, semicondutores, robótica, computação quântica, carros elétricos) e a militar (armas nucleares e convencionais, tecnologia satelital, drones de guerra).
Um relatório bipartidário do Congresso dos EUA, publicado em julho passado, alerta que “as ameaças que os EUA enfrentam são as mais sérias e intimidantes desde 1945, e incluem o potencial de uma guerra importante no curto prazo”. Os EUA poderiam ter que enfrentar vários conflitos regionais ao mesmo tempo, que poderiam convergir em um conflito global, mas o país, acrescenta o relatório, não está preparado para esse cenário. Por isso, o documento recomenda que o gasto militar salte dos atuais 3% do PIB para níveis da Guerra Fria, ou seja, algo em torno de 5% do PIB ou mais.
Por sua vez, o presidente da Microsoft, Brad Smith, é categórico: “A verdadeira chave da liderança dos EUA, numa perspectiva de longo prazo, é espalhar a tecnologia americana pelo mundo antes que a China o faça”. Para ilustrar a convergência entre democratas e republicanos, a Lei CHIPS, aprovada por Biden — que, em nome da segurança nacional e da disputa estratégica com a China no setor de semicondutores, concede cerca de 40 bilhões de dólares anuais em subsídios às gigantes locais da indústria — provavelmente não será alterada. Embora Trump tenha criticado a lei, alegando que seria mais fácil impor tarifas aos semicondutores importados, o fato de que muitas das empresas beneficiadas estão localizadas em estados republicanos deve ser suficiente para manter e renovar essa legislação. A urgência da corrida tecnológica com a China está acima dos caprichos de Trump.
Acontece que, se há algo que unifica toda a classe capitalista dos EUA, é o apoio à confrontação estratégica com a China — tema no qual a divisão entre democratas e republicanos se dissolve até desaparecer. O colunista especializado em EUA da The Economist — insuspeito de simpatias republicanas, já que é irmão de um senador democrata — reconhece que “Biden levou adiante prioridades que Trump compartilha e frequentemente foi o primeiro a anunciar (…). Em relação ao comércio, política industrial, energia, relações exteriores e até mesmo ao Estado de Direito, o governo Biden pode ser visto menos como uma ruptura radical com Trump e mais como uma versão light do MAGA [Make America Great Again, lema de Trump]” (“How Joe Biden wound up serving Donald Trump”, TE 9431, 18-1-25).
Nesse sentido, as incrivelmente grosseiras, desinformadas e rufiãs declarações de Trump sobre a Groenlândia, o Canal do Panamá, o Canadá e o “Golfo dos EUA” não devem enganar. Não se trata apenas de seu estilo pessoal de negociação, mas sim da expressão brutal de uma guinada estratégica do imperialismo norte-americano como um todo. Outros podem tentar com modos mais educados, mas o sentido será o mesmo: os EUA estão dispostos a sacrificar o “discurso hegemônico” em prol de impor seus objetivos — se necessário, recorrendo à força bruta. O porrete se torna muito mais contundente, enquanto a cenoura quase desaparece: “Trump não está prestes a invadir seus vizinhos. Mas também é improvável que priorize a construção de relações confiáveis com eles. A nova doutrina é a de exigir submissão” (“The influence games”, TE 9431, 18-1-25).
Claro que não faltam falcões anti-China na atual administração; por isso, não surpreende que alguns venham do Vale do Silício, como David Sacks, o recém-nomeado encarregado por Trump para IA e criptomoedas. Para Sacks, qualquer custo envolvido em torcer o braço da China é geopolíticamente justificável. No campo da inteligência artificial, ele não está sozinho: Jacob Helberg, subsecretário de Crescimento Econômico e ex-assessor da Palantir — empresa tecnológica com foco militar fundada pelo megalomaníaco e simpatizante do nazismo, Peter Thiel — tem como prioridade número um vencer a corrida de IA contra a China.
A questão delicada é: como fazer isso? Desregulando e subsidiando ferozmente as empresas norte-americanas ao mesmo tempo em que se boicota as chinesas? Fazer mais o primeiro ou o segundo? O problema é que continuar com a abordagem de Biden — por exemplo, limitar o acesso de tecnologia avançada a países terceiros por medo de triangulação com a China — pode acabar empurrando esses mesmos países, sedentos por tecnologia, diretamente para os braços do gigante asiático.
Sem falar do balanço do boicote tecnológico à China: serviu de algo, ou foi contraproducente, ao impulsionar a estratégia de autossuficiência tecnológica defendida por Xi Jinping? Em todo caso, o certo é que o boicote já não se limita aos EUA, que conseguiram convencer seus aliados europeus a aderir: a Comissão Europeia aprovou um plano para revisar projetos de investimento estrangeiro em três áreas — semicondutores, IA e computação quântica. Embora nenhum país seja citado diretamente, todos sabem que o alvo dessa barreira regulatória é a China.
Curiosamente, um dos conflitos mais quentes entre EUA e China sob Biden — a presença do aplicativo chinês TikTok nos EUA e a ordem judicial para que mude de proprietário ou deixe de operar — foi interrompido por ninguém menos que Trump, que se encarregou pessoalmente de fazer com que a “justiça independente” anulasse, em menos de 12 horas, a suspensão do funcionamento da rede social no país, que havia começado em 19 de janeiro, dois dias antes de Trump assumir. Poucos lembram que Trump havia defendido o TikTok contra a Meta, com cujo dono, Mark Zuckerberg, estava em conflito.[5] A questão ficou em suspenso por algumas semanas; a expectativa de Trump é que o novo dono seja seu aliado Elon Musk ou, em todo caso, Larry Ellison, da Oracle. A forma como esse caso será resolvido dirá muito sobre a versatilidade tática de Trump (ou a falta dela) para enfrentar a China sem entrar em choque com seus aliados.
O que talvez nem o preocupe muito. Para Trump, como não há valores nem princípios, o preceito que guia é “might is right” — quem tem a força, tem razão. Para a saúde da ordem mundial, quase tão preocupante quanto o abandono dos “valores ocidentais” a que nos referimos anteriormente é o critério cínico e transacional das relações internacionais do qual Trump sempre se orgulhou.[6]
Um bom resumo dessa abordagem foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio, ao contar à Fox News o diálogo que teve com colegas de países aliados: “Vocês [os aliados dos EUA, tratados com total desprezo e desconfiança!] se acostumaram com uma política externa na qual defendem o interesse nacional de seus países, enquanto nós atuamos em nome do mundo ou da ordem global. Mas agora somos liderados por uma pessoa diferente”. Deixemos de lado a ideia risível da “filantropia” dos EUA frente ao egoísmo dos demais membros do G-7; o que importa aqui é a ameaça quase explícita: “Agora vamos ser mais egoístas que vocês. Se quiserem segurança, paguem por ela”. Esse foi o mesmo recado recebido, por exemplo, pela Coreia do Sul.
Parte dessa orientação utilitarista e de visão estreita é o desprezo olímpico de Trump por um aspecto importante do papel hegemônico global dos EUA: o de ser o principal doador mundial (40% do total) de ajuda externa a países em dificuldades, seja por catástrofes humanitárias, desastres naturais ou miséria extrema. Esse papel de bom samaritano fazia parte do chamado “poder brando” e da construção da imagem dos EUA como guardião e benfeitor do mundo. Como era de se esperar, Trump não tem a menor sensibilidade para o que considera uma filantropia “woke” e ordenou um corte drástico em programas que iam desde a remoção de minas terrestres até assistência a pessoas com HIV, passando por apoio a campos que abrigam militantes capturados do Estado Islâmico. O escândalo causado pela forma sumária com que a ordem foi dada obrigou a um certo recuo, mas a vontade política de Trump é clara: se o resto do mundo quiser ajuda dos “bons rapazes” dos EUA, que pague por ela. Fica evidente que Trump encara as relações exteriores com uma mentalidade de comerciante de bairro — ou de corretor de imóveis, que de fato é —: obter o máximo de lucro cedendo o mínimo possível.
E nesse cálculo, a política e as alianças estratégicas contam pouco: o dinheiro — ou, no caso da política tarifária, o saldo da balança comercial e talvez o de empregos — tem prioridade sobre qualquer outra consideração. Daí que Trump ameace impor tarifas ainda maiores a aliados próximos como Canadá e México do que à própria China, o que, como lógica econômica, é bastante duvidoso, e como lógica geopolítica, um disparate total.
Algo parecido ocorre com a OTAN: uma coisa é exigir que os parceiros da aliança gastem mais com defesa; outra bem diferente é ameaçar se retirar da organização (o que equivaleria à sua dissolução). O mesmo vale para os ultimatos ao Japão e, especialmente, à Coreia do Sul, invocando, neste último caso, a quase absurda reivindicação de que paguem pelo custo de manutenção da guarnição militar dos EUA naquele país — como se esses poucos dólares estivessem à altura da importância estratégica da Coreia do Sul na região, vizinha de um regime hostil e com capacidade nuclear!
Scott Bessent, secretário do Tesouro, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick — ambos da ala “sensata” dos republicanos (isto é, não são fanáticos MAGA) — costumam repetir que a ameaça tarifária serve para negociar. O que não é totalmente falso, exceto pelo fato de que nem eles nem o próprio Trump podem garantir que se trate apenas de uma ferramenta de negociação, e não também de uma tática a ser implementada ou até de uma estratégia comercial e política. No entanto, tudo indica que Trump acredita sinceramente nas tarifas não apenas como alavanca de negociação, mas como ferramenta de arrecadação fiscal e de relocalização industrial nos EUA, algo que os próprios economistas veem com ceticismo.
Do mesmo modo que em outros temas, e como demonstraram as desconcertantes idas e vindas com Petro, Trudeau e Sheinbaum, Trump não tem nenhum problema em negar hoje o que afirmou ontem, desde que isso o aproxime de seus objetivos. Por isso, muitos analistas apontam algo que é pura verdade: a única constante na política de Trump, tanto interna quanto, sobretudo, externa, é a imprevisibilidade (os alemães já o chamam de Wundertüte Trump, ou “Trump caixa de surpresas”). Trump em ação é um empirismo brutal, tosco e contínuo, cuja única bússola relativamente confiável é: o resultado alimenta ou não sua megalomania?
Parte dessa certeza sobre a incerteza vem do fato de que os grupos de funcionários e assessores do presidente dos EUA estão longe, neste segundo mandato, de ter a coerência e homogeneidade que se esperaria da maior potência mundial — algo que não era tão marcado no primeiro mandato.[7] Avaliado o quanto Trump realmente conseguirá fazer tudo o que promete — e desconsiderando metas mutuamente incompatíveis —, um editorial da The Economist conclui que, felizmente, as chances não são tão altas. Ainda assim: “Que Trump talvez não consiga realizar suas ambições mais extremas deveria trazer algum alívio à ansiedade do resto do mundo. Mas provavelmente ele conseguirá avançar mais em seu segundo mandato do que no primeiro. Desta vez, está mais preparado para governar, com uma equipe maior de leais e um plano de ação mais detalhado. Vai ser uma viagem turbulenta, para os EUA e para o mundo. Apertem os cintos” (“Taxes down, walls up”, TE 9422, 9-11-24).O critério que orienta as nomeações não é a coerência ideológica ou conceitual — nunca foi o forte de Trump —, mas sim a lealdade incondicional ao líder.
Passando à esfera econômica e ao impacto das tarifas, ainda que falte saber exatamente de quanto serão, a quem se aplicam, sobre o quê e por quanto tempo (tudo isso estará sujeito a negociações — ou chantagens), se forem implementadas como propõe Trump, vários dos mais prejudicados estarão dentro dos próprios EUA. Segundo o Citigroup, as tarifas aumentariam o preço do aço para a indústria americana entre 15% e 20%. A General Motors, que importa metade das picapes que vende nos EUA do México e do Canadá, pode ver até 80% de seu lucro desaparecer; a Stellantis e a Ford, as outras duas grandes de Detroit, ficariam em situação semelhante, segundo o Barclays.
Diante desse cenário, as empresas têm pouco o que fazer. Aumentar estoques é só um alívio temporário e, quanto à reorganização das cadeias de suprimentos, isso não é nem fácil nem rápido. Por exemplo, desde 2018, a China reduziu sua participação nas importações dos EUA de bens manufaturados de 24% para 15%. O substituto foi o sudeste asiático (que passou de 13% para 18%) e o México (de 14% para 16%). Mas isso levou mais de cinco anos. E, além disso, esses mesmos países podem ser atingidos pelas tarifas de Trump, que, como vimos, miram não apenas a China, mas qualquer país — aliado ou inimigo — que tenha superávit comercial com os EUA.
Um elemento não exatamente novo, mas que ganha maior relevância com a eleição de Trump, é a consolidação de um cenário de incerteza nuclear, diante da contínua erosão dos acordos de controle e dissuasão mútua que os EUA e a Rússia mantêm desde 1945. A China já entra como terceiro ator nuclear, ainda bem atrás de EUA e Rússia, mas já se distanciando claramente dos principais aliados dos EUA, como o Reino Unido e a França.
Por fim, outro fator de instabilidade é o próprio Trump, adepto da teoria de que a loucura pode ser uma aliada na diplomacia internacional. Quando o Wall Street Journal lhe perguntou se ameaçaria usar a força caso Xi Jinping decidisse invadir Taiwan, a resposta de Trump foi: “Não seria necessário, porque ele me respeita e sabe que eu sou um louco do caralho” (he knows I’m fucking crazy). Naturalmente, essa tática tem dois gumes: se os inimigos potenciais dos EUA realmente acreditarem que ele é capaz de qualquer coisa, isso pode ter um efeito real de dissuasão. Mas, se prevalecerem os sinais de que tudo não passa de bravata e de que os EUA podem abandonar seus aliados, isso acelerará a desintegração da ordem geopolítica, não apenas da ordem do pós-Guerra Fria, mas da própria ordem que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial.[8]
[1] Para dar ainda mais simbolismo, Denali era o nome dado pela população indígena local; já em 1975 o estado do Alasca havia solicitado a mudança de nome. Assim, com essa alteração, Trump acertou três alvos de uma só vez: homenageou um presidente expansionista, revogou uma medida de Obama e zombou da ideia de respeitar a identidade e a cultura dos povos originários.
[2] Trump também não esquece o aspecto simbólico da “expansão territorial”; daí a ideia ridícula – embora não exatamente estúpida – de renomear o Golfo do México como “Gulf of America” (Golfo dos EUA, obviamente, e não do continente americano, que em inglês é chamado de The Americas).
[3] Até países ultraperiféricos, como Ruanda, tentam se aproveitar de uma infraestrutura militar vantajosa para aventuras de expansão territorial, nesse caso rumo a uma suposta “Grande Ruanda” (!) às custas de uma província da República Democrática do Congo. Trataremos disso em mais detalhes na seção dedicada à África.
[4] Vejamos uma forma brutal, mas realista, de expor o problema:
“Para qualquer presidente dos EUA, surge a pergunta: ele sacrificaria Los Angeles para vingar Seul? E seus inimigos acreditam que ele o faria?”
(“The new nuclear threat”, The Economist 9410, 17-8-24)
[5] São conhecidas as más relações de Trump com muitos dos gurus do Vale do Silício, desde Jeff Bezos (dono do Washington Post) até Zuckerberg. Quando Biden ameaçou banir o TikTok – rede na qual Trump tem 15 milhões de seguidores –, ele reagiu dizendo: “Se acabarem com o TikTok, o Facebook e o Zuckertonto [Zuckerschmuck, um neologismo na verdade bem mais ofensivo] vão dobrar seus negócios.”
Como negócios são negócios, Zuckerberg então anunciou a eliminação dos controles de conteúdo em prol da “autorregulação” (imitando Musk no Twitter), foi convidado de honra na posse de Trump junto com Bezos e Musk… e assunto encerrado.
[6] Alguns apelidam isso, generosamente, de “transacionalismo estratégico”, expressão que também caberia ao injustamente chamado “quarteto do caos” (China, Rússia, Irã e Coreia do Norte – como se Trump não fosse um agente ainda mais ativo na semeadura do caos nas relações internacionais…).
[7] A The Economist relata que, durante o primeiro mandato de Trump, James Mattis, então secretário de Defesa, dormia de roupa de ginástica com medo de que Trump ordenasse um ataque nuclear à Coreia do Norte no meio da madrugada. Isso porque, naquele período, seus sucessivos secretários de Defesa atuavam como freios aos impulsos de Trump.
Já em sua audiência no Senado (que avaliava sua indicação ao cargo de secretário de Defesa), Pete Hegseth reiteradamente se recusou a dizer se obedeceria a uma ordem para atirar nas pernas de manifestantes, como sugerido por Trump. (“How hard is it to run the Pentagon?”, TE 9431, 18-1-25)
[8] Para não falar da aparentemente disparatada – mas com Trump não se pode descartar nada – ideia de que “se acumulam os sinais de que Donald Trump está tentado a fechar um ‘grande e lindo acordo’ [típica expressão de Trump. MY] com a China de Xi Jinping. (…) Um arranjo entre as duas grandes potências que Xi estaria em condições de aceitar – talvez um que atrele compensações econômicas a uma divisão do mundo em esferas de influência – seguramente escandalizaria os segundos de Trump, desde o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, até o secretário de Estado, Marco Rubio. E, no entanto, Trump não para de emitir sinais de que está em modo de negociação” (“A big, beautiful Trump deal with China?”, TE 9433, 1-2-25). Esse mega acordo incluiria, por exemplo, que os EUA se opusessem explicitamente à independência de Taiwan (hoje a posição oficial é de “não apoio”), em troca de que a China colaborasse em uma solução para a guerra na Ucrânia (o que implicaria, de certa forma, soltar a mão da Rússia), além de fazer vista grossa para temas como o Canal do Panamá ou a Groenlândia, além de redirecionar exportações que hoje vão para os EUA e aumentam seu déficit comercial. Parece algo mirabolante, mas quem está seriamente em condições de afirmar que Trump nunca faria isso? Certamente, o apego aos “princípios ocidentais” não seria nenhum obstáculo…

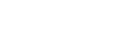












[…] Trump 2.0 e as mudanças no imperialismo ianque (e global) por Marcelo Yunes e tradução de Martin Camacho […]